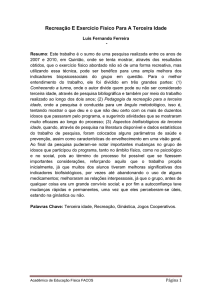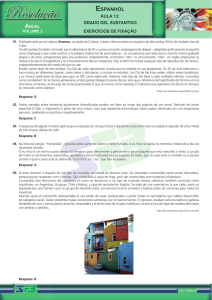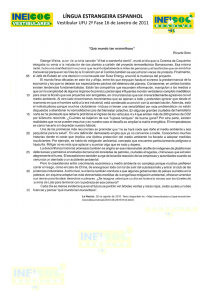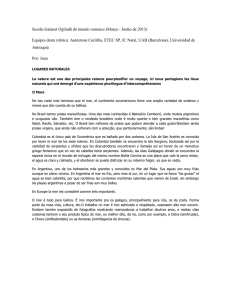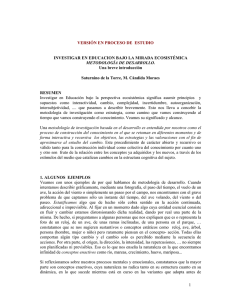Agulha - Revista de Cultura
Anuncio

revista de cultura # 39 - fortaleza, são paulo - junho de 2004 Editorial Identidade cultural: se não se espalha não se espelha A idéia de uma “Identidade Brasil” é algo que já nos persegue há muito. Por mais que vá sendo ultrapassada ou aparentemente vencida está sempre a ressurgir. Estamos sempre a dois passos de um novo acesso de xenofobia. Mário de Andrade falava em polifonismo e simultaneidade, e pode-se mesmo dizer que aí se encontraria a grande raiz de toda a cultura brasileira, nesta cascata de vozes inúmeras que se entrecruzam não para formar um novo núcleo mas sim para seguir criando multiplicidades de perspectivas artísticas e culturais. Conceitos como “Identidade Brasil” ou “Povo verdadeiro”, mais do que simplesmente regressivos, são excludentes, endogâmicos, restritivos. E há nuanças as mais escorregadias, como a negação do passado ou uma afirmação do insular como condição propícia para se proteger uma cultura. Há exemplos de ambas tanto no manifesto do Concretismo quanto na apologia de uma cultura popular do Nordeste do Brasil levada a termo por um ideal positivista. O assunto é delicado, por mais que recorrente, e ainda conduz a enganos como a crença na necessidade de se produzir mais conteúdo nacional (nos meios artísticos e jornalísticos, por exemplo) como fator condicionante de um fortalecimento cultural. Adicionar elementos, sim, mas não limitá-los a uma feição única. Não permutar xenofilia por xenofobia. Não adianta, por exemplo, discutir que 80% dos filmes que entram no Brasil são importados considerando este percentual como uma necessidade apenas quantitativa de fazer circular mais cinema nacional entre os brasileiros. A rigor não temos uma tradição cinematográfica tão rica quanto nosso carente prosaísmo ufanista decanta. Todo o recurso destinado pelo Estado à produção de cinema – que é demasiado e em completo desequilíbrio com as demais áreas de criação artística – deveria ser reavaliado e em grande parte deslocado para cursos de formação de roteiristas. Em meio a essa discussão em torno do que seja genuinamente brasileiro, o Ministro da Cultura observou que, “se cruzarmos os braços poderemos ter nossa cara cultural ameaçada”. Mas é preciso que o Ministro esclareça que a ameaça não vem de fora e sim de dentro. Como não temos ações que despertem nossa sensibilidade – e não se trata aqui de apologia do folclore em seu sentido mais cristalizado -, estamos sempre às voltas com as reações, não chegando sequer a estabelecer uma cultura do protesto mas sim uma paisagem dispersa de atônitos personagens que perceberam demasiado tarde que havia algo em questão. Uma visita ao site do Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão, nos leva a essa retomada de uma “Identidade Brasil”. Uma declaração do diretor Guel Arraes cabe aqui com justeza à nossa observação. Diz ele que “temos no Brasil uma situação privilegiada, com todo o horário nobre ocupado com produção brasileira”, logo concluindo que “o povo brasileiro ama a televisão brasileira”. O que seria então uma televisão brasileira, considerando a existência de outras empresas televisivas – com programação de alguma maneira distinta – e a clonagem de modelos da televisão estadunidense em grande parte dessa programação? Pensando ainda no já referido conteúdo nacional, em termos de argumento ele já foi melhor resolvido em produções de outras décadas, tendo hoje se convertido em didatismo exemplar, com um sentido moral quando menos questionável, sobretudo considerando seu poder de intromissão nos destinos do público, o povo brasileiro. A cultura de massas é uma arte da indução e não do esclarecimento. No entanto, no afã de uma recaída nacionalista nos pegamos com todos os detalhes quantitativos e à mão, esquecendo (sempre) a qualidade e o submerso. Diz o ator José Wilker que “os franceses são de um rigor, de uma exigência e de um deleite, um prazer com a cultural nacional deles”. Há pelo menos duas maneiras de deleitar-se com a cultura de cada país: expandindo-a ou enclausurando-a. Pensando em termos de música encontramos exemplos em Hermeto Pascoal e Antonio Carlos Nóbrega, frisando o respectivamente. A rigor, esse deleite – como qualquer outro - não pode ser usufruído se não se difunde. Se não se espalha não se espelha. E a grande infusão realizada por nossos meios de comunicação (termo que hoje é de um eufemismo extremo) diz respeito a uma digestão mais fácil, o que acaba contribuindo intencionalmente para manter em índices os mais ínfimos a sensibilidade brasileira. Trata-se, a rigor – o rigor a que se refere José Wilker com relação à cultura francesa, mas que se faz de desentendido quando o assunto é Brasil – de uma manipulação da sensibilidade, onde não somos levados a experimentar mas antes nos tornamos experimentos, espécie de cobaias de um deus solúvel. O assunto de que trata este editorial está plenamente compreendido por todos aqueles nomes aqui referidos. O que mais nos inquieta é a complacência de todos em relação ao tema. Será esta a verdadeira “Identidade Brasil”, a benevolência, a comprazia? O Ministro da Cultura tem lá a sua razão: se cruzarmos os braços o mundo se desfaz. Mas que mundo estamos querendo impedir que se desfaça? Os elementos que já aportamos aqui parecem ser suficientes para o convite a uma discussão. Agulha gostaria de ouvir seus leitores, invocando a multiplicidade de vozes para tratar de um assunto que não requer senão outra compreensão: a da multiplicidade. Os editores Sumário 1 a propósito de surrealismo e dos manifestos de andré breton: algumas comparações. claudio willer 2 andrei tarkovski: através de uma fina película transparente. vicente franz cecim 3 4 caminhos do rock. pablo laignier diálogo com manuel gusmão (entrevista). floriano martins 5 eis dois cachimbos: roteiro para uma leitura foucaultiana de jorge lucio de campos 6 rené magritte. gerald thomas: "não quero e não posso aparecer no brasil tão cedo" (entrevista). antonio júnior 7 gilce velasco: a mulher e os jogos. daisy peccinini 8 israel pedrosa: poéticas da cor nascente. mirian de carvalho 9 los sueños sanguíneos de josé ángel leyva irene arias. 10 louise bourgeois: el tránsito de la memoria. miguel ángel muñoz 11 manuel bandeira y la lengua veraz del pueblo. rodolfo alonso 12 murilo mendes y joão cabral de melo neto: dos hispanistas brasileños. márcio catunda 13 o desejo do silêncio: r. roldánroldán (entrevista). joão batista nunes 14 o sentido do espaço. em que sentido, em que sentido? fernando freitas fuão 15 poiesis: diálogo com rodrigo petronio (entrevista). wanderson lima artista convidado carlos m. luis (vária) texto de lorenzo garcía vega resenhas livros da agulha azougue 10 anos (por sérgio cohn, rosa alice branco (por claudio willer), aloysius bertrand (por adelto gonçalves), miguel motta (por héctor rosales), ignácio de loyola brandão, ana marques gastão (por fabrício carpinejar) & roberto romano cumplicidade galeria de revistas (artigos & entrevistas) [5 novas revistas nesta edição: arquitrave (colombia), fronteras salamandra (espanha), tropel de luces (venezuela)] (costa rica), catálogo triplov.com.agulha.editores Expediente editores floriano martins & claudio willer projeto gráfico & logomarca floriano martins jornalista responsável soares feitosa jornalista - drt/ce, reg nº 364, 15.05.1964 correspondentes alfonso peña (costa rica) américo ferrari (peru) benjamin valdivia (méxico) bernardo reyes (chile) carlos m. luis (uruguai) carlos véjar (méxico) eduardo mosches (méxico) edwin madrid (equador) francisco morales santos (guatemala) harold alvarado tenorio (colômbia) jorge ariel madrazo (argentina) jorge enrique gonzález pacheco (cuba) josé luis vega (porto rico) marcos reyes dávila (porto rico) maría antonieta flores (venezuela) maria estela guedes (portugal) mónica saldías (suécia) rodolfo häsler (espanha) saúl ibargoyen (méxico) sonia m. martín (estados unidos) artista plástico convidado (vária) carlos m. luis apoio cultural jornal de poesia banco de imagens acervo edições resto do mundo os artigos assinados não refletem necessariamente o pensamento da revista agulha não se responsabiliza pela devolução de material não solicitado todos os direitos reservados © edições resto do mundo escreva para a agulha floriano martins (florianomartins@rapix.com.br) claudio willer (cjwiller@uol.com.br) revista de cultura # 39 - fortaleza, são paulo - junho de 2004 A propósito de Surrealismo e dos manifestos de André Breton: algumas considerações Claudio Willer . As comparações a seguir são apresentadas como sugestão de que o leitor exercite sua imaginação e capacidade especulativa, que as aproximações o estimulem a preencher espaços, reconstituir uma argumentação e uma leitura mais rica do surrealismo. Acentuam sua universalidade, sem negar seu caráter de exceção. Complementam o que já publiquei aqui sobre surrealismo, e o que ainda virei a publicar. 1. A imaginação Imaginação querida, o que sobretudo amo em ti é não perdoares. (...) Só a imaginação me dá contas do que pode ser, e é bastante para suspender por um instante a interdição terrível; é bastante também que eu me entregue a ela, sem receio de me enganar (como se fosse possível enganar-se mais ainda). (Breton, primeiro Manifesto do Surrealismo, em Manifestos do Surrealismo, Editora Brasiliense, 1985, pgs. 3435) Que misteriosa faculdade é essa rainha das faculdades! (...) A imaginação é a rainha do verdadeiro, e o possível é uma das esferas do verdadeiro. Positivamente, ela é aparentada com o infinito. (...) ...todo o universo visível é apenas um lugar de imagens e de signos aos quais a imaginação deverá atribuir um lugar e um valor relativos; é uma espécie de alimento que a imaginação deve digerir e transformar. (Baudelaire, em Charles Baudelaire, Poesia e Prosa, organizada por Ivo Barroso, diversos tradutores, Editora Nova Aguilar, Rio de Janeiro, 1995, pgs. 804-809) Mas a inteligência e a vontade têm por auxiliar e por instrumento uma faculdade muito pouco conhecida e cuja onipotência pertence exclusivamente ao domínio da magia: quero falar da imaginação, que os cabalistas chamam o diáfano ou o translúcido. Efetivamente, a imaginação é como que o olho da alma, e é nela que as formas se desenham e se conservam, é por ela que vemos os reflexos do mundo invisível, ela é o espelho das visões e o aparelho da vida mágica: é por ela que curamos as doenças, que influímos sobre as estações, que afastamos a morte dos vivos e que ressuscitamos os mortos, porque é ela que exalta a vontade e que lhe dá domínio sobre o agente universal. (...) A imaginação é o instrumento da adaptação do verbo. A imaginação aplicada à razão é o gênio. (Éliphas Lévi, em Dogma e Ritual da Alta Magia, Editora Pensamento, São Paulo, 2002 pgs. 78-79) 2. A crítica ao realismo: ...a atitude realista, inspirada no positivismo, de São Tomás a Anatole France, parece-me hostil a todo impulso de liberação intelectual e moral. Tenho-lhe horror, por ser feita de mediocridade, ódio e insípida presunção. (Breton, primeiro Manifesto do Surrealismo, op. cit. pg. 36) Acho inútil e fastidioso representar aquilo que é, porque nada daquilo que existe me satisfaz. A natureza é feita, e prefiro os monstros da minha fantasia à trivialidade concreta. (Baudelaire, op. cit. pg. 803-804) O que me entedia na França é que todo mundo se parece com Voltaire (Baudelaire, Escritos íntimos, op. cit. pg. 535) Não recrimino o naturalismo nem por seus termos de barcaça, nem por seu vocabulário de latrinas e de hospícios... (...) Querer confinar-se aos lavadouros da carne, rejeitar o suprasensível, negar o sonho, nem mesmo compreender que a curiosidade da arte começa lá onde os sentidos deixam de servir! (Huysmans, J. K, Lá-bas, Plon, 1961, pg.5) 3. Sonho Acredito na resolução futura destes dois estados, tão contraditórios na aparência, o sonho e a realidade, numa espécie de realidade absoluta, de surrealidade, se assim se pode dizer. (Breton, primeiro Manifesto do Surrealismo, op.cit, pg. 45) O sonho é uma segunda vida. (...) Começa aqui para mim o que chamarei de efusão do sonho na vida real. (Nerval, Gérad de, Aurélia, tradução e prefácio de Luís Augusto Contador Borges, Iluminuras, São Paulo, 1991, pgs. 35 e 39) 4. Loucura Fica a loucura, “a loucura que é encarcerada”, como já se disse bem. (...) E, de fato, alucinações, ilusões, etc, são fonte de gozo nada desprezível. (Breton, primeiro Manifesto do Surrealismo, op.cit, pg. 53) O que são as coisas deslocadas! Não me acham louco na Alemanha. (...) ...a imaginação trazia-me delícias infinitas. Recobrando o que os homens chama de razão, não deveria eu lamentar tê-las perdido? (Nerval, op. cit, pgs. 28 e 35) 5. Escrita automática: Certa noite então, antes de adormecer, percebi, nitidamente articulada, a ponto de ser impossível mudar-lhe uma palavra (...), frase que me parecia insistente, frase, se posso ousar, que batia na vidraça. (Breton, primeiro Manifesto do Surrealismo, op.cit, pg. 53) ... acerquei-me de uma cômoda alta, e, tomando um papel, comecei a escrever, de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi trinta a tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida, e nunca poderei ter outro assim. Abri com um título – “O Guardador de Rebanhos”. (Pessoa, Fernando, Obra Poética, organização, introdução e notas de Maria Aliete Torres Galhoz, Editora José Aguilar, Rio de Janeiro, 1960, pg. 712). As hordas de palavras literalmente desenfreadas, às quais Dada e o surrealismo fizeram questão de abrir as portas, não são das que se retiram tão inutilmente. (Breton, Segundo Manifesto do Surrealismo, em Manifestos do Surrealismo, op. cit, pg. 127) SURREALISMO, s. m. (...) Ditado do pensamento na ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral. (Breton, primeiro Manifesto do Surrealismo, op.cit, pg. 58) Pois o eu é um outro. Se o cobre acorda o clarim, não é por sua culpa. Isto me é evidente: eu assisto à eclosão do meu pensamento; eu a contemplo; eu a escuto; eu lanço uma flecha: a sinfonia faz seu movimento no abismo, ou salta sobre a cena. (Rimbaud, na “Carta do Vidente”, na tradução de Carlos Lima em Rimbaud no Brasil, UERJ-Comunicarte, 1993) Eu é um outro. (Nerval, anotação em um retrato seu, reproduzido por Jean Richer, cf. Richer, Jean, Gérard de Nerval, col. Poètes d’aujourd’hui, Seghers, 1972) Acabo de passar um ano assustador: meu Pensamento se pensou. (Mallarmé, em carta a Cazalis, de 1867, cf. Oeuvres Complètes e várias outras fontes) 6. Intuição: ...o grande recurso de que (o homem) dispõe é a intuição poética. (...) Ela, enfim, libertada no surrealismo, apresenta-se não só como assimiladora de todas as formas conhecidas, mas ousadamente criadora de novas formas – ou seja, em posição de abranger todas as estruturas do mundo, manifestas ou não. Só ela nos provê o fio que remete ao caminho da Gnose, enquanto conhecimento da realidade suprasensível, “invisivelmente visível num eterno mistério”. (Breton, no parágrafo final do último dos Manifestos, Do Surrealismo em suas Obras Vivas, op. cit. pg. 231) Um poeta é um intuitivo, e faz versos por uma operação intuitiva. (...) No caminho ritual busca-se o desenvolvimento da intuição pela intuição mesma, ou, se preferir, pelo instinto (base da ação, da ação perfeita). No caminho místico (?) buscase a obtenção da intuição pela abdicação da personalidade. No caminho mercurial busca-se pelo desenvolvimento da inteligência, de que a intuição depois se alimente. (Fernando Pessoa, O grau de adepto menor, em Fernando Pessoa: O amor, a morte, a iniciação, de Y. K. Centeno, A Regra do Jogo Edições, Lisboa, 1985. Ortografia atualizada na citação) 7. Arte, valor: O maravilhoso não é o mesmo em todas as épocas; participa obscuramente de uma classe de revelação geral, de que só nos chega o detalhe: são as ruínas românticas, o manequim moderno ou qualquer outro símbolo próprio a comover a sensibilidade humana por algum tempo. (...) Coincidem com um eclipse do gosto que sou feito para suportar, eu que tenho do gosto a idéia de um grande defeito. No mau gosto de minha época, procuro ir mais longe que os outros. (Breton, primeiro Manifesto do Surrealismo, op.cit, pg. 47) ... (eu sustentava que o mundo acabaria, não por um belo livro, mas por uma bela propaganda do inferno e do céu) (Breton, idem, pg. 54) Admirava as pinturas medíocres, bandeiras de portas, cenários, telões de saltimbancos, letreiros, iluminuras populares; a literatura antiquada, latim de igreja, livros eróticos sem ortografia, romances dos tempos de avó, contos de fadas, almanaques infantis, velhas óperas antigas, refrões simplórios, ritmos singelos. (Rimbaud, Alquimia do Verbo, em Rimbaud, Arthur, Prosa Poética Completa, organização e tradução de Ivo Barroso, Editora Topbooks, Rio de Janeiro, 1998, pg. 161) 8. História da literatura- literatura comparada Mas vejam de que admirável e perversa insinuação já se mostrou capaz um pequeno número de obras muito modernas, as mesmas das quais o mínimo que se possa dizer é que nelas o ar é particularmente insalubre: Baudelaire, Rimbaud (a despeito das reservas que lhe fiz), Huysmans, Lautréamont, para ficar só na poesia. Não tenhamos medo de erigir em lei essa insalubridade. (Breton, Segundo Manifesto do Surrealismo, em Manifestos do Surrealismo, op. cit, pg. 129) ...pois só lhe interessavam verdadeiramente as obras doentias, consumidas e irritadas pela febre. (...) ...voltava-se ele obrigatoriamente para certos escritores tornados ainda mais propícios e mais caros a ele pelo desprezo em que os tinha um público incapaz de compreendê-los. (Huysmans, J. K, Às avessas, tradução e estudo crítico de José Paulo Paes, Companhia das Letras, São Paulo, 1987pgs. 189 e 216) ...na hora em que os poderes públicos se preparam para celebrar grotescamente com festas o centenário do romantismo, nós dizemos que essa romantismo, do qual aceitamos historicamente ser considerados como cauda, mas então cauda de tal modo preênsil, por sua essência mesmo em 1930, reside inteiramente na negação desses poderes e dessas festas, que ter cem anos é para ele a mocidade, que o que se chama erradamente sua época heróica não pode mais, honestamente, significar senão o vagido de um ser que apenas começa a fazer conhecido o seu desejo através de nós e que, se se admite que o que foi pensado antes dele – “classicamente” – era o bem, quer incontestavelmente todo o mal. (Breton, Segundo Manifesto do Surrealismo, op. cit, pg. 129) A crítica atual é injusta com o simbolismo. Você diz que o surrealismo não procurou valorizá-lo: historicamente resultava inevitável que se opusesse a ele, porém a crítica não tinha porque fazer-lhe restrições. Era quem devia encontrar de novo, e pôr em seu lugar a correia de transmissão. (Breton, André, El Surrealismo – Puntos de Vista y Manifestaciones, Barral editores, Barcelona, 1977, pg. 15 –edição espanhola de Entrétiens, entrevistas radiofônicas de Breton) Apesar da contradição que encerra, e às vezes com plena consciência dela, como no caso das reflexões de Baudelaire em L’art romantique, desde princípios do século passado se fala de modernidade como de uma tradição e se pensa que a ruptura é a forma privilegiada da mudança. (Paz, Octavio, Os Filhos do Barro, Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1984, pg. 18) 9. Para concluir, algumas observações minhas: Os sucessores da geração de escritores do fim de século francês, que inclui os agrupados como poetas malditos por Verlaine, são, como herdeiro direto, Alfred Jarry, assim como Apollinaire e Reverdy, Dada e o surrealismo. Quem vê o surrealismo exclusivamente como apologia do delírio, criticandoo pelo irracionalismo, comete um equívoco: a loucura havia campeado nas décadas precedentes, no período que medeia entre o Simbolismo e o modernismo vanguardista, e que, mais apropriadamente, pode ser visto como exacerbação do Romantismo. Os surrealistas lhe deram, é certo, continuidade; mas tentaram conferir-lhe uma dimensão política, resumida na proposta bretoniana de tornar um só o transformar a sociedade de Marx e o mudar a vida de Rimbaud (em Position Politique du Surréalisme, conjunto de textos agregado à edição Pauvert dos Manifestes, op. cit.). E a sistematizaram na revisão da história da literatura proposta, com especial clareza, no Segundo Manifesto do Surrealismo. (...) Octavio Paz prossegue a mesma revisão da história da literatura, entendendo o Romantismo, não como período circunscrito, delimitado por algumas datas do final do século XVIII e meados do XIX, mas como processo, uma vertente marcada pela rebelião e ruptura. Por isso, em Los Hijos del Limo (op. cit), fala em revolução romântica, manifestação da tradição da ruptura, contraposta ao classicismo. E distingue o romantismo oficial, dos manuais de literatura, de um verdadeiro romantismo francês: A poesia francesa da segunda metade do século passado - chamá-la de simbolista seria mutilá-la - é indissociável do romantismo alemão e inglês: é seu prolongamento, mas também é sua metáfora (no meu prefácio para Lautréamont – Obra Completa, Iluminuras, São Paulo, 1997, pg. 55). - bibliografia complementar Além das obras citadas acima, especialmente: Béhar, Henri, André Breton, Le grand indésirable, CalmannLévy, 1990; Bonnet, Marguerite, André Breton - Naissance de l’aventure surréaliste, Librairie José Corti, Paris, 1988; Breton, André, Oeuvres complètes, edição organizada por Marguerite Bonnet, Éditions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Vol. I, 1988, Vol. II, 1992; Paz, Octavio, La búsqueda del comienzo, Editorial Fundamentos/ Espiral, Madri, 1974. Claudio Willer (Brasil, 1940) é um dos editores da Agulha. Contato: cjwiller@uol.com.br. Página ilustrada com obras do artista Carlos M. Luis (Cuba). retorno à capa desta edição triplov.agulha índice geral jornal de poesia revista de cultura # 39 - fortaleza, são paulo - junho de 2004 Andrei Tarkovski: através de uma fina película transparente Vicente Franz Cecim . Parece-me que Berkeley percebe a matéria como uma fina película transparente situada entre o homem e Deus. Henri Bergson [A intuição filosófica] De certas obras de arte devemos nos aproximar com passos tímidos de aprendizes de viver. E sendo inúteis as aproximações frontais, pois mais as ocultam de nós do que as revelam, só quase nos resta a opção de um tatear no escuro a sua luz, de um esboçar balbuciante a sua compreensão. O Cinema de Andrei Tarkovski é uma dessas obras assim. Nos excede. E tudo o que dissermos dele ainda será insuficiente. Diferente é a experiência de nos iniciarmos diretamente em seus filmes. Quando sós, face a face com eles, sempre nos falam com ampla generosidade, se entregando profundamente, em retribuição ao nosso silêncio. Respeito e prudência, ao falarmos deles, então se impõem. Deixar que eles se digam. E, previamente, apenas deles falar por alusões. A alusão aqui eleita é a frase acima de Bergson sobre Berkeley, que nos remeterá à própria idéia central do pensamento de Berkeley mais adiante. E assim, passo a passo, quase sem nos darmos conta disso, teremos dito algo sobre o cinema de Tarkovski. Mas obliquamente: por reflexos de vozes ecoando em espelhos. A frase de Bergson já nos dá o exemplo: o hesitante parece-me com que ele a inicia é signo de humildade e aceitação das Incertezas. E, precisamente por isso, também se aplica ao cinema de Tarkovski. Aqui, a fina película transparente de que Bergson fala se referindo a Berkeley vem se fundir à fina película transparente que é um filme: sua película, sua matéria prima, esse Olho aplicado à epiderme do Real, destinado a receber as impressões que a vida - Ela, que no dizer de Heráclito: Ama ocultar-se - se consentir nos doar, nos consentir a graça de ver. Já haveria, num filme qualquer, Mistério em abundância para esse Olho mecânico, o olho da câmera, registrar, se visse apenas por si, isolado de toda presença humana. Tamanha é a Presença das coisas em si mesmas diante de nós, se dizendo a nós: Esse est percipi/Ser é ser percebido - nos diz Berkeley. E quando o olho humano vem fazer companhia a esse Olho mecânico, vem humanizá-lo, digamos assim, no sentido pleno das visões, intuições, carências, indagações, ilusões, possíveis saberes, esperanças, miragens, que fazem dele um olho humano, e se isso se dá não mais num filme qualquer, mas num filme de Tarkovski? Esse est percipere/Ser é perceber nos diz Berkeley. Um filme de Tarkovski sendo então uma dessas raras oportunidades que nos são dadas pela Via Estética de confrontar no sentido já dissimulado pelo uso mais ainda vivo na palavra, de colocar frente a frente - vida e homem, o percipi e o percipere, o percebido e o perceber. Bergson nos diz: Se 'percipi' é passividade pura, o 'percipere' é pura atividade. A fina película então é o elemento intermediador entre a epiderme do Real, que se entrega a Tarkovski em percipi, se deixando ser percebida, e lhe permite o ato de percipere, perceber e, o por ele percebido, nos revelar. Mas, a esta altura, ainda estamos falando da fina película que é um filme, ou imperceptivelmente já ingressamos no coração obscuro do nosso assunto: já nos surpreendemos falando da matéria como uma fina película transparente situada entre o homem e Deus? A ambivalência das palavras, ah: tanto nos naufragam como nos socorrem. E o que leremos a seguir, ao lermos a palavra doutrina, seja lido como sinônimo da palavra vida. Pois é implicitamente a ela, como visão de mundo de Berkeley, que Bergson se refere, quando nos diz: Dela nos aproximaremos se pudermos atingir a imagem mediadora (…) uma imagem que é quase matéria, pois se deixa ainda ver, e quase espírito, pois não se deixa tocar – fantasma que nos ronda enquanto damos voltas em torno da doutrina e ao qual é necessário que nos dirijamos para obter o signo decisivo, a indicação da atitude a tomar e do ponto para onde olhar. É permitido ao homem, através da mediação da Arte, não somente percipere/perceber mas também dar a perceber aos outros homens o que, através da fina película transparente, percebeu? No cinema, em todas as épocas, a alguns isso foi consentido: Bresson, Ozu, Antonioni, Dreyer, mais recentemente a Alexander Sacha Sokurov e ao próprio Tarkovski. Diante do Abismo que é o Assombro de existirmos, humanos, face a face com a espessura e as transparências da Vida que nos habita e na qual habitamos, sutis como uma sombra, densos como um corpo, devemos ser gratos a eles, pela vertigem que em nós sempre despertam, pelas quedas para o alto em que sempre nos precipitam, nos impedindo de adormecer na desoladora fronteira que inventamos para nossas omissões, no passo que não damos, entre o Imanente e o Transcendente. Tarkovski entendeu o Cinema como a arte de Esculpir o Tempo. humana. E no livro que escreveu com esse título, e não apenas através das imagens dos seus filmes, nos fala de uma urgência alarmante: - O homem moderno não quer fazer nenhum sacrifício, muito embora a verdadeira afirmação do eu só possa se expressar no sacrifício. Aos poucos vamos nos esquecendo disso, e, inevitavelmente, perdemos ao mesmo tempo todo o sentido da nossa vocação Que vocação é essa? A vocação de uma entrega total, de um consentir permanente que luzes lampejem em nós, nos permitindo ver - mesmo que por breves clarões, na vida como numa escura sala de projeções, sacrificando nossas consolações vazias, nossas paixões condenadas a cinzas, nossa avidez de um agora efêmero – aquela que ama ocultar-se e que, em seu Pudor, é a Fonte permanente do nosso mais intenso fascínio? Clarões. Ainda que estonteantes, cegantes. Mas de uma cegueira que nos liberte de continuar vendo através de um cristal escuro e nos conceda outros olhos capazes de ver através dessa fina película transparente situada entre o homem e Deus - sabemos o que essa Palavra significa, em todas as suas metamorfoses. É esse o olhar que reivindicava Berkeley, segundo Bergson. E esse é o olhar que buscou Tarkovski, com seus filmes que são fendas abertas na espessura da matéria, e que ele, também, reivindica, quando afirma: - E o que são os momentos de iluminação, se não percepções instantâneas da verdade? Ou quando denuncia: - A moderna cultura de massas (…) está mutilando as almas das pessoas, criando barreiras entre o homem e as questões fundamentais da sua existência, entre o homem e a consciência de si próprio enquanto ser espiritual. São palavras que devemos manter acesas em nós quando as luzes se apagarem e os filmes de Tarkovski começarem a cintilar para os nossos olhos. Nesses Templos de um tempo sem templos em que podem se transformar as salas de projeções, ante filmes como os de Tarkovski, já não se trata de simplesmente ver, mas de penetrar profundamente, através da fina película transparente que o seu cinema nos oferece, até nos revelarmos a nós mesmos, e orando em silêncio: - Agora, abrir os olhos. Agora, começar a sonhar o sonho de ver como somos vistos. Vicente Franz Cecim (Brasil, 1946). Romancista. Autor de Viagem a Andara, o livro invisível (1988), Silencioso como o Paraíso após a expulsão das criaturas humanasr (1994) e Ó Serdespanto (2001). Contato: andara@nautilus.com.br. Página ilustrada com obras do artista Carlos M. Luis (Cuba). revista de cultura # 39 - fortaleza, são paulo - junho de 2004 Caminhos do rock Pablo Laignier . O Rock'n'Roll surgiu nos anos 50, nos Estados Unidos da América, através de músicos como Chuck Berry e Little Richards. Consistia em uma mistura entre o Blues e o Country e tornou-se uma febre em todo o mundo. Um gênero musical negro em sua essência, embranqueceu e se popularizou na pele branca de Elvis Presley e Buddy Holly. Nos anos sessenta, foi a vez de bandas inglesas como os Beatles e os Rolling Stones darem o tom do Rock, inclusive influenciando outras bandas norteamericanas. Ali se iniciava o Pop-Rock, em baladas de amor açucaradas e uma sofisticação em termos de arranjos que elevou o esquema básico de três acordes a um outro patamar de elaboração musical. Os últimos discos dos Beatles (de 66 em diante) são bons exemplos disso. A evolução melódico-harmônica do Rock inglês levou-o, no início dos anos 70, a uma nova vertente: o Rock Progressivo. Assumindo elementos da música erudita e de outros estilos tradicionais (música celta, etc), este novo formato do Rock foi importante em sua aceitação por boa parte da opinião pública mundial, que ainda o considerava um gênero exclusivamente voltado para adolescentes. Através de grandes discos lançados por bandas como Pink Floyd, Yes, Jethro Tull e Gênesis, o Rock começou a ser encarado pela imprensa como um gênero sério, uma nova forma de arte. A despeito disso, o virtuosismo técnico e a elaboração musical do Rock Progressivo fizeram justamente com que a geração de adolescentes ingleses da segunda metade da década de 70 não apenas o abominasse, como criasse a sua antítese: o PunkRock. Voltando ao estilo básico de três acordes que caracterizou os primórdios do Rock (nos anos 50), o Punk-Rock, sob o lema "faça você mesmo", era a expressão musical dos adolescentes pertencentes à classe operária inglesa, com letras de protesto e quase nenhuma preocupação em tocar ou cantar "bem". A primeira metade dos anos 80 trouxe o sucesso das bandas Góticas na Inglaterra. Tratava-se de uma vertente mais niilista e suave do Punk, na qual se destacaram bandas como The Cure e The Smiths. Nos EUA, por sua vez, a primeira metade dos 80 foi caracterizada principalmente pela ascensão do Rock New Wave, uma vertente Pop aonde a utilização dos teclados sintetizadores sobrepujava o uso das guitarras elétricas (que sempre foram consideradas um símbolo do Rock). A segunda metade dos anos 80 foi um período mais difuso, em que diversas vertentes do Rock estiveram presentes tanto na Inglaterra quanto nos EUA. Havia bandas como Guns N’Roses, Bon Jovi e Poison, nos EUA, consideradas "Posers", aonde o peso das guitarras convivia com um visual andrógino (calças de couro apertadas e rostos bastante maquiados). Mas também bandas vindas do Indie-Rock, como o REM, caracterizadas por um som mais cru. Já na Europa, os irlandeses do U2, com um Rock político e de timbres de guitarra muito próprios, foram o grande destaque deste período. O crescimento do Indie-Rock e das gravadoras independentes nos EUA deu início ao movimento musical que mais influenciou o Rock nos anos 90: o Grunge. Baseadas em Seattle, bandas como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden e Alice In Chains foram os maiores expoentes de um Rock básico, cru, que retraduzia o Punk-Rock, mas que também era influenciado (principalmente no caso das duas últimas bandas citadas) pelo peso das guitarras do Heavy-Metal. E, depois de tantas mudanças nos últimos 50 anos, como anda o Rock no início do século XXI? Quais são as novidades do cenário mundial? Que estilos têm feito a cabeça e os ouvidos dos adolescentes de hoje? Até aqui, fizemos uma breve análise dos caminhos do Rock no passado. Chegaremos agora ao momento presente. II Não houve grandes movimentos no Rock norte-americano ou inglês a partir da segunda metade da década de noventa. O único estilo que se pode considerar novo (até certo ponto) é o Nu-Metal de bandas como o Korn e o Limp Biskit. Mesmo assim, ele não chega a constituir um gênero musical, sendo apenas um novo estilo de Rock Pesado, um pouco mais Pop do que o Heavy-Metal. O Nu-Metal se caracteriza por ser um estilo de Rock em que guitarras pesadas (resquícios do Grunge, principalmente de bandas como Soundgarden e Alice In Chains) convivem com letras faladas (como no Hip-Hop) e refrões Pop, além de vocais guturais em alguns casos (como nas bandas de Trash-Metal e Death-Metal). Outra característica interessante do Nu-Metal é a utilização das guitarras de sete cordas, ao invés das seis cordas usuais. A sétima corda surge como um recurso para deixar o som mais pesado, já que é a mais grave de todas e torna, juntamente com os pedais de distorção e amplificadores valvulados, o som da guitarra realmente encorpado. Porém, ao contrário de outros estilos que utilizam violões e guitarras de sete cordas como o Chorinho brasileiro (aonde a sétima corda é afinada em Dó) e o Jazz (aonde a mesma corda, normalmente, é afinada em Lá), no Nu-Metal a sétima corda é afinada em Si, o que facilita a formação de acordes. Esta característica da sétima corda, no caso do Nu-Metal, é uma influência direta e assumida de guitarristas virtuosos como Steve Vai, surgido nos anos 80 com um Rock instrumental aonde a sétima corda já era utilizada com a mesma afinação e finalidade do novo estilo. Os guitarristas precursores do NuMetal eram jovens que ouviam bastante Steve Vai, além de outros nomes como Joe Satriani e Tom Morello. Este último pertencia à banda Rage Against the Machine, e seus estranhos ruídos de guitarra influenciaram os arranjos deste instrumento nas já citadas bandas Korn e Limp Biskit. O interessante na análise do Nu-Metal é notar que o peso do Heavy-Metal e do Grunge-Rock (estilos musicais essencialmente criados por brancos) convive com elementos da cultura negra norte-americana, como as rimas faladas e uma certa batida provenientes do Hip-Hop. Mais até do que isso, as próprias gírias que caracterizam os nomes das bandas, das canções e até mesmo do próprio estilo em si são fruto do chamado "BlackEnglish", um modo de falar inglês surgido em guetos negros como o Harlem e que se fez notar nacionalmente (e internacionalmente também) através da cultura Hip-Hop de bandas como o Public Enemy. O próprio nome Nu-Metal é uma gíria, com grafia típica do “Black-English”, para New-Metal (ou "Novo Metal", traduzindo para o português). Embora o próprio Nu-Metal seja um estilo musical criado por brancos, a presença de elementos da cultura negra em sua constituição é algo que serve para mostrar o quanto a música pode agregar diferentes culturas e possuir uma diversidade impressionante. É claro que, seguindo a tendência mundial da indústria fonográfica de uniformizar os tímpanos, já estão surgindo diversas bandas novas de Nu-Metal que não passam de cópias fiéis das precursoras Korn e Limp Biskit. Algumas destas bandas, inclusive, já estão se dissolvendo (o conceituado guitarrista Wes Borland, do Limp Biskit, deixou a banda recentemente). Dessa forma, será que o Nu-Metal terá fôlego para agüentar mais uns cinco anos ou acabará rapidamente chafurdando em seu próprio pastiche, como aconteceu com o Grunge-Rock? Embora a resposta seja mais do que previsível, haverá sempre a possibilidade de uma mudança no cenário musical mundial permitir uma longevidade maior deste ou daquele estilo de Rock. E essa longevidade se dará ou não, conforme a capacidade dos integrantes deste estilo musical de se reinventarem, de se renovarem, de seguirem em frente... Aliás, por falar em longevidade, depois de abordarmos os caminhos do Rock no passado e no presente e, para isso, recorrermos à sua origem norteamericana e à sua consolidação na Inglaterra, chegou a hora de falarmos um pouco sobre as bandas de Rock brasileiras. III Há muitas bandas desse gênero musical em nosso país e o mais impressionante é justamente a longevidade de algumas delas. Abordaremos particularmente o período dos anos 80, aonde se definiu o chamado BRock (ou Rock-Brasil). Embora os anos sessenta tenham nos brindado com a Tropicália (em que a presença de guitarras e a influência do Rock eram bem perceptíveis) e os Mutantes (uma bela banda de Rock lisérgico), e os anos setenta nos tenham trazido o Clube da Esquina (uma mistura entre a MPB e o Rock-Progressivo), foi a partir dos anos 80 que aconteceu o movimento rockeiro mais relevante do cenário nacional. Com a abertura política e, posteriormente, o final da ditadura, o início dos anos 80 trouxe à tona um grande número de bandas de Rock, aonde jovens influenciados pelas bandas inglesas e norte-americanas se dividiam em duas vertentes principais: a que fazia um Rock mais político e niilista, influenciado pelas bandas inglesas de Punk-Rock, e as que produziam um som mais ingênuo, alegre, sem grandes preocupações políticas. A primeira vertente citada englobava bandas como Legião Urbana, Capital Inicial e Plebe Rude, sobretudo vindas de Brasília. Talvez o fato da cidade citada ser a capital federal trouxesse para o som dessas bandas o forte conteúdo político de suas letras. Já a segunda vertente, representada por Os Paralamas do Sucesso, Kid Abelha, Barão Vermelho, Lulu Santos e a Blitz, fazia realmente um Rock mais ingênuo e divertido, em canções que certamente tocaram em muitas festas adolescentes. Tirando Os Paralamas (vindos de Brasília), as bandas desta vertente eram, em sua maioria, cariocas (e a temática das letras era essencialmente urbana e tinha a leveza das cidades de praia). Mais do que analisar cada uma das bandas do BRock isoladamente, é importante enfatizar que o contexto ao redor destas bandas era propício ao movimento musical que ocorreu. Uma rádio e um lugar foram extremamente importantes para o surgimento e a consolidação das carreiras das citadas bandas na cidade do Rio de Janeiro (e daí para o resto do Brasil): A Fluminense FM e o Circo Voador. A Flu FM era uma rádio de Niterói (cidade vizinha ao Rio) que tocava as fitas-demo produzidas por estas bandas. Por isso mesmo, ficou conhecida como a "Rádio-Rock". Apesar de sua importância, a Fluminense fechou as portas em 1994, gerando manifestos contrários por parte tanto dos artistas quanto do público e da imprensa carioca. Reabriu nos anos 2000, primeiro em AM e depois voltando às ondas do seletor em FM. Ficou cerca de 1 ano em funcionamento, chegou a iniciar um tímido movimento de colocar no ar bandas novas, mas, por questões comerciais, mudou seu direcionamento e se tornou uma rádio comum (nos moldes das FMs populares). O Circo Voador, por sua vez, surgiu nas areias do Arpoador (lá pelos idos de 82), mudando-se depois para a sua sede definitiva, sob os Arcos da Lapa (em 84). Congregava, desde o início, diversas formas de arte. Além dos shows musicais (não só de Rock, mas de diversos estilos e gêneros), grupos de teatro e dança apresentaram seus trabalhos sob a lona do Circo Voador. Além disso, projetos sociais foram desenvolvidos lá e o Circo chegou a possuir até uma gafieira com orquestra aos domingos, tornando-se, sem nenhuma dúvida, o ponto de encontro mais eclético da cidade. Fechado definitivamente em 1996, em um episódio tragicômico envolvendo o, à época, recém-eleito prefeito do Rio de Janeiro, o Circo Voador faz falta até hoje na cidade. Devido a vários protestos da classe artística carioca e do público que costumava freqüentar o local, desde o início da década atual foram apresentados à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro projetos de revitalização do espaço aonde o Circo Voador funcionava, visando a sua reabertura. Um destes projetos foi aprovado, obras foram feitas no mesmo local que abrigou tantos shows importantes nas duas décadas anteriores e, recentemente, circulou na imprensa carioca que a data de reabertura do Circo será no próximo dia 03 de junho (com uma grande festa que inclui shows de artistas famosos do Rock nacional). Esperamos todos que esta notícia venha a se confirmar, pois lugares como o Circo Voador são muito importantes para a renovação da música (principalmente o Rock, mas não só ele) e de outras manifestações artísticas brasileiras. E, pelo mesmo motivo, esperamos também que surjam (no Rio de Janeiro e em todo o Brasil) outras rádios como a Flu FM. Atualmente, as rádios universitárias e comunitárias vêm fazendo um ótimo trabalho no sentido de dar espaço à renovação da música brasileira e ao crescente mercado musical independente. Mas isto já é assunto para um outro artigo… Pablo Laignier (Brasil, 1977). Músico e jornalista. Autor do CD Pa e Clau: Convite a Ouvir (2004), em parceria com Claudia Apóstolo. Contato: pablolaignier@yahoo.com. Página ilustrada com obras do artista Carlos M. Luis (Cuba). retorno à capa desta edição triplov.agulha índice geral jornal de poesia revista de cultura # 39 - fortaleza, são paulo - junho de 2004 Diálogo com Manuel Gusmão Floriano Martins . FM – Em entrevista a Ana Marques Gastão, comentas a respeito das diversas vozes que se podem perceber em tua poética, vozes que ora são imaginárias, citações reais, deformadas etc., o que acaba dando uma valiosa carga teatral a muitos poemas. O que está por trás disso tudo? O que busca a poesia através de Manuel Gusmão? MG – São vozes ou por vezes apenas entoações, citações de outros poemas ou de romances, às vezes de personagens de um filme, mas podem também ser frases de cartas que recebi ou coisas que me disseram, ou certos jeitos quotidianos da língua. Trata-se de responder a essas vozes outras, de dar a entender como uma voz singular se faz ou pode fazer a partir das “palavras dos outros”. Nenhum de nós inventa a língua em que escreve, podemos reconfigurá-la um pouco, podemos construir alguns possíveis novos dessa língua, mas no limite a invenção só é possível porque a língua já existe. Aquilo que para muitos aparece como uma condenação, para mim é como se fosse uma condição de possibilidade, a generalidade e a socialidade da língua são aquilo mesmo que torna possível o fazer da singularização e da individuação. Tratase também da descoberta e da invenção de uma coralidade que, mesmo se mínima, é uma hipótese de vitória sobre o silêncio imposto, de não deixar que a solidão, entretanto necessária, se feche por completo sobre nós e nos congele, de dar voz ao que em nós e fora de nós não fala. Por outro lado, trata-se também de uma tentativa de mudar de registo discursivo ou rítmico no interior de um livro ou mesmo dentro de um só poema, de acolher a heterogeneidade daquilo de que sou feito, a alteridade sem a qual só abraçamos o ar demasiado puro e elevado. Na nossa câmara mais íntima, quando fazemos silêncio para poder escrever, então aí, podemos ainda escutar esses murmúrios em que outros falam, assim como cintilam e vibram as imagens e os rumores do mundo. FM – De que maneira a escritura, em 1998, do libreto da ópera Os dias levantados se insere dentro de tua obra poética, e o que volta a significar agora quando o publicas em separado da peça musical de António Pinho Vargas? MG – Sobretudo agora quando me autorizei a publicá-lo autonomamente e com alterações, julgo que não posso rejeitálo, ou seja, estou disposto a pagar o preço por assiná-lo. A dificuldade e a diferença vêm de que este livro começou por ter um “programa” desde o início – era para ser sobre o 25 de Abril, sublinho o “sobre”, e para servir uma sua realização outra, pela música e num palco. Diria que é um livro que mostra ou dá a ver coisas que nos outros livros de poemas são mais oblíquas, menos directas, o que é no fundo admitir que há traços ou formas de fazer que são comuns. Por exemplo: a coralidade; a ostensão aqui explicitada das citações das vozes de outros; a afirmação de uma posição política na história que não é demagogia, mas é experiência vital, história da vida que tenho vivido e passionalidade ideo-verbal e ético-política. Mas há também o lado da construção, da arquitectura ou da composição do poema. Aí, admito que o libreto é um poema dramático mais perto de visar uma cantata ou uma ópera por quadros ou sequências. As acções são sobretudo conflito de vozes. A partir de certa altura, praticamente desde um dos quadros do Iº Acto, vai-se citando as transformações ou as glosas, por poetas do século XX (Jorge de Sena, Ruy Belo, Fiama Hasse Pais Brandão, Luiza Neto Jorge e Gastão Cruz), de um verso de Sá de Miranda (séc. XVI) que só será citado já para o fim (no “Êxodo”). Por um lado, imagino a recitação ou a citação repetida como uma espécie de repetição da origem, que regressa no tempo; por outro lado, que o verso originário só apareça quase no fim, pode significar que a origem ainda está à nossa frente, ou por vir. Por outro lado, a recitação do verso através dos seus ecos é homenagem à poesia e põe esse verso a costurar os tempos. Com estes procedimentos vários, julgo que no libreto procuro maneiras para praticar a deslinearização do tempo histórico, a constelação das várias formas do tempo – uma das minhas obsessões, que vou buscar como herança a Walter Benjamin. FM - Como se deu então o diálogo entre músico e poeta, e até que ponto crês interessante para a poesia essa aproximação de outras áreas da criação artística? MG - Quando o compositor me convidou – não nos conhecíamos pessoalmente - fiquei efectivamente surpreendido. Embora sempre me tenha interessado por outras artes e até tenha trabalhado sobre formas de encontro concertante ou dissonante entre elas, nunca tinha pensado escrever sequer para teatro, quanto mais para uma ópera. Por outro lado, o convite implicava escrever em direcção a uma realização outra, diferente daquela que se processa na leitura, mesmo em voz alta, e escrever “sobre” algo que era à partida político e muito menos consensual do que pode parecer. Quando me decidi a aceitar, disse ao António Pinho Vargas que não escreveria nem um texto de propaganda nem exclusivamente celebratório, assim como também não poderia nunca escrever uma coisa neutra e consensual, porque a data é daquelas que são simultaneamente história colectiva e história pessoal de quem activamente as viveu. Desde o princípio ficou claro que ele utilizaria o meu texto como a música lhe fosse ditando, assim como eu ficaria livre de o editar de forma autónoma. O texto foi sendo escrito em diálogo com o compositor e depois também com o encenador, Lukas Hemleb, que trabalha sobretudo em França. Esse diálogo que foi exigente interessou-me muito por várias razões. Desde logo porque foi efectivamente um diálogo entre diferentes, colaborando. Eu ia escrevendo cenas ou blocos de texto e obtinha quase imediatamente a reacção de um ou dois leitores, que faziam perguntas, comentários e sugestões. Depois, porque eu tinha de escrever tendo à partida ou no horizonte algumas restrições ou constrições no plano da produção: por exemplo, o número de solistas ou o número de membros do coro. Para além disso, aquilo que o António sugeria poderia levar-me a encontrar ou inventar soluções em que não tinha pensado ou que tinha pensado de outra maneira. Enquanto experiência de um diálogo que contamina ou move quem dialoga, de um trabalho de escrita que se desenrola integrando já uma escuta, foi para mim uma experiência muito interessante em si mesma e que de alguma forma se projectou no livro Teatros do tempo que eu também já começara a escrever. Por outro lado, a minha “preparação” para o libreto levou-me a ouvir outras peças musicais do António Pinho Vargas ( iincluindo a sua 1ª ópera, “Èdipo, tragédia do saber”, com texto de Pedro Paixão) e outras óperas contemporâneas que ele me sugeriu. FM – Em tua participação em uma mesaredonda na Associação Abril em Maio (janeiro de 2004), em Lisboa, defendes que é necessário criar uma consciência política em âmbito artístico, «se não quisermos que a arte se dilua naquilo que é dominante na sociedade». Não crês que essa diluição já esteja presente ao ponto de tornar esta tua defesa, que é também a minha, mais utópica do que a possamos imaginar? MG – Não sei se disse mesmo assim. Lembro-me que nesse momento estava a referir uma passagem do epílogo do ensaio de Walter Benjamin, “A obra de arte na era da reproductibilidade técnica”. Nessa passagem, ele estabelece uma relação entre o fascismo e a esteticização da política que segundo ele culminaria na guerra. Benjamin diz que a humanidade se tornou de tal forma estranha ou estrangeira a si própria que se dá em espectáculo a si mesma e é capaz de viver a sua própria destruição como um prazer estético de primeira grandeza. E termina dizendo que a resposta dos comunistas é a politização da arte. Eu procurava entender o que ele escreve na sua circunstância e recolocar o problema, hoje, em que a espectacularização da política e da própria vida privada atingiu, juntamente com o crescimento das “indústrias culturais”, uma exasperação enorme. E daí partia para a consideração de que sem perder de vista a defesa da independência relativa da arte (que justamente hoje está ameaçada) cujo esquecimento por quem quer revolucionar o estado das coisas pode conduzir ao desastre e, simultaneamente, sem a tomar como uma autonomização absoluta, abre-se um espaço para trazer à consciência política e estética a percepção da politicidade da arte e trabalhar por uma cultura ao mesmo tempo de resistência e de alternativa. Tratase de compreender, por exemplo, que a massificação do acesso a certos bens culturais não é necessariamente uma democratização e que se trata de intervir não tanto na criação (esse é um problema em larga medida de opção do artista) mas nas formas de produção, circulação e consumo culturais. A dissolução da arte no mercado ou a neutralização da sua dimensão crítica e inventora de novos possíveis, é hoje uma tendência dominante, de acordo, mas isso não torna necessariamente utópica a intervenção pela arte. É certamente mais difícil; obriga a pensar como, onde, de que maneira, com quem e para quém. Por outro lado as utopias são nas suas próprias formulações, contingentes, históricas, mesmo que não tenham disso consciência. Se concebermos o utópico como aquilo que resiste à tentativa de ocupação total do espaço, se reagirmos ao uso da palavra “utópico” para acusar e desarmar toda a tentativa de busca de um outro possível, numa estratégia de cancelamento ou estreitamento de qualquer horizonte diferente para as nossas sociedades, então, eu poderia aceitar essa dimensão utópica daquilo que me move, mas insistindo na sua determinação histórica. FM – E qual contribuição têm dado, seja em busca de solução ou na permissão de agravamento, os próprios artistas, poetas, intelectuais? MG – Para além de julgar que é importante procurar pensar a história do problema, digamos assim, até para perceber melhor a sua configuração presente, posso falar do que tenho perto de mim. Acho que posso dizer que uma grande parte dos intelectuais portugueses desejaram e acompanharam, participando de formas muito diversas, o fluxo pelo menos inicial da revolução portuguesa, entre Abril de 1974 e o verão de 1975. Depois, nos longos anos que vêm até hoje, dividiramse, confrontaram-se, desistiram ou regressaram a casa, tal como aconteceu com outras camadas sociais intermédias. É evidente que abriu há umas décadas atrás uma espécie de caça aos intelectuais. Não creio que seja um fenómeno redutível a uma compra e venda, antes se trata de algo mais complexo, onde se usou e usa o quantum satis de discriminação e, ao mesmo tempo se recorre em larga escala à sedução. Isto em determinadas circunstâncias sociais e culturais marcadas pelo crescimento rápido das indústrias e de um mercado cultural que se rege não apenas por regras económicas, mas também por determinados valores simbólicos e ideológicos. FM – Mas se poderia acaso dizer, de uma maneira geral, que esta camada social, artistas e intelectuais, esteja hoje como que acomodada a esse avançado processo de atomização, sendo raro manifestar-se em «defesa da independência relativa da arte»? Em havendo, isto viria unicamente do fascínio exercido pelos meios de comunicação de massa? MG – Eu não tenho a certeza se há uma acomodação da maioria. É possível que sim, mas num quadro que a médio prazo e seguramente a longo prazo é de grande mutabilidade. Nos movimentos contra a globalização capitalista e recentemente contra a guerra houve e há uma participação sensível de intelectuais. A proletarização crescente daquilo que podemos designar por profissões intelectuais e que excede largamente os artistas e os intelectuais, enquanto porta-vozes tradicionais, comporta fenómenos de grande diferenciação interna da camada, de desemprego ou subemprego, de perda de controlo sobre o seu trabalho e de estreitamento ou compressão da sua independência relativa. Entretanto, não estamos apenas perante o fascínio exercido pelos grandes meios de comunicação de massa; acontece também que as novas tecnologias permitem formas de trabalho e de associação em micro-empresas que geram uma experiência virtual, que não é apenas uma ilusão, de independência e de universalidade, na qual o cosmopolitismo esquece o internacionalismo. Ora esse esquecimento esquece também que, em períodos ou conjunturas de relativo bem estar, grande número de intelectuais integra os 2/3 que vivem sobre um terço de excluídos nas sociedades do mundo capitalista mais desenvolvido, que por sua vez assenta o seu “desenvolvimento” na sobre-exploração dos outros mundos e na exportação das mais violentas desigualdades. FM – Retornando à tua poética, onde está bem clara a relação com o tempo, indagaria agora por sua relação com o corpo, ou seja, que gradação de sexualidade da escrita se poderia evocar ao tentar compreender esta poesia? MG – De algum modo a poesia na sua enorme diferença em relação a si mesma sempre foi uma forma de inscrição perdida do corpo amoroso, do “amor realizado de um desejo que permanece desejo” como escreveu René Char. Aquilo que escrevo imagino-o em certa medida como uma espécie de extensão não-orgânica do corpo-a-corpo amoroso, pelo qual procuro estar próximo do coração da terra, uma narrativa interrompida e recomeçada dos corpos que me tatuaram, uma narrativa que acumula feridas e queimaduras e procura reinventar, para sobreviver, aquela inenarrável perda da consciência que nos liberta de nós e que só julgamos conhecer nesse corpo-a-corpo. O Eros prolongado no corpo da linguagem ou, melhor no corpo-a-corpo com a linguagem, é uma maneira de querer a alegria, de imaginar a morte como a condição de uma alegria feroz, de aprender e aceitar que “só pode queimar quem aceita ser queimado”. E então as coisas confundem-se muito. A experiência do amor que julgamos receber da vida e que em larga medida seria muda sem a poesia, a arte, vem-me por exemplo não só daqueles corpos-músicos que amei e me amaram como da definição da alegria por Spinoza, ou da fabulosa frase de Catherine Earnshaw no inesquecível Monte dos Vendavais, de Emily Brontë: “I am Heathcliff”. De certa maneira gostaria que a poesia pudesse ser um dar voz à experiência que a frase final de um poema de Rimbaud, “Being beauteous” inventa: “Oh! nos os sont revêtus dun nouveau corps amoureux”. FM – E como te sentes integrado a uma tradição lírica portuguesa? MG – Deixa-me começar por dizer que não partilho da ideia de que a poesia acabou, nem mesmo da versão reduzida de que o lirismo estaria exausto, ou teria chegado ao fim. È mais um decreto, proclamado no quadro da ideologia dos fins, e no máximo poderá ter o valor de sintoma de um mal-estar na cultura sobretudo em algumas sociedades contemporâneas desenvolvidas. Julgo, por outro lado, que é mais interessante admitir que há várias tradições e não apenas uma ou, então, falar de uma tradição plural e heterogénea, que comporta diversas genealogias que, aliás se podem cruzar. No meu caso, gosto de imaginar que aquilo que faço procura manter unidos gestos e processos de linhagens diferentes: por um lado, a obsessão com a construção de cada livro, o rigor da composição verbal que não deixe o lírico ronronar e creio ter andado a aprender, por exemplo, com poetas como Carlos de Oliveira; por outro lado, não desistir da veemência, da imagem alucinada, como ela sopra lá para os lados de Herberto Helder e, entretanto, trazer a estas duas genealogias a heterogeneidade de registos e níveis discursivos, como a podemos encontrar de modos muito diversos e de forma particularmente intensa numa poeta como Luiza Neto Jorge. É difícil falar disto, sem parecer pretensioso ou sem ter a sensação de que me perco entre espectros, então, que sejam eles ao menos os daqueles que prefiro. Apenas, diria mais que me fascina a possibilidade de encontrar para hoje as formas ou as entoações da poesia narrativa. E ainda, esta tensão de procurar manter unidas - nunca sei bem como – duas exigências: não deixar de me manter perto do coração selvagem do que é da terra e ao mesmo tempo não faltar à resposta que, por tomar a palavra, devo àqueles que da sua própria voz são expropriados. Saber que vimos de muito longe, que somos animais longos no tempo, imaginar que há qualquer coisa em frente à minha espera mas que me vem de Hölderlin, do 1º romantismo alemão, o romantismo de Jena, de Rimbaud, e que é uma promessa e, ao mesmo tempo, não me despedir nunca por completo daqueles que me trazem a depuração de uma oficina onde pode soprar uma fúria rigorosa, Mallarmé, Cesário Verde, Ponge, João Cabral de Melo Neto, Carlos de Oliveira. Aqui já comecei a alucinar, portanto é melhor calarme. Manuel Gusmão (Portugal, 1945). Poeta. Autor de livros como Mapas / O Assombro a Sombra (1996), Teatros do Tempo (2001) e Os Dias Levantados (2002). Contato: mgusmao@netcabo.pt. Floriano Martins é um dos editores da Agulha. Entrevista realizada em fevereiro de 2004. Página ilustrada com obras do artista Carlos M. Luis (Cuba). revista de cultura # 39 - fortaleza, são paulo - junho de 2004 Eis dois cachimbos: roteiro para uma leitura foucaultiana de René Magritte Jorge Lucio de Campos . A ficção consiste não em fazer ver o invisível, mas em fazer ver até que ponto é invisível a invisibilidade do visível. Michel Foucault 1 Tão simples de serem vistos (e entendidos), tão difíceis, na verdade, de assimilar. Talvez seja esta sensação inquietante, de imediato despertada no espectador, a marca registrada – o elemento diferencial – da maioria dos quadros de Magritte. Importaria, desde o início – visando uma aproximação mais segura de seu projeto – eleger, enquanto um princípio poético por excelência, a perturbação do lugar-comum. Efeitos de surpresa, confronto de enfoques distintos, por vezes, díspares. Em um espaço de coabitação neutra, a transformação abrupta do elemento familiar… Eis algumas senhas que os críticos apontam como típicas de sua primeira fase (de 1925 a 1936) – nominada por eles de ‘paradoxo do outro’ porque ali os dados visuais, em regra, apresentam um agudo contraste, desencadeando um choque que busca abalar a mente, tirá-la de sua apatia cotidiana, convidá-a, enfim, a exercer – como nunca antes – a virulência do pensamento. Interrogação acerca das afinidades e não-afinidades que um objeto, isolado de seu contexto habitual de acontecimento, poderia vir a ter consigo mesmo: relação de inversão entre o que contém e o que é contido, entre o que está fora e o que fica dentro, entre o que é parte integrante e a totalidade que o elucida, entre o colossal e o minúsculo, de auto-ruminação ontológica, linguajeira, ideativa… Eis algumas senhas do que seria, então, sua segunda fase (de 1936 a 1949) – nominada de ‘paradoxo do mesmo’. Ambas seriam retomadas por Magritte – após um breve período impressionista ou neo-impressionista ou tachista (ou, ainda, Renoir) iniciado em 1943 e encerrado no ano seguinte, em que ele experimenta trabalhar en plein air ou en plein soleil [Talvez como um esforço compensativo – alternativo em sua evasividade – à existência precária da Bélgica ocupada durante a Segunda Guerra, Magritte revelou, nesta ocasião, um esmero maior quanto ao uso da paleta: a luz parece deveras matizada à maneira dos impressionistas franceses e, em especial, de Renoir. Cf., entre os mais célebres óleos do período, L’incendie e Le premier jour, ambos de 1943, e Les heureux présages, de 1944.], como preferia dizer, e um outro, ocorrido em 1947 e 1948, apelidado de vache (‘vaca’) [Nela Magritte afirmou, com virulência, uma atitude ‘antipictórica’ – de traçado tosco e índole colorística – pela qual ambicionava a debochar de si mesmo, de sua arte e da arte em geral. Cf., entre outras, os óleos Le contenu pictural, de 1947 e La famine, de 1948.], palavra utilizada, de início, para parodiar o termo fauve (‘fera’) [Nome dado pelo crítico de arte Louis Vauxcelles aos grupo de pintores (dali em diante conhecidos como fauvistas) encabeçados por Matisse quando de sua exposição no Salon d’Automne – exposição anual de outono, realizada em Paris e fundada em 1903 como alternativa ao Salon oficial e ao Salon des Indépendents. Apontando para uma escultura de estilo quatrocentista exposta no mesmo espaço, teria exclamado: “Donatello au milieu des fauves!” (Donatello entre as feras!”).], mas levada a sério e incorporada, a partir de 1949. É consensual que um bom quinhão das composições magrittianas – embora estas sejam amiúde qualificadas, ao menos num primeiro momento, como estranhas e desconcertantes – também se notabilizou por conter dados visuais facilmente ‘acessíveis’, rapidamente ‘reconhecíveis’, graças, sobretudo, a um indisfarçável e estratégico traço realista. (Magritte, na sua obra, lançou mão de uma técnica propositalmente descuidada, pintando as coisas como surgem à percepção normal o que lhe angariou, muitas vezes, a pecha de ‘acadêmico’.) Foi, sem dúvida, graças a tal peculiaridade que elas puderam exercer, até os dias de hoje, um fascínio especial sobre o observador, desafiando-o a trilhar um caminho aberto, como que por encanto, diante de seus pés, rumo à coalescência porosa da imaginação e às possibilidades intensas do intelecto. Afeitos a temas como pássaros, molduras, balaústres, janelas, chapéus, sapatos, nuvens, espelhos, árvores, trens, cavalos, relógios, nuvens, montanhas, valises e outras referências sempre revisitadas, alguns de suas telas – que não são poucas – lidam, em particular, com a representação de cachimbos, em geral, acompanhados por enigmáticas frases (ou por seqüências ‘escritas’ que, na prática, repelem qualquer condição fácil de encadeamento lógico) cujo escopo é uma paradoxal afirmação da negação do que parece patente, a saber, a condição daquilo que, a priori, é o que aparenta ser, porém apenas porque assim se mostra. Contudo, como veremos a seguir, algumas interpretações suas – como a que propôs Foucault – desconfiam da diretividade dessa impressão inicial, observando e enfatizando, de preferência, nas relações estabelecidas entre aqueles ‘cachimbos’ e ‘frases’ (na verdade, simples imagens pintadas de supostos cachimbos ‘reais’ e frases ‘efetivas’), uma intencionalidade ambígüa, contraditória e não-representativa, originária das próprias relações existentes entre as palavras e as coisas. 2 Foi após uma troca de missivas entre Magritte e Foucault, iniciada pelo primeiro em meados da década de 60 – estimulado, na ocasião, pela trama conceitual de Les mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines (em particular, por seu segundo capítulo, intitulado “A prosa do mundo”) – que pôde ser implementado um fértil diálogo em torno do que, depois, se configuraria como uma teoria geral da representação pictórica. Já ao filósofo atraiu, sobretudo, uma das reproduções de quadros, anexadas por Magritte (“(um) que pintei sem me preocupar com uma busca original no pintar” – disse o belga) em que este havia anotado, no verso, a enigmática frase “Isto não é um cachimbo” - no verso dessa reprodução, Magritte escreveu: “o título não contradiz o desenho, ele o afirma de outro modo”. Na carta que escreveu a Foucault, datada de 23 de maio de 1966, ele argumenta não existir, entre as coisas, semelhanças, mas sim similitudes: “As palavras Semelhança e Similitude permitem ao senhor sugerir com força a presença – absolutamente estranha – do mundo e de nós. Entretanto, creio que essas duas palavras não são muito diferenciadas, os dicionários não são muito edificantes no que as distinge. Parece-me que, por exemplo, as ervilhas possuem relação de similitude entre si, ao mesmo tempo visível (sua cor, forma, dimensão) e invisível (sua natureza, sabor, peso). O mesmo se dá no que concerne ao falso e ao autêntico etc. As ‘coisas’ não possuem entre si semelhanças, elas têm ou não têm similitudes. Só ao pensamento é dado ser semelhante. Ele se assemelha sendo o que vê, ouve ou conhece, ele torna-se o que o mundo lhe oferece.” Magritte fez estas colocações ancorado numa leitura bastante pessoal de dois dos conceitos-chave abordados por Les mots et les choses. Neste livro, pedra de toque de seu projeto pessoal de um mapeamento arqueológico do saber em termos ocidentais, Foucault ocupou-se de algumas expressões científicas ou artísticas que corroborariam a ocorrência de um corte epistemológico em pleno Seiscentos: o fim da hegemonia de (ou do princípio de) uma similitude (similitudo) infinita que regularia a relação entre a linguagem (écriture) e a realidade, e a inauguração de um período (l’âge classique) caracterizado pela busca de (ou do princípio de) uma identidade estável e separada: a da representação. Logo após a episteme pré-clássica – a da tal ‘prosa do mundo’ perseguida nos séculos XV e XVI, ou seja, durante a Renascença italiana – ter almejado unir palavras e coisas numa teia inconsútil de similitudes, a episteme clássica, consolidada nos séculos XVII e XVIII, empenhou-se em excluir qualquer relação possível entre ambas, em termos de semelhanças, introduzindo um esquema pré-figurado de ordens e de relações, baseado, por seu turno, em sistemas sígnicos nomeadores e classificadores do mundo. A expressão visual sintetizadora dessa nova táxis epistêmica – privilegiadora de uma ciência universal da medida (máthesis) e de um princípio taxonômico de tabulação – seria, para Foucault, o quadro de Velázquez, inicialmente intitulado A família e, alguns anos depois, rebatizado como As meninas, um dos mais conhecidos exemplos do virtuosismo figurativo do período. Se, como Foucault sustenta, foram as idéias de Descartes – as do primeiro Descartes: o das Regulae ad directionem ingenii (1628-9) – as que melhor teriam encarnado as possibilidades da episteme clássica da representação, quando esta ainda se definia no outono da episteme renascentista da similitude, Las meninas (completada em 1656), igualmente encarnou, com perfeição, a idéia de uma autoproblematização do jogo representacional, ao expor, de modo sutil, as suas normas intrínsecas de funcionamento. Em outros termos, Velazquez teria ali resumido as linhas de força de um sistema epistêmico alternativo, no qual aquilo em torno do qual gira a representação deve permanecer invisível (o lugar vazio dos soberanos é o lugar que será, na episteme seguinte – a moderna – ocupado pela figura do homem, do sujeito como um dado a ser levado em consideração). Para Foucault, o elogiado traço ‘simulacional’ velazquiano ocultaria, na verdade, uma proposta ainda mais ousada: uma tentativa simbólica de constituir visualmente a própria idéia de representação que se valeria, para tanto, dos recursos inerentes à máquina de pintar barroca: o tipo de olhar enviesado – desenraizado do tempo e do espaço – que funda a cena sendo, na prática, ‘desconstruído’ nesta fundação mediante uma série de pressupostos especulares vertiginosos. Sob tal prisma, o único elemento, com efeito, sugerido pelo quadro é o que fica ausente. Em vez de instituir uma relação simples de mímese, o tema principal do quadro, a saber, as figuras do rei e da rainha ficariam, no fim das contas, imperiosamente indicadas (ou dissimuladas pelo número excessivo de pistas fornecidas), por toda parte, como uma espécie de vazio essencial. Desligada de seu objeto, a representação acabaria se comportando como uma freqüentação ‘fantasmática’ de si mesma. 3 A resposta – se é que se pode chamar assim – de Foucault à ‘provocação’ de Magritte foi a elaboração de um pequeno ensaio cujo título - Ceci n’est pas une pipe - inspirou-se na frase mencionada. De certo modo, este se comportava como uma continuação implícita de As palavras e as coisas (embora direcionado a apenas alguns aspectos deste último) concentrando forças na descrição e na análise específica de duas telas – La trahison des images (1926) e Les deux mystères (1966). Movido por uma hipótese de trabalho – ou seja, a de uma possível (re)afirmação (de ordem puramente sígnica e não ilustrativa) do texto pela imagem e vice-versa – Foucault empenhou-se em elaborar, como já antecipamos, uma teoria geral da representação pictórica (constituída em torno das questões da semelhança e da similitude), centrada na dualidade entre ícone e símbolo, no entre-deux típico das formulações discursivo-pictóricas magrittianas. O argumento de Foucault acerca das propostas de Magritte é que o que vemos (ou custamos a ver) naquelas telas – segundo, é claro, estratégias diferenciadas – é um sutil velamento da idéia, propositadamente sugerida e incentivada pelo pintor, de um possível ‘terreno comum’ entre os objetos e os dispositivos lingüísticos que buscam designá-los. Amparado nessa convicção, ele argumenta que seria tal velamento que permite que nos sintamos estimulados a compará-los entre si, embora não tenhamos base alguma para tanto, muito menos para afirmar que se assemelham. Tanto a versão de 1926 quanto a de 1966 apresentam o desenho de um cachimbo e, embaixo dele, a inscrição que dá nome ao livro. O que as diferencia é a presença, na segunda, de um cachimbo adicional, que parece pairar sobre uma outra tela em seu cavalete, quase idêntica, por sinal, à da primeira (a cor do plano de fundo, contudo, as diferencia). Foucault procura explicar os motivos que levaram Magritte a lançar mão, em ambas, daquele enunciado que, tão categoricamente, nega o que, a princípio, nos é passado aos olhos como óbvio, isto é, o fato de que ali se encontram cachimbos. Se, em La Trahison, tal ‘contradição’ se limitaria a um conflito lógico entre a presença do objeto e o teor da frase que o ‘acompanha’, em Les deux mystères, como acabamos de dizer, um terceiro elemento – o cachimbo gigantesco e flutuante – decerto multiplica as incertezas e as possíveis decodificações. “Primeira versão, a de 1926, eu creio: um cachimbo desenhado cuidadosamente; e, embaixo (escrita à mão, com uma caligrafia regular, aplicada, artificial, uma caligrafia de convento, como se pode encontrar, a título de modelo, no cabeçalho dos cadernos escolares, ou sobre um quadro-negro, após uma aula dada pelo preceptor), esta menção: ‘Isto não é um cachimbo’”. Quanto à segunda, prossegue: “a outra versão – acredito que seja a última – pode ser encontrada em Aube à l’antipode. Mesmo cachimbo, mesmo enunciado, mesma escrita. Mas, em vez de serem justapostos em um espaço indiferente, sem limites nem especificação, o texto e a figura são colocados dentro de um quadro; ele próprio está apoiado sobre um cavalete e este, por sua vez, sobre as ripas bem visíveis de um assoalho. Acima, um cachimbo exatamente semelhante àquele que está desenhado sobre o quadro, mas bem maior”. 4 La trahison des images. não é uma composição que, a princípio, ofereça dificuldades: trata-se, com efeito, da mera exposição de uma figura e do texto que a nomeia. Magritte iniciou com ela uma série de interrogações – que o ocupariam por quase toda a vida – acerca das relações entre linguagem e coisa, entre representação escrita e visual. “Aqui, o contraste é afirmado por uma negação e parece baseado num jogo bastante simples: o enunciado negativo é ambíguo porque baseado num dêictico (‘isto’), que tanto pode se referir ao tema do desenho quanto ao próprio desenho”. A sensação de contradição nos é passada pela frase que nos alerta não ser um cachimbo aquela imagem enganosa, situada acima dela. A estranheza aqui não é causada por uma suposta contradição entre imagem e frase, já que ambos, não sendo enunciados, não podem, portanto, se contradizer. Seria a frase, então, fidedigna uma vez que o desenho que representa o cachimbo não é, ele próprio, um? Existe, entrementes, no quadro – é impossível negar isso – um outro enunciado, entrelinearmente inserido na imagem cujas formas caprichadas – dadas à verossimilhança típica dos vademécuns – parecem, por sua vez, querer nos garantir: “Somos um cachimbo. Olhe pra nós. Não nos parecemos com um?”. O escopo de um desenho tão esquemático não seria o de se fazer reconhecer, de deixar ‘aparecer’, sem equívocos, aquilo que ele representa, sendo inevitável relacioná-lo com o texto que o ‘designa’? E não é que aqueles, de repente, parecem ser mesmo os de cachimbo? Seu traçado de madeira enegrecida não teria sido elaborado com tal intenção, ou seja, a de nos convencer que, de fato, é uma coisa que se tem ali, que ali se mostra e oferece aos nossos olhos, já que parece, com efeito, ser uma? Não nos causaria espécie alguma se a frase fosse alterada e, por conseguinte, voltando atrás, afirmasse: “Isto é um cachimbo”. Na opinião de Magritte, se perguntássemos a um espectador o que vira em La trahison, ele, naturalmente, responderia que vira um cachimbo e, junto com ele, uma afirmação um tanto ‘incoerente’ a seu respeito. Contudo o belga, com a autoridade de mentor do quadro – assim como de um crítico perceptivo e atento às filigranas de sua opus – responderia, em alto e bom som, que ali nunca houve ou haverá um cachimbo acompanhado por uma afirmação ou uma negação quaisquer, porém, pura e simplesmente, uma imagem pintada. Não mais que isso: um conjunto de marcas, feitas à mão com um pincel embebido em tinta, na superfície de linho de uma tela comum. Trata-se-ia de uma típica composição magrittiana a explorar a idéia do que se pode chamar de ‘interpretação multívoca induzida. A imagem, ao mesmo tempo afirmando e negando a existência do cachimbo, como que nos incita a perceber sua condição de representação duplamente referenciada. Por outro lado, as palavras, ao afirmarem que não se trata de um cachimbo, e se afirmarem assim enquanto tais, indicariam sua condição de imagem, de representação de algo que apenas simula ser uma frase. Ao mesmo tempo, são oferecidos dois níveis de leitura e de interpretação – um que, explícito (visual) tensiona o implícito (lógico) e um outro que, implícito, relativiza o que é explicitado. [Cf. relação de dupla captura entre o texto e a imagem intestinamente configurada, em ambos quadros, pelas possibilidades lógico-semiológicas de consideração simultânea de uma ‘imagem escrita’ (regida pela verossimilhança lingüística) e de uma frase ‘pintada’ (regida pela verossimilhança plástica).] 5 Se Le trahison chama a atenção por sua curiosa simplicidade, a tela de 1966 é mais detalhada, provocando uma perturbadora incerteza no espectador quanto à relação entre as imagens e seus possíveis significados. “A primeira versão só desconcerta pela sua simplicidade. A segunda multiplica, visivelmente, as incertezass voluntárias. A moldura de pé, apoiada contra o cavalete e repousando sobre as cavilhas de madeira, indica que se trata do quadro de um pintor: obra acabada, exposta e trazendo, para um eventual espectador, o enunciado que a comenta ou explica. E, no entanto, esta escrita ingênua que não é exatamente nem o título da obra nem um de seus elementos picturais, a ausência de qualquer outro indício que marcaria a presença do pintor, a rusticidade do conjunto, as largas tábuas do assoalho – tudo isso faz pensar no quadro-negro de uma sala de aula: talvez uma esfregadela de pano logo apagará o desenho e o texto; talvez ainda apagará um ou outro apenas para corrigir o ‘erro’ (desenhar algo que não será realmente um cachimbo, ou escrever uma frase afirmando que se trata mesmo de um cachimbo). Malfeito provisório (um ‘mal-escrito’, como quem diria um mal-entendido) que um gesto vai dissipar numa poeira branca? Em Les deux mystères, como acabou de confirmar Foucault, estão presentes o mesmo desenho de um cachimbo e a mesma frase, só que agora envolvidos por uma moldura, contidos numa outra tela apoiada num cavalete situado por Magritte um pouco abaixo e à direita de um segundo cachimbo, bem maior que o primeiro e que parece ‘flutuar’, livremente, sobre o conjunto. Ali a relação conflitante entre o cachimbo “de baixo” e a frase que o acompanha permanece óbvia, não só em função de sua proximidade espacial, como pelo fato de sua relação ser intensificada pela moldura que os envolve. Até determinado momento, o cachimbo “do alto” parece isento e indiferente ao conflito, afastado de qualquer questionamento a respeito de si. No entanto, o espectador não demorará muito a também incluílo em suas perquirições. Afinal, a frase poderia estar negando não apenas o cachimbo que com ela divide o interior negro da moldura, mas igualmente o “do alto” que, ao não se mostrar estável em sua condição derivante, comportar-se-ia como uma espécie de sonho ou névoa que, por milagre, teria adquirido a silhueta de um cachimbo. Sobre ele, diz Foucault que “a enormidade de suas proporções torna incerta a sua localização (efeito inverso do que encontramos em Le tombeau des lutteurs, onde o gigantesco está captado no mais preciso espaço)”. Entretanto, de seu outrora aparente estado de indiferença, o cachimbo pintado parecerá desejar ser um de verdade, e não apenas um conjunto de linhas habilmente agenciadas no espaço retangular de um quadro. Nem mesmo a ‘frase emoldurada’ será capaz de se manter longe de um questionamento. A sensação de instabilidade refletir-se-á até mesmo no cavalete em que se apóia a moldura, que poderá, de súbito, desabar, reduzindo a pedaços tudo nela contido. E, sem sua presença, até que ponto, até quando, o cachimbo “do alto”, desmedido e sem parâmetros, conseguiria resistir à condição de solidão? 6 Um dos trechos mais interessantes do livro é o que versa sobre os recursos semióticos do caligrama, para o qual é dedicado um capítulo inteiro. Foucault se empenha em esclarecer nele porque a figura do cachimbo nos parece tão ‘estranha’. Tal fato ocorre porque o referente da sentença não verifica a imagem (que se parece bastante com a de um cachimbo). Logo adiante, busca explicitar o raciocínio a ser seguido para entender o processo, enfatizando que um desenho que representa muito bem um objeto não se torna, em função disso, ele próprio, aquele objeto. A inevitável relação entre texto e desenho fazem lembrar uma operação caligramática, em que palavras e imagens se completam para dizer algo, com as linhas composicionais conformando-se a partir do que é descrito textualmente. Fica a impressão, sem dúvida, de que Magritte construiu, em silêncio, um caligrama e, a seguir, com muito cuidado, o desfez e tratou de disfarçar. É sabido que os caligramas exercem, a rigor, um tríplice papel: a) o de compensar o alfabeto; b) o de repetir o que foi dito, sem o recurso da retórica; e c) o de prender as coisas na armadilha de uma dupla grafia, aproximando, ao máximo, o texto e a figura, de modo a apagar qualquer fronteira entre o dizer e o figurar, entre o articular e o reproduzir, entre o significar e o imitar, entre o ler e o olhar. Os caligramas, por sua natureza híbrida, garantiriam uma dupla captura da qual não são capazes os discursos por si sós e os desenhos em sua pureza visual. Comportar-se-iam antes como uma escrita que lança no espaço a visibilidade provável de uma referência, invocando os signos, do âmago da imagem que configuram – por um recorte de sua massa na página – aquilo de que falam. Segundo Foucault, Magritte lançou mão deste estratagema, concebendo tanto La trahison des images quanto Les deux mystères, a partir de uma separação prévia de seus elementos que, na confusão caligramaticamente ordenada, se apresentam, em via de regra, superpostos. La trahison representaria pedaços de um deles, desamarrado, aparentando querer voltar à sua disposição anterior e retomar as três funções, mas somente para pervertê-las e inquietar, desse modo, todas as relações lingüísticas tradicionais. Do passado caligráfico, as palavras conservariam sua derivação linear e seu estado de coisa desenhada. Sob tal ótica, não passariam de palavras que desenham outras palavras. Texto em forma de imagem. Porém, inversamente, os cachimbos prolongariam a escrita. Mais que ilustrá-la, completariam, de algum modo, o que lhe estaria faltando. Figura em forma de grafismo. Magritte teria, previamente, cruzado escrita e desenho e, quando desfez o hibridação, cuidou para que a figura retivesse em si a paciência escritural e que o texto fosse apenas uma representação desenhada. O texto nomearia o que não tem necessidade de ser nomeado, pois sua forma é bem conhecida, e a palavra muito familiar. No momento que deveria dar um nome, nega que seja um cachimbo. Esse estranho jogo de esconde-esconde é, na essência, o do caligrama ao dizer duas vezes (logo redundantemente) quando uma já seria suficiente. O ‘texto-figura’ retomará então seu lugar natural, abaixo do ‘desenho-frase’, enquanto que este permanecerá, formado pela continuidade das linhas. O cachimbo, agora autonomizado, parecerá dizer que é, sim, um cachimbo já que agora, sozinho, se representará melhor do que se o desenhassem palavras. Enquanto isso, a frase poderá passar-nos mais do que diriam seus próprios componentes. Separando a ambos, Magritte os faz dizer o que não seriam capazes de dizer sob a pressão da camuflagem caligramática, que sempre se baseia numa relação de exclusão: ao lermos o texto, não perceberemos o desenho e, ao olharmos o desenho, as palavras parecerão perder seu sentido textual para assumir o papel de linhas estruturantes. Um leque hermenêutico, que estaria fechado num interior significante, é, enfim, aberto e tornado freqüentável por tal ardilosa ação. 7 Outras valiosas colocações do ensaio dizem respeito ao alcance e à natureza da ruptura, efetivamente implementada por três artistas, relativamente ao que Foucault sustenta serem os dois grandes princípios poéticos da pintura clássica (em vigência, a seu ver, desde o século XV). O primeiro é o da separação entre representação plástica (que implica a semelhança) e referência lingüística (que a exclui). Far-se-ia ver pela semelhança, falarse-ia através da diferença, de modo os dois sistemas nunca se cruzam ou fundam. É preciso que haja subordinação: ou o texto será regrado pela imagem (quadros que representam um livro, uma letra…) ou a imagem o será pelo texto (que o desenho vem completar, como se encurtasse um caminho que as palavras estariam encarregadas de representar). O signo verbal e a representação visual jamais seriam dados de uma só vez. Sempre uma ordem os hierarquizaria, indo da forma ao discurso ou do discurso à forma. Foucault assevera que foi Klee quem aboliu a hegemonia desse princípio ao colocar em destaque, num espaço incerto e reversível, a justaposição das figuras e a sintaxe dos signos. Barcos, casas, gente, são, ao mesmo tempo, formas reconhecíveis e elementos de escrita. Não tratar-se-ia mais, agora, de um caligrama que joga com o rodízio da subordinação do signo à forma. Não tratar-se-ia também de colagens que captam a forma recortada das letras em fragmentos de objetos, mas do cruzamento, num mesmo tecido, do sistema da representação por semelhança e da referência pelos signos – o que supõe que eles se encontram num espaço completamente diverso daquele do quadro. O segundo princípio que teria regido, durante todo esse tempo, a pintura ocidental coloca a equivalência entre o fato da semelhança e a afirmação de um laço representativo. Basta que uma figura se pareça com algo para que se insira no jogo da pintura um enunciado evidente, mil vezes repetido e quase sempre clandestino: “O que vocês estão vendo é isto”, pouco importando se a pintura é remetida ao visível que a envolve ou se cria, sozinha, um invisível que se lhe assemelha. Para Foucault, foi Kandinsky quem rompeu com esse princípio com um duplo apagar simultâneo da semelhança e do laço representativo pela afirmação, cada vez mais insistente, das linhas e das cores, as quais, dizia ele, eram ‘coisas’, nem mais nem menos que o ‘objeto-igreja’, o ‘objeto-ponte’ ou ‘objetohomem cavaleiro com seu arco’. Afirmação nua que não toma apoio em nenhuma semelhança e que, à pergunta: “o que é isso?”, só pode responder se referindo ao gesto que a formou, uma ‘improvisação’, uma ‘composição’… 8 À primeira vista, ninguém estaria mais distante de Klee e de Kandinsky que Magritte. Foucault nos mostra, contudo, com que real intenção a pintura deste último prender-se-ia à exatidão das semelhanças, multiplicando-as, voluntariamente, como que para confirmá-las. Não seria suficiente que o desenho de um cachimbo se parecesse com um cachimbo. Tratar-se-ia de uma pintura empenhada em separar, cuidadosamente, o elemento gráfico e o elemento plástico. Estes só se superporiam em seus quadros sob a condição de o enunciado contestar a identidade manifesta da figura (que o nome parece sempre prestes a lhe atribuir). No entanto, o projeto de Magritte não seria estranho aos dos outros dois, constituindo, de preferência, diante deles e a partir de um sistema que lhes é comum, um esquema, ao mesmo tempo, oposto e complementar. A exterioridade, tão visível em Magritte, do grafismo e da plástica, seria simbolizada por uma não-relação ou por uma relação complexa e aleatória demais entre as telas e seus títulos. Magritte as nomearia tão-somente para salvaguardar a potência da denominação pois, num espaço quebrado, estranhas relações seriam tecidas, intrusões produzidas, substituições implementadas de modo a anular qualquer possibilidade representativa. Um bom exemplo da utilização de tais dispositivos ‘desrelacionais’ nos é fornecido por Personagem caminhando em direção do horizonte (1928), tela em que as palavras de modo algum se articulam, diretamente, com os elementos pictóricos, se comportando antes como meras inscrições ‘figurais’ sobre manchas e formas intencionalmente randômicas. Segundo Foucault, Magritte procederia, fundamentalmente, por dissociação (déliaison). Rompendo as ligações, estabelecendo sua desigualdade, ele teria levado tão longe quanto possível a continuidade indefinida da similitude. Se a semelhança tem um ‘padrão’, um elemento original que ordena e hierarquiza todas as suas cópias, o similar magrittiano se desenvolveria em séries possíveis de se percorrer em qualquer sentido, que não obedecendo a hierarquia alguma, se propagariam de pequenas em pequenas diferenciações. Se a semelhança serve à representação, que reina sobre ela, a similitude remeteria à repetição que corre através dela. Retornando ao desenho-de-um-cachimbo que tanto se assemelha a um cachimbo e àquele texto escrito que se tanto se assemelha ao desenho-de-um-texto-escrito, lançando esses elementos, uns contra os outros (mediante uma justaposição forçada) ou, simplesmente, expondo-os aos bel-prazeres do fora do encontro, é possível observar como eles próprios acabam anulando a semelhança que, aparentemente, traziam em (dentro de) si e, pouco a pouco, passam a fomentam uma rede aberta de similitudes acontecimentais. Finalmente livre das exigências do cachimbo-coisa e do texto-coisa – à sua indiferença ontológica a qualquer desenho ou palavra – cada símile de Isto não é um cachimbo bem poderia manter aceso esse discurso enganosamente negativo – pois se trata apenas de negar, com a semelhança, a asserção de realidade que ela comporta que, no fundo, é afirmativa – da ordem do simulacro, do sentido sempre disperso na languidez do que pretende ser. Jorge Lucio de Campos (Brasil, 1958). Poeta e ensaísta. Autor de livros como A vertigem da maneira: pintura e vanguarda nos anos 80 (1993), A dor da linguagem (1996) e À maneira negra (1997). Contato: jorgeluciocampos@bol.com.br. Página ilustrada com obras do artista René Magritte (França). revista de cultura # 39 - fortaleza, são paulo - junho de 2004 Gerald Thomas: "Não quero e não posso aparecer no Brasil tão cedo" (entrevista) Antonio Júnior . Em janeiro de 1984, estréia a primeira versão de All Strange Away, de Samuel Beckett, no palco do histórico La MaMa Experimental Theatre Club, em Nova York. Na direção, um carioca que daria muito o que falar nas décadas seguintes: Gerald Thomas. De volta ao mesmo teatro este ano com Anchor Pectoris, ele lotou a casa e foi ovacionado pela crítica local. Em crise com os seus próprios valores e com o mundo que o rodeia, além de decepcionado com o processo e a polêmica gerados com a exposição de suas nádegas no final da estréia da ópera Tristão e Isolda, no Teatro Municipal (RJ), o diretor prepara uma nova montagem norte-americana em cima da popular figura de Dom Quixote e escreve sua autobiografia, Notas de Suicídio, onde promete nada esconder. Aos 49 anos, Gerald Thomas já dirigiu 70 montagens em 12 países, trabalhou com ícones como Fernanda Montenegro e foi parceiro amoroso de atrizes do quilate de Giulia Gam, Fernanda Torres e Beth Coelho. A nossa conversa – e amizade – se desenvolveu on-line nos últimos dois meses. Teve como ponto de partida uma paixão mútua, o dramaturgo irlandês Samuel Beckett (1906-89), que foi amigo pessoal do nosso entrevistado. [AJ] AJ - Como situa ANCHOR PECTORIS em sua carreira? GT - Olha, querido, foi uma volta e tanto ao lar, vamos dizer assim. La MaMa é o teatro onde comecei a minha carreira teatral, há mais de vinte anos. Então, foi uma emoção e tanto esse retorno nietzscheano. Fiz tudo lá, os Becketts, ou seja, as premiéres mundiais de Beckett. Depois viemos pro La MaMa com a Companhia Brasileira de Ópera Seca, com a Trilogia Kafka. Quando desembarcamos aqui com Flash and Crash no Lincoln Center, em 1992, foi uma catástrofe para Ellen Stewart, a fundadora do La MaMa, e isso foi tomado como uma ofensa pessoal. Demorou anos pra ser curado. Prometi um monte de espetáculos pra Ellen mas nunca consegui entregá-los por falta de verba. Ela nunca me perdoou. Então, quando ela, do nada, de repente me convida para (em 12 dias) criar, escrever, musicar e iluminar e dirigir um espetáculo com uma companhia nova, aceitei o convite na hora. Anchor Pectoris foi um estouro. O East Village veio em peso e a “volta ao lar” foi tudo o que tinha que ser. Mas me deixou num estado completamente melancólico e esse eterno retorno me atrofiou. Não tenho resposta pra isso. AJ - O título é uma referência ao termo que ilustra a depressão também como uma âncora no peito. Esta obra é resultado de uma crise pessoal? GT - Justamente o que estava dizendo. Crise total! Ao mesmo tempo, tendo delegá-la pra outros trabalhos de forma metafórica, analógica ou metalingüística. Exemplo? Dom Quixote – nesse momento ainda trabalho com o titulo provisório de Bloom’s Quixote’s Expedition (simplesmente porque as iniciais BQE também servem para a Brooklyn Queens Expressway, que é a maior via expressa que liga dois dos maiores bairros aqui em Nova York). O espetáculo será feito num terreno baldio debaixo dela (é uma via elevada) e o meu dom Quixote é o Arthur Bispo do Rosário, magnífico louco genial artista, o maior de todos, o dadá brasileiro, o Colombo brasileiro confinado a um manicômio e que via lá seus monstros assim como qualquer um vê os seus, assim como eu vejo os meus. AJ - O dramaturgo Samuel Beckett é a sua maior referência teatral? GT - A maior de todas em texto, estética, mas não cenicamente. Cenicamente é Tadeuz Kantor e talvez o Robert Wilson. Ou Pina Bausch. Difícil dizer...as influências são muitas. Devo muito a Kafka e Dante por exemplo, mas até que ponto eles que não são teatro e sim literatura não me levaram até o teatro...entende? Nem sempre o teatro influência o teatro. Francis Bacon o pintor tem mais a ver com o meu teatro, assim como Marcel Duchamp também tem. Filosoficamente estou mais perto do cinema de Glauber do que de qualquer teatrólogo. AJ - Como foi sua convivência com Beckett? Dizem que ele era um homem difícil. GT - Nada difícil. Tímido, deprimido, retraído e não queria ver ninguém. Até hoje não acredito que ele me via com tanta freqüência. Conversávamos sobre absolutamente tudo, desde quem estava trepando com quem na classe teatral de NY até – ele me testava muito sobre o quanto eu sabia sobre sua obra – seus próprios textos. Citava de repente, uma frase solta de uma de suas peças e eu tinha que responder de qual peça se tratava, ano em que havia sido escrita etc. Alto, magro....parecia uma escultura de Giacometti, assim como seus personagens. Falava num irlandês baixíssimo. Ele era “O” Beckett, mas sempre fazia com que a gente fosse grande, nos os visitantes fossemos maiores do que ele. Estava sempre deprimido, não sabia se conseguiria continuar. Olhava, às vezes, pro vazio por horas a fio. Dava aflição. Abaixava a cabeça. Ficava lá, de cabeça baixa. A maior e mais generosa figura da minha vida. AJ - Seu mundo interior, Gerald, é uma resposta ao mundo externo? GT - Cara... não sei mais diferenciar a imagem pública da privada. E isso é serio. Não sei mais se sofro na primeira ou na terceira pessoa. Não sei mais se a questão do ego ficou tão grande que o “ser humano” aqui dentro (e, portanto, seus problemas físicos, emotivos, etc.) ficou “on hold” ou negligenciado.Ou se só consigo me ver no planeta terra enquanto me justifico através da minha arte. Não me considero tendo valor nenhum enquanto não produzo. No entanto reconheço que isso não é normal. Mas não tendo o que dizer e como dizê-lo, me sinto “unworthy”, inútil, abaixo do nível do mundo. É o fim! AJ - O livro que você está escrevendo, NOTAS DE SUICÌDIO, é uma autobiografia? GT - Totalmente! Conto tudo sobre esses 49 anos que me trouxeram até aqui. E se chama Suicide Note porque eu começo onde Alan Schneider (o velho diretor de Beckett da década de 50, 60 e 70) foi morto em Londres atropelado por um ciclista, a 500 metros de onde eu morei, cruzando a rua. Ele era norteamericano e olhou pro lado errado no cruzamento de pedestres. Beckett havia me contado – em meados dos anos oitenta – que ele morria de rir com as mil e uma teses que os acadêmicos teciam sobre quem era Godot, e o que era Godot... quando na verdade, Godeaux era um ciclista no Tour de France que, em 1938, simplesmente não chegou até o Champs Elisées... e as pessoas ficaram lá esperando por dias e dias e dias... e ele jamais apareceu e nunca mais se ouviu falar do cara. Pra encurtar: Scheider teve seu Godot (ou Godeaux), seu ciclista, mesmo que 50 anos depois e mesmo que em Londres, pois ao postar uma carta pra Beckett em Paris, ele foi pego, caiu de mau jeito e morreu. Começo Suicide Note dizendo que estou andando naquela mesma rua 40 vezes ao dia, esperando que o meu Godot chegue também. AJ - No seu trabalho existe uma espécie de paixão pelo anticonformismo. É proposital? GT - Sou assim na vida. Sou assim quando vou ao banheiro. Sou assim quando ouço notícias. Não agüento ir dormir. Mas também não agüento acordar. AJ - Como é o seu processo de criação? Você é racional ou aposta no inconsciente? GT - Não sei mais diferenciar um do outro, sinceramente. Nesse mundo em que vivo, não sei mais a diferença. Olha em volta, olha a loucura, olha o desespero! Ele é racional ou é inconsciente? AJ - Já foi casado com várias atrizes. Como lida com elas no seu trabalho? A intimidade amorosa não interfere no processo criativo? GT - Esse é um assunto tão delicado, mas tão delicado nesse momento que prefiro não entrar nele. Depois que li uma entrevista da Fernanda Torres no Globo faz umas duas semanas, percebi que somos todos uns alienígenas e que tenho mais é que calar a boca mesmo sobre meus casamentos e que somente quando Suicide Note sair é que as pessoas saberão o que se passou por trás do palco. AJ - O que pensa dos críticos que dizem que o seu trabalho é provocador e visual, não valorizando o texto e os atores? GT - Honestamente já não leio mais os críticos. Os mesmo que acabam comigo são os mesmos que me deram todos os prêmios Moliéres, etc. Ha uma relação tão intensa e tão antropofágica no Brasil que dá engulhos. AJ - Quem apontaria como fundamental para o desenvolvimento do teatro brasileiro? GT - O estudo profundo de toda a obra de Nelson Rodrigues como sendo matéria obrigatória em todos os colégios e faculdades. É incrível, mas nem mesmo o pessoal que faz teatro conhece a fundo a obra de Nelson, que definitivamente está entre as cinco maiores do mundo e de todas as épocas. AJ - O escritor francês Raymond Radiguet dizia que a vanguarda começa em pé e termina sentando muito rápido, ou seja, se referia à cadeira da Academia. Você se considera de vanguarda? GT - É um tema delicado. No momento estamos todos estatelados olhando uns nos olhos dos outros nos perguntando o que fazer. Típico de virada de século, virada de milênio. Não há uma vanguarda parecida com a outra, porque não há uma época parecida com a outra. Nessa nossa época “virtual” terá que aparecer a resposta, digamos, adequada. Ela ainda não apareceu. AJ - Quais os seus projetos? Algo para o Brasil? GT - Não quero e não posso aparecer no Brasil tão cedo. Ainda não fui inocentado pelo tal ato obsceno. Além do mais, sofri de over exposure. Melhor dar um “tempo” de Brasil. - obra selecionada de gerald thomas All Strange Away (1984) Trilogia Beckett (1985) Quartett (1986) Carmem com Filtro (1986) Eletra com Creta (1986) O Navio Fantasma (1987) Trilogia Kafka: Um Processo - Uma Metamorfose - Praga (1988) Mattogrosso (1989) M.O.R.T.E. (1990) Fim de Jogo (1990) The Flash and Crash Days (1991) Esperando Godot (1991) Narcissus (1994) O Sorriso do Gato de Alice (1994) Unglauber (1994) Doutor Fausto (1995) Nowhere Man (1997) Moises e Aarao (1998) Tristão e Isolda (2003) Anchor Pictoris (2004) Antonio Júnior (Brasil, 1970). Poeta e ensaísta. Autor de O aprendiz do amor (1993), Ficar aqui sem ser ouvido por ninguém (1998), ArtePalavra - conversas no velho mundo (2003). Dirige a revista literária virtual No Silêncio da Noite. Contato: antonio_junior2@yahoo.com. Página ilustrada com obras do artista Carlos M. Luis (Cuba). retorno à capa desta edição triplov.agulha índice geral jornal de poesia revista de cultura # 39 - fortaleza, são paulo - junho de 2004 Gilce Velasco: a mulher e os jogos Daisy Peccinini . A pintura de Gilce Velasco atinge um de seus grandes momentos; paira sobre a emanação de cores, formas e luzes de suas telas, acima de tudo, força imaginativa, cheia de frescor e sinceridade. E por que não? Verdade, que só pode se instaurar na obra pictórica com potência, como avalia Hegel, quando a arte preside a obra, dando-lhe esta qualidade. Nesta série, a artista atingiu um nível de maturidade, de sinergia entre a percepção/criação e a elaboração/materialização de sua arte. O jorro criativo que gerou a série “A Mulher e os Jogos” resultou do mergulho no mais profundo do ser feminino, de um intenso e íntimo olhar-se e reolhar-se, num processo de automatismo aflorado de forma mais livre, e talvez mais leve, em relação ao surrealismo histórico. Não deixou de ser conseqüente à sua iniciação no processo do automatismo pictórico junto ao mestre surrealista argentino Victor Chab, que muito contribuiu para que Gilce Velasco soltasse as amarras do imaginário interior. A artista se envereda com coragem em um processo e ação de espelhamento do interior de si mesma. Apresenta-se, em fragmentos, a mulher sensual, sedutora em jogos com o mundo e com impulsões eróticas de si mesma bem como de outros. Optando por diagonais, apresenta partes, quase nunca a cabeça, de um corpo feminino primitivo e sedutor, expondo seios fartos, coxas grossas e nádegas generosas, que se confrontam com a atmosfera dinâmica e relacional do contemporâneo. Esta conjunção entre o primitivo e o contemporâneo se manifesta na composição das telas, em flashes de imagens, dispostas em diagonais; são, relâmpagos, vindos do imaginário profundo. Acentuam simultaneamente a sensualidade feminina, nos seus equipamentos naturais de atração, defrontando-se com o mundo. São jogos de relações entre o erótico feminino com o masculino, mediante símbolos e metáforas fálicas; como por exemplo em “El Toro”, “A Serpente e os Seios” e,“El Beso”, bem como emanações do universo feminino pessoal, em “Menina”, “Rosto e Corpo” e “Rosto e Barriga”. Apresenta também um lado guerreiro; enfrenta de peito aberto, o contexto atual, as engrenagens do sistema, como em “Vida Urbana: Mulher e Máquina“ e com uma visão crítica da mulher-narcisa, em “Manequim”. Neste processo de aprofundamento interior, chega à completude do feminino com “Mulher Contente”, como também ao princípio masculino, que abriga em si, e que emerge em “Homem Feliz”, finalizando esta parte da série de jogos, relacionada ao corpo. Em suas pinturas, a artista utiliza cores fortes e primitivas preto, branco e vermelho e nuances de cinzas e rosas - que,em algumas telas, dialogam com verdes secos, laranjas e ocres - e uma prática particular de impregnar de luz as pinturas, marcando fulcros luminosos, que pulsam em brancos clarões ou fazendo vibrar fortemente as zonas do vermelho. Em outra parte da série, Gilce Velasco dá um mergulho na memória da infância em uma alegre e deliciosa evocação dos jogos infantis. Afloram em imagens sintéticas, flutuantes na névoa das recordações, os brinquedos - tambor, bola, bicicleta, pião, carrinho, avião entre outros. A fantasia e a alegria de criança marcam estes brinquedos, que ocupam espaços oníricos, iluminados por clarões de postes de luz, ou dispostos sobre campos de cores claras, ou ainda pelos núcleos luminosos de suas formas sutis, de simulacros. Neste circundar em torno de seu eu profundo, a artista, entre o erótico e o infantil, projeta seus jogos plenos de imaginação e sensualidade e convida-nos aos jogos da viagem em torno e dentro de nós mesmos. Daisy Peccinini (Brasil). Crítica de arte. Pertence à Associação Internacional de Críticos de Arte. Contato com a artista: gilcev@uol.com.br. Página ilustrada com obras da artista Gilce Velasco (Brasil). retorno à capa desta edição triplov.agulha índice geral jornal de poesia revista de cultura # 39 - fortaleza, são paulo - junho de 2004 Israel Pedrosa: poéticas da cor nascente Mirian de Carvalho . A produção artística de Israel Pedrosa entrelaça instâncias poéticas e resultados de pesquisas científicas por ele iniciadas a partir da visão da Cor Inexistente. Fascinante desvelamento de matizes, luzes, sombras. Assim como numa história encantada. Era uma vez uma tarde. Era uma vez “um barranco cortado em desmonte” (Da Cor à Cor Inexistente, de Israel Pedrosa. 9ª ed., Léo Christiano Editor, Rio de Janeiro, 2000) para dar passagem a ruas da cidade. E, ao surpreender vegetais ressequidos, o atento olhar do artista se dirigiu ao “efeito da harmonia dos tons que iam do amarelo puro à coloração da terra-de-sombra-queimada”. No chão, alguns papéis. Na lida da casa, “uma mulher estendeu no varal três lençóis brancos”. Então, sobre o branco, espraiou-se intenso violeta. Para o pesquisador, a intuição de um fenômeno físico. Para o artista, o êxtase cromático. Era o início das poéticas da cor nascente: cobrindo a cama da tarde / as três bandeiras do vento: / e aos lençóis as violetas / tingindo o parto da cor. O domínio da Cor Inexistente foi estudado por Pedrosa, e materializado em sua pintura, gerando desdobramentos teóricos e estéticos inseridos nas séries denominadas Variações Cromáticas e Formas Virtuais, apresentadas nesta mostra de acrílicas e serigrafias, reunindo essas três experiências do cromatismo. Três poéticas da cor, conduzindo o olhar à dinâmica dos matizes. Da musicalidade dos contrastes surgem as “tintas” da Cor Inexistente, aninhando-se em áreas brancas ou neutras. Intrínseco às Mutações Cromáticas, o desvelamento da ação mútua das cores originando diferenças do mesmo matiz nos meandros pictóricos. Nas Formas Virtuais, a eclosão de tensões e movimentos da cor, seguindo direções transientes entre retas e curvas. Nessas três circunscrições da harmonia das diferenças cromáticas, a cada instante nasce a cor. O que nasce aos olhos, vive dentro de nós. E o que vive... ilumina a expressividade do diverso. Na produção artística de Pedrosa, encontram-se inúmeras obras figurativas. Mas, quase sempre referidas as três séries desta mostra pela recorrência à Geometria, lançamos olhar diverso a estes trabalhos ora reunidos. Enfatizamos a dimensão ontológica da Pintura, através de uma “interpretação” do espaço instaurado pela gênese da cor. Nascedouro da cor / nascedouro do espaço. Em descese ao universo pictórico, o espaço geométrico transformase em lugar poético. Não mais o espaço definido pelo conceito. Não mais o espaço neutro e homogêneo. Surge o lugar tonalizado pela cor nascente. O lugar com valor de cor. A cor fluindo em aproximações e fugas. Dinamizando áreas na amplitude do percurso visual, a pontuar no quadro lugares desejados pelo pintor. Lugares cromáticos. Contrastes gerando harmonias. Sincronia das tintas transformando tintas. Cores transformando o olhar. Olhar transformando o mundo. Na pintura de Pedrosa, a cor eclode diversificando-se. Diversificando áreas neutras ou matizadas. Vivendo a singularidade do diverso. Ressaltando tonalidades. Captando nuanças. Os lugares cromáticos revelam cores em transparência, ou compactadas, ultrapassando o fechamento implícito à forma. Por isso aludimos ao espaço no sentido poético. Criando e expandindo regiões diferenciadas, a cor não se atém ao campo restrito da relação figura-fundo: noção relacionada à demarcação espacial. Inscrito no domínio da Cor Inexistente, o matiz se torna sensação primeva de uma luminosidade atual, criando lugares de insurgência da cor, a “tonalizar” e dinamizar na tela áreas neutras. Mas não se trata de ilusão de ótica. Espaços neutros tornam-se regiões de cor ativa, preenchendo sentidos na agudez da visualidade desse fenômeno físico e estético. da transformação. Nas Mutações Cromáticas, a hierarquia na relação figurafundo se dilui, em virtude da dinamogênese da cor, a criar na tela diversidades entre regiões cromáticas, a partir do mesmo matiz. Tais regiões extraem da repetição a diferença, enquanto a cor se desnuda em tonalidades múltiplas, sendo a mesma. Aqui, o ser assume o devir. Da similitude salta o diverso. Ao olhar, o constante aprendizado Deslizando em Formas Virtuais, o campo pictórico rompe por completo a relação figura-fundo, e se lança ao dinamismo da cor inventada pelo pincel criando efeitos que induzem o olhar a romper os limites do suporte. Navegadores da Vela ao Vento, lançamos nossas naves às roupas de arlequim ondulando regiões cósmicas. Ouvimos o vento sussurrando direções da cor. Pressentimos imaginárias costuras desfeitas nas vestes abertas do tempo. E percebemos lugares em transformação. Direções a serem reveladas, enquanto as formas se desfazem para acolher espaços cromáticos. Nessas três variações dadas à fruição estética, a Pintura não se reduz a esquemas demarcadores da “forma”. Atuando no plano sensível, as poéticas da cor nascente desmarcam espaços, para criar sentidos enfatizados na dialogia do colorido, originando lugares nascentes. Lugares expressivos de sutis diferenças de valor e tonalidade. Atentos aos desígnios do poético, percebemos que, através do controle dos fenômenos perceptivos, Pedrosa encontra a linguagem singular e múltipla do universo cromático, transcendendo o fenômeno físico. O pintor busca e encontra o “além-da-cor”. Realiza o além-da-forma. O além-da-técnica. Dinamizando as cores, Pedrosa alcança a essência da Pintura. Por meio dos contrastes de luzes e sombras, ele desvela as nuanças dos matizes. Rastreando a vida, o pintor tangencia o sentido da luz. Momento áureo do encontro da razão e do sensível. Epifania do mundo renascendo em nós... quando, nos espaços do quadro, o olhar inaugura instante e perenidade do luminoso nas poéticas da cor nascente. Navegante do ar, a Vela ao Vento simboliza o devaneio das delicadas mutações oscilando no pêndulo das coisas que vivem. Mirian de Carvalho (Brasil). Doutora em Filosofia, professora de Estética da UFRJ, membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte e da Associação Internacional de Críticos de Arte. Autora de A escultura de Valdir Rocha (2004). Contato: mir3@infolink.com.br. Página ilustrada com obras do artista Israel Pedrosa (Brasil). revista de cultura # 39 - fortaleza, são paulo - junho de 2004 Los sueños sanguíneos de Irene Arias José Ángel Leyva . Tomado de un frase del cineasta y escritor Francisco Sánchez, el título de esta muestra pictórica que ahora presenta Agulhan: “El sueño imposible de la vida perdurable”, vierte la seducción que ejerce el tema de la vida más allá de la muerte, de la perdurabilidad de la tierra convertida en sangre, es decir, del color de la necesidad y del deseo. En el juego de sus significados, el verbo plasmar -él plasma o ella plasma-, deviene en líquido y en forma, en sustancia y en luz, en sangre y en color. Así, el artista desaparece la ausencia para convertirla en presencia o en apariciones que plasman sobre la superficie hechos que suceden en el interior de la existencia. Irene Arias emprende el desafío de plasmar el plasma de la vida rompiendo el cerco de la oscuridad, captar el aleteo de las criaturas que se refugian en la noche, entre las sombras de la imaginación y de los sueños, de las leyendas y de la oscuridad de los tiempos. Plasmar o entintar, colorear y manchar los espacios donde se ha descubierto el juego de la pasión de la muerte por la vida o de la vida que se alimenta de la muerte para seguir sangrando. Plasmática es, entonces, la paleta que registra el pulso de la creación seducida por la trascendencia y la inmortalidad, por el sueño imposible de la vida perdurable. Imágenes que son gotas, salpicaduras, rastros, desgarrones, presentimientos y sensaciones que se ven con los ojos cerrados y con la mente abierta. Movimientos y pinceladas que levantan el polvo y las cenizas del misterio para sugerir, en 54 cuadros de diverso formato, distintas facetas de una temática asociada en principio no tanto con el horror o lo macabro, sino con el deseo, con la sed inagotable del dolor, que es, en este caso, pasional y mística, ritual y enigmática. Muchas son las pistas literarias y visuales que Irene ha recorrido y asimilado, lo mismo va de la poesía al cine, de la narración al tratado, pero en su discurso hay una digestión propia de las fuentes, podría decirse que literalmente vampírica, pues la parte que nos revela de esa dimensión maldita, o proscrita, no es precisamente la siniestra, sino la dramática, la pasional, la que seduce por oponerse al destino, la que se fuga y se transforma en argumento intemporal, eterno. La utopía del vampiro es, de algún modo, semejante a la ambición del artista, permanecer gracias a la vida que le dan los otros, ya sea a través de la lectura o de la contemplación. ¿Cuántos miles o millones de ojos estarán alimentando esta exposición que anhela ser mirada, que aspira a ser visible? El creador puede desaparecer y pasar a la inexistencia, pero quizás su obra pueda darle vida, abrirse paso en la memoria, reproducirse en la imaginación de los espectadores. Muchas son las resonancias culturales que emite la muestra de Irene Arias, pues no se limita al vampirismo en su sentido transilvánico, o al carácter descriptivo de los seres que chupan y beben la sangre de sus víctimas, sino además a la función del sacrificio, de la ofrenda para mantener la esperanza, la luz, la tierra, el buen retorno al mundo de los inexistentes. Ello nos hace pensar no sólo en la esfera de los mortales, también nos conduce a la dimensión de los dioses. Quetzalcóatl hizo penitencia perforándose el miembro viril con largas espinas de maguey y rociando con su sangre los huesos sagrados del inframundo, de los cuales habría de surgir el hombre. Los otros dioses no habrían de perdonarle tal sacrilegio y lo condenarían a severos castigos. Cómo no podrían entonces los humanos ofrecer a sus divinidades la sangre que les fue concedida también con dolor y sacrificio. El cromatismo de Irene nos empuja hacia el mensaje de la sangre, hacia el calor de su envase y hacia la intensidad del color que se derrama, se vierte, se coagula, tiñe y mancha la visión de las ausencias. La pincelada sugiere el frío de la losa, pero mantiene con frecuencia la temperatura corporal de la sustancia, el efecto publicitario del carmín y del granate. Si una persona se enfundara en telas de esos tonos resaltaría seguramente más la virtud apetitosa de las formas y la carne, antes que el carácter sepulcral de su destino. Benetton lo sabe y lo utiliza, incluso en las fotografías en las que Toscani nos confronta con la tragedia, es decir, con el dolor, incluso con el sufrimiento que engendra la indolencia, la estupidez destructora, la barbarie tecnológica con su signo aniquilante, eliminador. El asesinato individual, en serie o en masa que nos despoja del gusto por vivir, que nos asesta un golpe de vacío en el alma. Irene hace una ofrenda de color, de sugerencias que invocan la otredad, al Eros que dialoga con Thanatos. Sus cuadros hacen posible el sueño de la vida perdurable, pues como dijera Calderón de la Barca, “los sueños, sueños son”. La relación entre la plástica y la poesía no es tan antigua como la que existe entre la poesía y la música, pero es un antiguo vínculo entre las palabras y los iconos. Sin embargo, es en la modernidad donde esa conexión adquiere su mayor sentido. El espíritu del Renacimiento primero y después el del Romanticismo, dieron carácter a dicha búsqueda de complementación. Sobre todos los románticos, vieron en el arte un campo de libertad y de rebeldía, de fusiones y de encuentros con lo extraño y lo distante. El sueño fue el encuentro con el yo más profundo, con el instinto estético, con la originalidad y con la universalidad. Ese motor de la modernidad, reconocido como Romanticismo, abrió un cauce a las propias corrientes subversivas que pretendían negarlo en su afán vanguardista, en su agitada dinámica por la novedad. El hombre moderno, siempre distinto de sí mismo, como dijo Rimabud, perseguía sonámbulo las imágenes poéticas, fuese en el campo de la literatura o en el de las artes plásticas. La imagen que expresó Vicente Huidobro en su “Arte poética”: “Por qué cantáis la rosa. ¡oh Poetas!/ Hacedla florecer en el poema”, es la esencia de esa fuerza creadora también de los pintores poetas o de los poetas pintores, como sucedió con los modernistas, en cuyo pináculo se halla Darío. En fin, la autenticidad del artista viene de ese encuentro consigo mismo, de ese hallazgo del otro que sigue siendo él. Esto sólo puede ocurrir en un acto fundacional en los dominios de la poesía, el resultado puede aparecer sobre la pantalla, el escenario, el papel, la piedra, el bronce, la madera o el lienzo. Lo poético es lo único que puede aproximarnos a lo inexplicable y hacérnoslo sentir, hacerlo comprensible. Es este el caso de la obra de Irene Arias, cuyo color proviene de un sedimento poético. No sólo porque su hermana fue una de las poetas más prolijas y de mayores alcances en Durango, México, Olga Arias, y con quien seguramente la unía un hilo sensible y una conversación interminable, sino porque en Irene hay una cultura literaria y plástica que le permite extraer imágenes de un manantial cromático y verbal, en el sentido de una expresión que no requiere explicarnos su naturaleza para tocarnos muy adentro. Gran parte de su obra muestra cuadros colmados de tierras durangueñas, de cielos intensos, de evocaciones y de actualidades. Una pintura que hace referencia a un alma delicada y a una personalidad vigorosa: Irene Arias en los terregales luminosos de Durango. Es esta la reflexión adelantada de su exposición. Lo poético es el carácter visual de Irene Arias, pintora que expresa con la fuerza del color y de las formas el ámbito interior de sus miradas. Poseedora de un lirismo plástico, la artista mazatleca, de naturaleza duranguense, nos expone un paisaje terrenal y onírico, un recorrido por geografías, culturas e historias visitadas o deseadas. Irene Arias ejecuta sus cuadros con la energía del asombro matinal o con la nostalgia del crepúsculo, y a menudo con una luz carmesí, en ámbitos carmines, cármenes y alientos. Más que en estados de ánimo, el abstractismo y el figurativismo de Irene se conjugan en ámbitos de soledad y de desierto, donde vivir y florecer es descubrimiento, hallazgo de sí misma. La obra de Irene sugiere con vehemencia los territorios de su intimidad, entre incandescencias y sombras, en escenarios de telones y de tierras yermas, de fuegos y de escombros. Los vientos que trae su pincel encienden y apagan, avivan o contienen los silencios. El drama de su pintura no contiene la sensación del vacío de los románticos, el juego de absurdos aparentes del surrealismo, ni la dinámica del accidente provocado del expresionismo abstracto o el vuelo caligráfico de oriente, y sin embargo coexiste todo ello en su paleta de un modo sutil e intencionado, propio. La poesía cromática de Irene evoca y actualiza las huellas en los muros y el paisaje. La historia es asunto del presente y el sueño es continuación de la vigilia y a la inversa. El símbolo es textura y es color, mancha y forma, geometría y fondo, línea y chorro, tierra y tiempo. Irene Arias cultiva su poética como las verdes plantas espinosas que crecen en la aridez y el polvo, en la corteza y en la entraña. José Ángel Leyva (México, 1958). Poeta, ensayista, narrador, periodista y promotor cultural. Autor de libros como El espinazo del diablo (poemas) y Lectura del mundo nuevo (ensayos). Actualmente es codirector de Alforja, revista de poesía. Contato: jangel_leyva@yahoo.com. Página ilustrada com obras da artista Irene Arias (México). retorno à capa desta edição triplov.agulha índice geral jornal de poesia revista de cultura # 39 - fortaleza, são paulo - junho de 2004 Louise Bourgeois: el tránsito de la memoria Miguel Ángel Muñoz . La crítica de arte es una mezcla de observación y fantasía. David Carrier Recuerdo perfectamente (y me abstengo de la retórica primera persona del plural, que vía el poeta francés Yves Bonnefoy, tan excelente resultado procura a la obra de Bourgeois), mi primer contacto con Louise Bourgeois, - nacida en París en 1911 y nacionaliza estadounidense en 1951, la cual, tras casi medio siglo de oscura trayectoria artística, sólo recientemente se ha convertido en admirada figura de culto -, curiosamente no fue a través de su obra, sino con ella en París a principios de 1994. Un recuerdo para aportar elementos, no sobre mi cosmopitalismo, sino sobre la penetración europea de una de las artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. En 1938 se trasladó a vivir a Nueva York, ahí inició cursos en la Art Stundents League, y se consagra definitivamente a la escultura, a partir de 1949. El espíritu del surrealismo, ya presente en sus primeras telas, se prolonga en la obra escultórica. La artista produce al principio piezas antropomórficas de madera de aspecto monolítico, o bien, apilamientos de fragmentos sostenidos por un eje metálico, aislados o agrupados. Se libera de la frontalidad realizada, con diversos materiales, distintas combinaciones de masas informes. En 1966 - su primera exposición individual fue en 1945 en la Galería Bertha Schaefer de Nueva York - decide participar en la exposición Eccentric Abstraction, y la crítica Lucy Lippard afirma que “rara vez un arte abstracto ha estado tan directa y honestamente informado por la psique del artista”, lo que le confiere a Bourgeois un papel, en oposición al minimalismo, de precursora de un arte subjetivista y antiformalista. En este sentido, Bourgeois continuó su carrera de forma independiente, muchas veces ante la indiferencia general de la escena artística americana, hasta que el MOMA le montó una muestra retrospectiva, cuando la artista había cumplido 71 años. Bourgeois es una artista instintiva, vital, amante del derroche de energía y de la voracidad formal, que entre los elementos de su aproximación a la creación cuenta con la fuerza plástica y una innata maestría para el tratamiento de los materiales escultóricos. Este espíritu ha centrado su poética en una expresión íntima, aunque la amplia experiencia americana le cambió la escala, lo cual la ayudo a ocupar el espacio físico y a proyectar polémicamente su carácter creador. Su enorme éxito a partir de finales de los setenta, se debe en cierta forma a la crisis del severo formalismo americano, y su represora censura sobre lo íntimo y lo simbólico, los rieles de cualquier narración más o menos autobiográfica, como es la obra de Bourgeois. La artista se sirve del dibujo, del collage, la instalación y la escultura, con la que realiza variaciones, repeticiones, inversiones y giros, manteniendo un orden rítmico y un sentido global de la composición. Cada obra es un sistema de formas y líneas, no de símbolos: lo poético se convierte en duda, en signo. Es consecuencia de la exaltación de la memoria. El proceso que desencadena Bourgeois recuerda al del prestigitador, que arroja luz mediante un descubrimiento repentino. Sus esculturas - objetos no son alegóricas, parecen hablar solo de sí mismas o de su relación con el espacio, la memoria, la arquitectura y, sin embargo, es deslumbrante en sugerencias. Asuntos como el de la ingravidez (a pesar de utilizar materiales y formas densas); la belleza estricta de los objetos y sus cualidades; la ausencia de encoladuras y solduras superfluas, todo ello configura una estética que posee la sensibilidad de lo nítido y de una sorprendente colocación. La escultura deja de ser un objeto sobre un pedestal y se mezcla, sin perder su identidad. En este sentido, el eje plástico de Bourgeois no es simplemente una definición de espacios, sino construcción de la memoria o, si se quiere, reflexiones sobre una identidad genérica. Sobre todo en la obra escultórica y dibujística, donde la figura de la madre adquiere una dimensión sobresaliente (que se han mostraron en sus exposiciones retrospectivas en el Centro Georges Pompidou de París, en 1995, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, 2000 y en el Museo Guggenheim de Bilbao, 2002). Es la imagen de la razón, de la fortaleza, de la protección, es una Ariadna con cuerpo de araña, amable y atenta, desprovista de la carga devoradora y negativa que le dieron algunos surrealistas. Significado inseparable de la imagen, lenguaje que a su vez es forma radical. Quizás la artista tiene un procedimiento más irónico, ingenioso y alusivo; es decir, se eleva por encima de las simples formas; define lo objetivo, compacto, difuso y extenso del dibujo; imita los recursos de cualquier línea: responde a la evolución antirromántica y a una búsqueda de expresiones que son parte de cierta sensibilidad moderna o, tal vez, muy antigua. Si observamos en retrospectiva la obra de Louise Bourgeois, podremos encontrar que hay una unidad cromática concreta; esto es, la primera revelación contundente al respecto se produjo a partir de la visión de sus dibujos - veáse los grabados de He Disappeared into Complete Silence (1947) y The Destruction of the Father (1974) - que mostraron claves para entender las obras más herméticas de su producción resiente, y desde luego, marcan un antes y un después, pues significaba la liquidación simbólica de la figura del progenitor. Ella misma ayudó a modificar la perspectiva crítica, evolucionando su temática a partir de la década de los 70, cuando las vanguardias pasaron de moda, y Bourgeois abordó toda clase de formas históricas, revelando una inteligencia analítica sagaz e irónica. En su proceso escultórico ha venido reforzándose esa capacidad para retener una idea estética a través de formas simplificadas. En el 2002 Bourgeois presento en una galería madrileña su obra reciente, recuerdo unas figuras decapitadas, como era el caso de Arch of Hysteria, (2000/2002), destacando por consiguiente las partes del cuerpo más emocional en detrimento de lo racional. Pero las cabezas de Bourgeois están lejos de exhibir rasgos y marcas reconocibles. Lo que siempre ha interesado a Bourgeois no es el detalle fisionómico o la expresión facial como determinante para comprender la supuesta verdad de la psique, sino una expresividad más vaga e inconcreta (recuerdo por ejemplo, instalaciones como Guarida articulada, 1986, Sin salida, 1989, Paisaje peligroso, 1997, Silla y tres espejos, 1998, The confessional, 2002). Los objetos parecen signos movibles, como animados por una voluntad mágica; a su vez, el sentido se despliega como un encuentro poético o un sueño mineral imaginario. Bourgeois ha atravesado un largo corredor de silencio, y de pronto, su obra ha cobrado una inusitada actualidad. Aunque la artista posee una trayectoria ceñida a ciertos temas vásicos, recurrentes, su obra siempre logra una solidez sorprendente. Louise Bourgeois: breve descripción de mi carrera Mi primera obra de madurez (realizada entre 1945 y 1951) fue una talla directa en madera, realizada en tamaño real. Las formas eran severas y simples, delgadas, espigadas, y estaban pintadas (en su mayor parte en blanco y negro) no para lograr efectos coloristas, sino todo lo contrario: para aumentar la unidad visual de cada parte y para evitar cualquier efecto romántico de los materiales. Estas formas extremadamente simplificadas, cuya sencillez las hacía aparentemente abstractas, fueron concebidas y funcionaban como figuras, cada una con una personalidad propia debido a su forma y su articulación, interactuando unas con otras. Eran figuras de tamaño real en un espacio real que se habían realizado para ser vistas en grupos, y así fueron expuestas en las dos muestras de la Peridot Gallery, en 1950 y 1951. Estas obras fueran las primeras en mostrarse a modo de “instalación” (si bien este término no se utilizaba en aquella época), y desde entonces se ha escrito mucho acerca de la considerable influencia que ejercieron. Este asunto de la abstracción simbólica por medio de la creación de formas, que sugiere tanto la estructura de la geometría como la individualidad humana, ha sido una preocupación constante en mi obra. Continué tallando en madera mis esculturas de la década de 1950. Éstas también mostraban la relación simbólica de las formas simples, pero los contornos de estas formas eran ahora más suaves, lisos, y se amontonaban en grupos anclados a una base común. En aquella época escribí sobre una pieza titulada One and Others (1955, Whitney Museum), cuyo título podría servir para muchas otras, señalando mi interés en la relación entre el individuo, su entorno y mi deseo de traducir este interés en composiciones, estructuras visuales simples y elementales, siempre situadas en el lado opuesto del sentimentalismo. Durante los últimos años, si bien he seguido trabajando en madera, he comenzado a trabajar en yeso, bronce y, recientemente, en mármol. He continuado haciendo obras de unidades fusionadas y también de ensamblajes. Si acaso, mis formas son más simples, pero sus relaciones resultan más complejas. También he cambiado gradualmente desde la rigidez hacia la maleabilidad, y desde la rectitud vertical hacia las formas espirales y las estructuras que se abren dentro de una piel envolvente para revelar ritmos internos. El deseo y la tendencia de toda mi obra (que creo haber alcanzado en algunas piezas) es la de descartar lo superfluo con el fin de lograr relaciones claras y fundamentales, cuyos ritmos estructurales simples tienen un significado visual y que por esta razón comunican un ánimo simbólico. A través de mi enseñanza en Brooklyn y en Pratt, también a través de mi experiencia con los obreros en las fundiciones de Francia e Italia, he llegado a advertir cómo los nuevos materiales pueden aliviar los métodos más tradicionales, además, al dejar que el artista sea al mismo tiempo un creador u un técnico, le permiten lograr efectos novedosos con materiales consagrados. Esto, en consonancia con el propósito de mi escritura, que en esencia sigue siendo el mismo, ha sido el eje que sustentan mis esfuerzos más recientes. Miguel Ángel Muñoz (México, 1972). Poeta, historiador y crítico de arte. Es autor de los libros de ensayos: Yunque de sueños. Doce artistas contemporáneos; La imaginación del instante. Signos de José Luis Cuevas; Ricardo Martínez: una poética de la figura. Es director de la revista Tinta Seca. Contato: miguelangelmunoz@prodigy.net.mx. Página ilustrada com obras da artista Louise Bourgeois (França). retorno à capa desta edição índice geral jornal de poesia revista de cultura # 39 - fortaleza, são paulo - junho de 2004 Manuel Bandeira y la lengua veraz del pueblo Rodolfo Alonso . Hay grandes poetas de cuyas vidas poco o nada sabemos, y cuyo fulgor parece depender exclusivamente de sus textos. Hay otros a quienes el destino les depara que su existencia se convierta en parábola, y entonces se produce el estallido que los convierte en mito. Pero hay además otras instancias, ya que en estas lides no cabe, con honestidad, maniqueísmo alguno. La vida de Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho, que nació en Recife el 19 de abril de 1886, hijo de un ingeniero que lo quería arquitecto, aparenta ser de una cotidiana serenidad: solterón, sedentario, profesor, funcionario, académico, longevo. Cuando murió, el 13 de octubre de 1968, se había convertido, sin proponérselo, en uno de los más justamente célebres y difundidos poetas del Brasil. En 1904, tras una infancia que siempre recordará como muy feliz, enferma gravemente de un pulmón. La tuberculosis deja sus secuelas en plena juventud: una hemoptisis que lo obliga a interrumpir los estudios y lo confina a una vida de absoluto reposo, que acentuará su temprana inclinación por la lectura y la escritura. A ese primer contacto con la muerte se agregó en 1916 la pérdida de su madre, a quien estaba muy ligado, y que daría comienzo a una serie de fallecimientos que, en el curso de seis años, le harían perder a toda su familia. Resultaría fácil entonces apuntar que esa presencia tan temprana de la tragedia (“Continué esperando la muerte para cualquier momento, viviendo siempre como de manera provisoria”), es la causa de la evidente ligazón amor-muerte que aparece desde un primer momento en su poesía, y cuya elaboración –no sólo en un sentido psicoanalítico- constituiría probablemente uno de sus dominios esenciales. Pero Bandeira no se abandonó a la autoconmiseración ni a la desesperación. Aunque en su primer libro, A cinza das horas (1917), afirma “Yo hago versos como quien muere”, el poeta que había leído desde muy joven a Guillaume Apollinaire comenzaría pronto a abandonar las sutilezas del simbolismo para emprender un camino propio. Con la aguda ironía de su pueblo, en el contexto de una naturaleza exuberante y sensual, no sólo apeló al sentido del humor sino que logró convertir su propia vida en un milagro: “Me preguntó un amigo si yo creía en milagros. Por su gesto, él no creía. Le respondí que sí, que creía, que en mí mismo, en muchos aspectos, veía un ejemplo de milagro”. Es el mismo Bandeira quien, en una cronología de su vida preparada para la primera edición de su poesía completa, destaca lo trascendentes que fueron para él las primeras relaciones extrafamiliares de su infancia, el hecho de haber tomado contacto con la calle “y con la gente humilde como una especie de intermediario entre su madre y los proveedores, vendedores ambulantes, carniceros, verduleros y panaderos”, al mismo tiempo que comenzaba a conversar sobre literatura con su compañero, el futuro filólogo Souza de Silveira, vecino de Machado de Assis. Sin duda de allí surgió la fuente viva de su experiencia del lenguaje, que nunca cesaría de nutrirlo; y a ello aludiría claramente, tiempo después, en su largo poema autobiográfico “Evocación de Recife”: “La vida no me llegaba por los diarios ni por los libros / Venía de la boca del pueblo en la lengua errónea del pueblo / Lengua veraz del pueblo / Porque él es quien habla sabroso el portugués del Brasil / Mientras nosotros / Lo que hacemos / Es macaquear la sintaxis lusíada”. Es imposible ocuparse de Manuel Bandeira sin referirse al modernismo brasileño, un movimiento al mismo tiempo vanguardista y popular, desencadenado en São Paulo a comienzos de 1922 y cuyas benéficas consecuencias todavía hoy nutren las mejores experiencias literarias y artísticas del Brasil. A diferencia de otros movimientos de vanguardia, el modernismo brasileño no predicó ni recayó en un universalismo abstracto, sino que percibió de manera orgánica las posibilidades reales y liberadoras de una literatura nacional asumida sin formalismos ni retórica, sin preconceptos ni prejuicios. Apropiándose de un idioma activo, los modernistas supieron aprovechar el experimentalismo y la libertad de la vanguardia; y por lo general excedieron las limitaciones de la especialización profesional. Así, un hombre clave como Mário de Andrade (que definió a Bandeira como “el San Juan Bautista del modernismo brasileño”), fue no sólo poeta y narrador sino también lingüista, musicólogo y etnógrafo, tan experimental como brasileñísimo – en realidad develador de lo brasileño, como en mayor o menor medida lo fueron todos los auténticos modernistas, con Bandeira a la cabeza. De todo ello, búsqueda y concreción de una literatura nacional sin caer en chauvinismos, uso libre y despreocupado (pero a la vez exigente y preciso) del lenguaje y los estilos, con el oído más atento a los ritmos de la vida que a las reglas de la preceptiva, presencia creadora del puebo como protagonista de su propia cultura, vigilancia permanente de la más fina ironía, puede encontrarse una excelente muestra en la obra y en la vida de Manuel Bandeira. Bandeira no es sólo un poeta original, sino que puede ser considerado con justicia el padre de la moderna poesía brasileña. Porque aun habiendo comenzado por otros rumbos, en la estela del ineludible Camões o en las ricas resonancias del simbolismo, es justamente en su propia obra –a partir de Ritmo dissoluto (libro aparecido en 1924), pero sobre todo con Libertinagem (de 1930)- donde los presupuestos básicos del modernismo brasileño se hacen plenamente evidentes. Su sensibilidad sólo necesitó coincidir con la generación de 1922 para ubicarse en su contexto, tomar vuelo y cobrar tanto expansión como hondura. Al igual que el espléndido cacto de su célebre poema, en cuyas pocas líneas alcanza acaso a irradiar como parábola todo el Brasil, su lirismo también es “bello, áspero, intratable”. Decididamente volcada a percibir y transcribir las vivencias y los modismos, la sangre y el lenguaje de la vida brasileña, su poesía supo eludir los riesgos de un pintoresquismo superficial para hacer manar, desde sus legítimas fuentes, lo que tenía en común con las vertientes de la mejor poesía contemporánea. Superando la hoy ya diluída dicotomía entre épica y lirismo, Bandeira suele servirse de una escritura cuasi narrativa, que sin embargo se concreta luego como una metáfora mayor, sumamente plástica, casi siempre relacionada con elementos de la realidad trascendidos o sublimados pero nunca traicionados, y profundamente lírica. Una poesía que, en la cumbre de una vida cumplida, con Mafuá do malungo (que en 1948 João Cabral de Melo Neto editó en Barcelona) quiso demostrar a la vez su exigente homenaje a la extrordinaria poesía de circunstancias que acaso fue siempre, en el mejor de los sentidos, y que ancló tanto en su experiencia personal como en la realidad de su país y en el lenguaje vivo de su pueblo: “Sin duda no cuesta nada escribir un trozo de prosa y después distribuirlo en líneas irregulares, obedeciendo tan sólo las pautas del pensamiento. Pero eso nunca fue verso libre. Si lo fuese, cualquier persona podría poner en verso hasta el último informe del Ministro de Hacienda. Esa engañosa facilidad es causa de la superpoblación de poetas que infecta ahora nuestras letras. El modernismo tuvo eso de catastrófico: trayendo a nuestra lengua el verso libre, dio a todo el mundo la ilusión de que una serie de líneas desiguales es poema. Resultado: hoy cualquier subescribiente de municipio con ataque de celos, cualquier niñita desilusionada del novio, cualquier balzaquiana desubicada en su ambiente familiar se juzgan habilitados para competir con Joaquim Cardozo o Cecília Meireles”. Para quienes sugieren (olvidando las primicias de Vicente Huidobro) que los movimientos latinoamericanos de vanguardia sólo se explican como reflejo de lo ocurrido en Europa, se puede responder que el surrealismo, por ejemplo, recién se desencadena en París en octubre de 1924, mientras que en 1922, en la provinciana Trujillo, César Vallejo publica su segundo libro, Trilce, donde plantea y probablemente agota experiencias de renovación que recién mucho más tarde se encararían en el Viejo Mundo; y también que precisamente el modernismo brasileño, a partir de ese mismo año 1922, sin dejar de ser radicalmente de vanguardia, iba a demostrar su originalidad esencial al resultar al mismo tiempo profundamente nacional. Los movimientos vanguardistas y revolucionarios nacidos en los países europeos fueron esencialmente internacionalistas, ¿pero cómo hubiera podido serlo el vanguardismo de un país en gestación, cuya identidad estaba en permanente combustión y cambio? Y en esto la cuestión del lenguaje resultaría absolutamente crucial. Con la lucidez necesaria para no quedar atrapados en el regionalismo pintoresco y superficial, las mentes más lúcidas del modernismo, como Mário de Andrade y Oswald de Andrade, defendieron la necesidad de brasileñizar el portugués literario siguiendo el lenguaje contagioso y fecundo que hablaba el pueblo brasileño. Y también en esto Manuel Bandeira resultó un adelantado. Después de todo, fue él quien precisó que “Para Mallarmé, como para todo verdadero poeta, la poesía se confunde con el lenguaje, y, como explicó Valéry, es lenguaje en estado naciente”. Cada vez con mayor nitidez, a partir de Ritmo dissoluto (1924) y más abiertamente desde Libertinagem (1930), Bandeira logra construir una gran poesía –desenfadada, musical y emotiva-, que no se limita a incorporar la riqueza del habla popular sino que la asume orgánicamente desde su interioridad, lo que da como resultado exactamente lo contrario de lo que algunos ingenuos imaginan como “color local”. Así se explica que en su libro De poetas e de poesia (1954), dedique el ensayo inicial a ocuparse con lucidez y rigor de Mário de Andrade y la cuestión de la lengua, y el segundo a conmemorar el centenario de Stéphane Mallarmé, reivindicando la excelencia del gran poeta francés – y desconcertando a quienes sólo consideraban a Bandeira como un poeta ligado a lo coloquial y a lo descriptivo. Por el contrario, si lo vemos como el niño tan introvertido como perceptivo que asimiló la rica sonoridad metafórica y poética del lenguaje del pueblo brasileño más por empatía que por raciocinio; como el adolescente que leyó a Apollinaire en Pernambuco y que pudo orientar los pasos nada menos que de Paul Éluard; como el joven que logró influir en un movimiento tan original y vigoroso como el modernismo brasileño, comprenderemos que Manuel Bandeira (como Dante Alighieri lo había programado ya en su De vulgari eloquentia) haya sido uno de los primeros artistas brasileños capaces de incorporar el “idioma vulgar” de sus paisanos, la música encarnada de los pregones callejeros que deslumbró su niñez, en una poesía digna de la dantesca “gloria de la lengua”, en un lirismo capaz de no desdeñar (ni idealizar) sus orígenes, sin desmentir a Mallarmé: “La vida no me llegaba por los diarios ni por los libros / Venía de la boca del pueblo en la lengua errónea del pueblo / Lengua veraz del pueblo”. Rodolfo Alonso (Argentina, 1934). Poeta, tradutor e ensaísta. Autor de livros como El jardín de aclimatación (1959), Sol o sombra (1981) e Lengua viva (1994). Publicou mais recentemente Estrella de la vida entera, de Manuel Bandeira (2003). Contato: rodolfoalonso2002@yahoo.com.ar. Página ilustrada com obras do artista Carlos M. Luis (Cuba). retorno à capa desta edição triplov.agulha índice geral jornal de poesia revista de cultura # 39 - fortaleza, são paulo - junho de 2004 Murilo Mendes y João Cabral de Melo Neto: dos hispanistas brasileños Márcio Catunda . Los poetas brasileños Murilo Mendes y João Cabral de Melo Neto, de los cuales se reconoce la capacidad expresiva y la extraordinaria dimensión constructivista del lenguaje, son ejemplos de autores que consagraron su obra a temas relativos a la cultura española. En los libros Tiempo Español, de Murilo Mendes, Sevilla Andando y Andando Sevilla, de João Cabral de Melo Neto, ambos poetas intentaron, en sus procedimientos metafóricos, alcanzar el objetivo estético de una idea esencial de la civilización española. En esos libros, los elementos concretos y conceptuales de la realidad española aparecen con el vigor de sus contrastes y las ciudades españolas son poéticamente recreadas con color y racionalidad. Los dos expresaron, a través de la imagen más directa posible, sus cosmovisiones de la patria de Cervantes. Murilo presenta en la citada obra, algunos de los fértiles y mágicos universos urbanos españoles. João Cabral, apenas Sevilla. Quizá el absoluto cabralino en poesía. De ellos se puede afirmar que son adeptos a la precedencia de lo imagístico sobre lo discursivo, de la conciliación de contrarios, la búsqueda de máxima intensidad en un espacio mínimo. Murilo Mendes tiene por dato más significativo, según el poeta y crítico Haroldo de Campos, la disonancia que establece en el campo de la imagen. El ritmo sincopado y las elipsis, que sugieren analogías y paralelismos, sostienen la amalgama de símbolos, imágenes y mitos que elabora en su laboratorio lexicográfico. João Cabral de Melo Neto, de la misma estirpe, sigue semejante línea de composición constructiva, configurando en su poesía el despojo de todo lo superfluo y el gusto de la imagen visual de táctil sustantividad. Se trata de una construcción racionalista y objetiva, impregnada de elementos concretos. El crítico Antonio Houaiss llama “mentación poética” a las características de su poesía, su reacción contra el vicio retórico y el sentimentalismo epidérmico, su contenido racional, el realismo de un lenguaje duro, prosaico, casi narrativo, y sin embargo lleno de metáforas, efectos sonoros, recursos métricos y apoyos fonéticos. El libro Tiempo Español, publicado en 1959, puede ser elucidado a través de los ensayos de la obra titulada Espacio Español, escrita en prosa y a posteriori (1966-1969). En Tiempo Español el poeta pone sus técnicas de escritura a servicio de la interpretación del conocimiento del mundo español. Con plasticidad visual y disonante rítmica devela “la España problemática y antagónica, sufrida y altiva”, en el decir del murilista Julio Castañon. Su talento y su talante de atraer lo terrestre y lo celeste, lo animal y lo espiritual parecen adecuados para configurar las vicisitudes españolas, a través del perfil de sus ciudades, sus escritores, pintores, poetas, toreadores, místicos, su arquitectura, sus ritos, sus paisajes. “Tiempo Español” presenta un proceso de sustantivación, de condensación poética, de depuración en que se conjugan la concisión del lenguaje y la fulguración imagética. En ese sentido, cada poema es un agente dialéctico de la conciliación del contacto de España como idea, pensamiento, con España como experiencia cotidiana y paisaje, conciliados en la totalidad de España como cultura. España re-inventada en la hispanidad absorbida en poetas, prosadores, pintores, guerreros, héroes y santos de la constelación hispánica. Es un libro que incorpora la temática histórico-geográfico-cultural, al tratar los elementos culturales con relación al espacio geográfico y al horizonte histórico español. La historia de España está presente en cada cosa o persona nombrada y trasfigurada en el espacio del lenguaje. El conocimiento del mundo cultural y espiritual hispánico es expuesto y transfigurado hermenéutica y heurísticamente. Así, por ejemplo, al trazar el perfil poético de San Juan de la Cruz, plantea la fe como un problema fundamental del espíritu. Considera la capacidad del santo poeta de vivir intuyendo la faz del diamante y ocultándolo. Tratándole “con ternura castigada.” Murilo Mendes nutre su ingenio con la perplejidad suscitada por la capacidad de aquel fraile de “vivir consumido de su gracia”, de no temer su pérdida en noche oscura. Se inspira en la sensibilidad del poeta místico, absorbido en la consideración de lo esencial, entre las azucenas olvidado, a sabiendas de que “para ser todo es preciso ser nada”. En lo que concierne a la transfiguración literaria de las ciudades, Murilo Mendes presenta Ávila como espacio donde “el aeronauta conduce a bordo la palabra silencio”. En el espacio secreto de esa ciudad austera y castigada, el poeta se sintió revigorizado por el regocijo de encontrarse entre los arquetipos de la fe y se declara “nutrido por el sol interior que enciende el esqueleto”. Como expana en la prosa de Espacio Español: Ávila es la Iglesia de Santa Teresa, definida por Pío X como “imán del mundo”, y por Ramón Gómez de la Serna como “la gran flamenca de lo místico”. Asimismo Murilo Mendes evoca a la santa de la casa de Cepeda, cuyo “íntimo substrato es el fuego”, que invita “a eludir lo superfluo”. Ávila es la tierra mística y tradicional, honesta y dura, donde se escribe en las tabernas “es prohibido blasfemar”, y donde la carmelita descalza fundará sus castillos interiores. Segovia es definida como “enjuta Segovia, nervio expuesto de Castilla”. Aparentemente todo en Segovia está ubicado en lo alto. El acueducto, en su extensión, que “supone un peso largo y ligero”. El “lenguaje sólido de los planos de arquitectura opuestos”. La ciudad vista como una dimensión basada en majestad y delicadeza. En “El Día de El Escorial”, el poeta contempla el monumento en “el espacio el espacio el espacio abierto”. La repetición del vocablo espacio en disposición gráfica, con grandes intervalos espaciales configura la amplitud a que el poeta quiere referirse. “Desmembrada de la angustia del tiempo,/larga es la faja de El Escorial: moviendo el espacio/subiste abstracta/en la arquitectura de la sierra que supone/la fatiga del hombre”. El monasterio es una construcción lógica, donde se encuentran conjugadas las nociones de tiempo y de espacio, armonizando las líneas vertical y horizontal. Representa una idea infinita dentro del área de lo finito. Es la materialización del sueño de Felipe II, quien quiso catolizar Europa. Dice el rey, personaje del poema: “he construido el cielo futuro”. Toledo es observada en la división de sus dos superficies: la superficie de la solidez e intensidad y la superficie de la soledad y del silencio. La intensa roca sobre la cual se ubica la ciudad es una “peñascosa pesadumbre”. Aquí se evoca la palabra peso y la resonancia de Garcilaso de la Vega, citado en “Espacio Español”: “Estaba puesta en la sublime cumbre/del monte, y desde allí sembrada,/aquella ilustre y clara pesadumbre,/de antiguos edificios adornada”. La arquitectura de Santa María la Blanca es una soledad blanca en el ocre de Toledo. La faz de la España judía,/silencio de planta y azulejo. En su espesura concreta, Toledo aparece como el Greco la pintó: el máximo de intensidad en el mínimo de espacio. Domenicos Theotocopuli es el prototipo humano de la ciudad: supo incorporarla hasta el hueso. La tijera de Toledo separa España en dos partes, relativas a sus elementos de Europa y África. El río Tajo, que “transporta siglos arcillosos”, divide España horizontalmente, en dos mundos, donde otrora se ubicaron los reinos cristiano y moro en el territorio peninsular. Madrid es un encanto jamás medido por monumento o paisaje. Su mayor monumento es el hombre. Es la ciudad donde el poeta disfrutó de la amistad de los grandes de la literatura española, entre ellos a Dámaso Alonso y a Vicente Aleixandre, sus íntimos amigos. El encanto de madrileño viene de su “pueblo denso, nervioso, sensible/que sabe amar, dialogar, dividir goce y trabajo, racionalizar su pena/y engañar el cronómetro”. Explica Murilo Mendes en los teoremas de “Espacio Español”, que Madrid es una ciudad que lucha por su pan diario, pero no abandona la fiesta. “Hoy es día de huelga, mañana de verbena, sábado, de corridas”. “Ese encanto viene aún de tus mujeres intensas/nacidas para lucir/; de tus espacios abiertos/cantantes, comunicantes;/de tus aires circulares /filtrados en los altos filtros /de la sierra de Guadarrama”. Sopla en Madrid un viento afilado/de conspiración permanente”. Madrid hierve, se siente en todas partes la pulsación de su pueblo. Es una ciudad que camina, lucha, sueña y vive para hoy. En su luminosa prosa, el poeta cuenta una anécdota de los tiempos de la dictadura: el cardenalarzobispo de Toledo y primado de España, Plá y Daniel, publicó una pastoral en la que advierte que “es peligroso para los enamorados pasear de manos juntas”. El poeta, que era un católico practicante, reía de una tal pretensión incompatible con la índole madrileña. Sus conceptos sobre Sevilla permiten establecer comparaciones con la Sevilla expuesta en poesía por João Cabral. En ambos poetas, la ciudad es alabada por sus cualidades humanas, su similitud femenil, la personificación de un modelo estético. La de Murilo es “musa de la sangre/viene desde lo romano hasta el barroco. Cabalgó luna creciente,/pero su marca es el sol./ Formada para cantar,/Sevilla, morena, es blanca./Formada para danzar,/Sevilla, cristiana, es mora. En estas calles femeninas/suponiendo clavel y espliego, pasa el Cristo apuñalado,/moreno hijo de España. Sevilla se mueve en curvas, torna plástica la pasión./Con presteza de torero/despide la saeta en el aire. Sevilla blanca o morena/bailaora, cantaora,/sabe a celos y menta,/suscita la fuerza de la sangre”. Es un lugar carnal, explosivo, donde la fuerza telúrica se infiltra en todas partes. Ciudad de fiestas y bailes, de sensualidad magnética. Todo en Sevilla conduce a la seducción y al encanto: la temperatura, los jardines, la gracia y belleza nativas, el estado de excitación a que tal vez contribuyan los espiritosos vinos andaluces, el estado de fiesta a la vez sagrada y profana, la fuerza humana del flamenco. El dinamismo y la reciprocidad de que vive el flamenco, su participación mutua. La noche sevillana montada en toro negro. A la manera de Federico García Lorca, “Sevilla es una torre llena de arqueros finos./Sevilla para herir,/Córdoba para morir”, Murilo Mendes se declara siempre herido por la saeta de Sevilla, que no tiene cura ni pretende tenerla, pues concita y nutre su alma con el saber que Sevilla existe y con el restituir su visión hembra. Córdoba es la tierra de Lucano, Séneca, Averroes y Góngora. Su estructura tersa/toda nervio y hueso, contenida/en laberintos de cal/y en patios de vida secreta” El estilo seco, severo, de la ciudad proviene del azul de un cielo metálico, de la coherencia de la arquitectura de los palacios con fuentes y paredes de azulejos, patios y jardines, las calles solitarias, sordas, plazuelas íntimas donde el diálogo cede el paso al monólogo, las sombras se ajustan a la cal. Tierra gloriosamente generada en las entrañas de los califas. Según Góngora: “fábrica escrupulosa y aunque incierta, / siempre murada pero siempre abierta”. La mezquita, el cuadrilátero con su prodigioso parque de 888 columnas de mármol y pórfido verde-violeta, alterado durante los siglos, con el injerto de una iglesia cristiana. Córdoba, la más africana de las ciudades españolas, nos propone una síntesis concreta de Oriente y Occidente. Granada simboliza “el genio africano injertado en el castillo de Europa,/la tensión de dos culturas dispares;/en el límite de ese templo épico/la certeza geométrica de la cruz. Caminar sobre sus terrazas altas y plataformas o atravesar lo interno de sus palacios y tocar el territorio del agua. “El agua árabe explosionando en los jardines del Generalife, la Sierra Nevada y la vega cercanas, el tono vital, altísimo”. El agua es el culto supremo de estos moriscos, dijo Azorín. La mirada busca el Albaicín, barrio gitano, donde se concentraban los moros en la época de la Reconquista. Granada del duende de Federico García Lorca, su pasión gitana, andaluza. Al celebrar la fineza y la rudeza de España, Murilo Mendes resume las tres ciudades andaluzas con los siguientes adjetivos: Granada es la más espectacular y fantástica. Sevilla es la más femenina y festiva, Córdoba, la más enjuta y secreta. En cuanto a João Cabral, su estilo disertante y plástico configura estados y vivencias elegidos por su preferencia estética. Entre los lugares de su identificación temática, Sevilla es la ciudad musa, cuyas virtudes, en todo momento, el poeta compara a las de la mujer. Es una especie de modelo universalizante de espacio humano. De hecho, el poeta llega a decir que es necesario “sevillizar” el mundo. En todos los lugares donde trabajó como diplomático, João Cabral hizo prospecciones poéticas, fabulando su experiencia de viajero en forma prosódica. Pero jamás dedicó tanto de su elocución literaria como lo hizo con la geografía, la historia y las costumbres sevillanas. Cabral se impregnó de la magia del recinto sevillano, se hizo íntimo de sus hábitos y secretos. Veamos algunos ejemplos de eso. En el poema “La Luz de Sevilla”, dice que “lo que hay (en Sevilla) es una luz interna, luz que es de dentro, de ella arde. Luz de las casas blanqueadas con cal/que viene desde abajo hacia arriba/que viene desde adentro hacia afuera/como el agua de un pozo. … Luz de clara alegría interna/de diamante extremo, de estrella”. La luz representa para el poeta el don de ver y vivir, la gracia de andar por la ciudad o andar la ciudad en su periplo imaginario. La luz simboliza el propósito clarificador de su enunciación. En el afán de develar el sentido poético de los elementos cotidianos, su invención o mentación incorpora temas chistosos al poema, como en “El Mito en Carne Viva”. En ese texto cita a una sevillana de habla graciosa, a quien, al preguntarle su opinión sobre el dictador Franco, le contesta que era como “la sierra del Alcor, bajita mas toda en granito”. Añade que el tirano nunca supo distinguir quien era Pepe Luis o quien Manolete, ni saber si estaban cantando un fandanguillo o un martinete. A él le gustaba “ver soleares danzadas por obispos”. Alaba el carácter animado y encendido de Sevilla, “donde lo alegre toca lo profundo”. Y la confronta con sus competidoras, para mejor realzar su valor: “Madrid? Es el lugar donde vas a danzar, mas hay demasiados carros./ Barcelona? Danzar es en vano,/no aplauden, se sientan sobre las manos” . En el libro Sevilla Andando (1987-1993), declara en el poema “El Secreto de Sevilla”, que “Sevilla es un estado de ser”. Confirma esa sensación espiritual de vivencia en sintonía con la ciudad, en el poema “Ciudad de Nervios”, al encontrar el secreto de Sevilla en su “saber existir en los extremos/como llevando dentro la chispa que re-enciende a cualquier tiempo”./ La personifica para descubrir “la textura de la carne/en la materia de sus paredes,/buena al cuerpo que la acaricia:/que es femenina su epidermis” “...Sevilla es más que todo, nervio”. En “Sevilla de Bolsillo”, ve la ciudad como “una atmósfera/ que nos envuelve, donde quiera que uno esté,/que llevamos donde vamos/que crea para mi un entorno”. Esa experiencia de sentir la existencia de un lugar físico es como algo familiar, entrañable, la exprime en el texto de “Ciudad Viva”: Sevilla es una ciudad viva/como la sevillana que la habita,/y que, andando, hace andar/todo por donde ella pasa. Lleva dentro de sí, con gratitud, el recuerdo del placentero ambiente urbano, que es una presencia permanente en su memoria: “mal canté tu ser y tu canto/mientras te estuve, diez años./Cantaste en mí y todavía tanto,/cantas en mí tus dos mil años” (“El Aire de Sevilla”). Repite la misma aserción en “Presencia de Sevilla”: “Canté tu ser y tu canto/mientras te estuve, diez años;/cantaste en mí y todavía tanto/cantas en mí tus dos mil años”/. El otro libro que dedica al tema se llama Andando Sevilla (19871989), una variante de la misma pasión espiritual por la dimensión mágica de aquel centro urbano. En efecto, expresó en el poema “Sevilla y España”, una interesante visión de los españoles: el castellano y el catalán/tienen pobreza y riqueza tristes./Así desprecian Andalucía./la ven africana o sacrílega”. El poeta no niega que su inmenso gusto de dejarse vivir en su ambiente predilecto produce cambios en sus estados mentales. El placer de caminar en algunas calles sevillanas le da la sensación de flotar. La calle Sierpes, por ejemplo, título de otro de sus poemas, indica esa extraordinaria evidencia: “Sevilla tiene barrios y calles/donde andarse suelto, a la ventura,/donde pasear es navegación/ donde andar navegando a vela/y nada a la atención atropella/donde andar es lo mismo que andarse /y van sueltas el alma y la carne.”/ “...Allí navegar es en líneas curvas/como la culebra que le da nombre”. La historia del lugar contemplado suscita ideas dilucidadoras. Los textos de “El Arenal de Sevilla” y “La Catedral” lo ejemplifican. El primero: “ya nada queda del Arenal/de que contó Lope de Vega./La Torre del Oro es sin oro/sino en la cúpula amarilla. Ya no hay más flotas e Indias,/y esta hoy se dice América; ni la multitud de mercado/que se armaba llegando ellas.” “La Catedral” “hoy es como una cordillera/en la gracia rasante de Sevilla/es un inmenso toro de pie/en medio de reses que dormitan. ... Allá se admira la tercera tumba/de Colón, como otras, falsa./Las de Cuba y de Santo Domingo/pretenden también la carcasa./Pero parece que la verdadera/es el lecho del Guadalquivir/que una inundación antigua la llevó/de una Cartuja que había allí”. Todo en fin es motivo de alumbramiento y foco de la conciencia: Los barrios sevillanos, por ejemplo: “el de Santa María la Blanca/el silencio se corta a cuchillo./...vértigos que aquí nos da tanta cal virgen”. En “Sevilla y el Progreso” constata que “Sevilla es una ciudad /que supo crecer sin matarse/ Creció del otro lado el río/creció al rededor, como los circos/conservando puro su centro,/intocable, sin que sus de adentro/tengan perdido la intimidad:/que ella solo, entre todas ciudades,/puede el arrimo./ De mujer/, puede el suave/ existir de la miel,/que otrora guardaba en los patios/y hoy es de todo antiguo barrio” . Las diferencias entre ambos ocurren a nivel de cosmovisión de la vida, su intrínseca formación personal. De hecho, para João Cabral lo que importa es la objetividad analítica de lo real, la observación inmediata del fenómeno existencial. Según su extrovertida inferencia creativa, “España es una cosa de tripa, y que es de donde el andaluz sabe/hacer subir su cantar tenso/ la expresión, la explosión de todo/que se hace a la orilla de lo extremo/. España es cosa de cojones/lo que el saburroso Neruda/ no entendió, pues prefirió/corazón, sentimental y puta”. Murilo Mendes, por su parte, añade siempre una nota mística a sus contenidos semánticos. Además de la consideración estética, humana y social de la sustancia literaria, profundiza el cuestionamiento de temas trascendentales. Asimismo pregunta sobre la muerte “que fascina al español” como “en el rito decisivo donde toro y torero se consumen”. La idea muriliana de España puede estar vinculada a diversos elementos de naturaleza espiritual, como la música de Tomás Luis de Victoria, en la cual el poeta percibe la expresión “columnas de sonido”, evocando la idea de orden y disciplina creativas. Dicho compositor suscita la sinestesia melódica, la visión auditiva del discurso cromático de la música, la melodía visualizada como color. En síntesis, ambos poetas cantaron a España con raro encanto, con semejante plasticidad y una percepción de la realidad española muy peculiar, que unidas a las virtudes lúdicas y expresivas de cada uno, nos ofrecen un admirable manantial de poesía e hispanidad. Márcio Catunda (Brasil, 1957). Poeta. Autor de livros como Sermões ao vento (1990), No chão do destino (1999) e London garden and other journeys (2000). Contato: mcatunda@mre.gov.br. Página ilustrada com obras do artista Carlos M. Luis (Cuba). retorno à capa desta edição triplov.agulha índice geral jornal de poesia revista de cultura # 39 - fortaleza, são paulo - junho de 2004 O desejo do silêncio: R. Roldán-Roldán (entrevista) João Nunes . R. Roldan-Roldan escreve romances, contos e poemas compulsivamente. Escrever para ele tem o mesmo sentido de viver. Nascido na Europa, passou pela África antes de aportar na América. A Latina, o que significa dizer muita coisa. Seus escritos refletem algumas temáticas recorrentes como a identidade, a solidão e o erotismo, sem deixar de lado o conteúdo social – não por acaso, proclama com todas as letras ser a favor de todas as minorias. Assim como muitos escritores, ele confessa que escreve para dar sentido ao absurdo da vida. Este é o sentido exato de sua escrita e a razão da compulsividade no escrever. Nesta entrevista, Roldan-Roldan fala um pouco de si e sua obra. [JN] JN - Como é Roldan na intimidade? RR-R - Escrevo. E subordino tudo à literatura. JN - Você já disse que a vida se resume a escrever, não disse? RR-R - Sim. Sou uma pessoa limitada. Sei apenas escrever. JN - Você é limitado em que sentido? RR-R - Não sou abrangente. E sou (e não estou) deslocado. JN - Você fala em dor de viver. O que significa isso? RR-R - Não ser abrangente. Não poder absorver o universo. Ser limitado. E, sobretudo, ser deslocado, em todos os sentidos. Não se pode viver tudo numa única existência, pois a vida que é muito vasta. E o deslocamento se dá, em parte, porque não se pode viver o absoluto na rotina do dia-a-dia. JN - Portanto o dia-a-dia é desagradável? RR-R - É. Na medida em que é impossível estar constantemente no ápice. Ou seja, criando. JN - Você tem laços profundos com quatro paises: Brasil, Espanha, França e Marrocos. De qual dele você se sente que mais próximo? RR-R - Pertenço de um modo ou de outro a todos eles. JN - E como se sente como cidadão do mundo? RR-R - Sinto-me, antes de mais nada, escritor. JN - Escritor brasileiro? RR-R - Clarice Lispector foi uma escritora brasileira nascida na Ucrânia. Sou um escritor brasileiro nascido na Espanha. Os escritores, sejam brasileiros, chineses, russos, ou americanos, têm algo em comum: são escritores, com a conotação universal que isso implica. JN - Sua abordagem do sexo choca alguns leitores pela sua crueza. Você não acha que poderia ser mais sutil? RR-R - Guardo as sutilezas para outros campos. Como, por exemplo, o jogo amoroso, tão rico, complexo, e extenso. Essa batalha delicada e voraz que se estabelece entre duas pessoas que se amam. Pois o amor, como o sexo, também é, no fundo, uma questão de poder. Mas por que deveria usar sutilezas numa penetração vaginal ou anal, numa felação ou numa masturbação? Por que não encarar o sexo com mais naturalidade, com mais espontaneidade? Além do mais, sinto os eufemismos muito próximos da hipocrisia. Por outro lado, a estética do gosto médio é medíocre e, em certos casos, vulgar. Não me interessa em absoluto pasteurizar o gozo. Faço questão de não edulcorar o prazer. JN - Você aceita o risco de ser rotulado de pornográfico? RR-R - A vida é feita de riscos. Viver é muito perigoso, dizia Guimarães Rosa. Quem não arrisca acaba na flacidez da acomodação. E isso é lamentável. Além de vulgar. Eu gosto daqueles que arriscam e ousam. Sexo, para mim, é uma celebração da vida. Como uma boa refeição. Ou como um banho de mar ou de cachoeira. A pornografia é a exploração comercial do sexo pela mídia. Pode ser soft core ou hard core. Aliás, eu diria que, via de regra, o soft é mais pornográfico que o hard. Quanto a rotular, bem, isso não passa de mero reducionismo. JN - O amor é um tema muito presente em sua obra. O que representa o amor para você? RR-R - E onde é que o amor não está presente? O amor é tudo. O amor é a antítese da morte. E amar é o mais poderoso antídoto contra a morte. Portanto, é vital. É vida. E nada é mais importante do que a vida. JN - E a solidão? RR-R - O ser humano é irremediavelmente só. JN - E a dor da identidade de Roldan? RR-R - É a dor de não pertencer a nada. Algo muito pessoal. É um preço a ser pago por um caminho que eu não escolhi. JN - Você, apesar de cético e às vezes muito sombrio, celebra a vida, e seus romances sempre se fecham com esperança. Você condena o suicídio? RR-R - Não. Cada um deve ter a liberdade de decidir quando quer partir. Logo, é uma questão de liberdade individual. JN - E a pena de morte? RR-R - Sou contra a pena de morte. A sociedade não pode cometer o mesmo ato atroz cometido pelo homicida. JN - E o aborto? RR-R - Sou a favor do aborto. Mas com restrições. JN - Quais? RR-R - Há mulheres que, por relaxo, fazem cinco ou seis ou sete abortos. Simplesmente por não tomarem cuidado. E isso é brincar com a vida. E não se deve brincar com a vida. Uma mulher estuprada, por exemplo, tem todo o direito de fazer aborto. Ou em qualquer outra circunstância grave ou séria. Mas, por outro lado, quero deixar claro que não sei se teria a mesma opinião a respeito do aborto se eu fosse mulher. Pois é muito fácil julgar algo ou alguém quando se está literalmente fora da situação. O que acabo de dizer é um ponto de vista masculino. JN - E o homossexualismo? RR-R - O homossexualismo é uma realidade que existe desde que o homem existe. Inclusive existe entre algumas espécies de animais. Hoje já se sabe que não se trata de doença, nem de formação, nem, como se diz popularmente, de semvergonhice. Nasce-se ou não homossexual. Não existe essa tal de opção sexual. A pessoa não opta: é ou não é homossexual. Portanto os homossexuais devem ser respeitados. E, afinal de contas, é também uma questão de liberdade individual. Cada um faz com seu corpo o que bem entende. Um homem que deita com um homem ou uma mulher que deita com uma mulher não está invadindo a liberdade pessoal de ninguém. Sexo entre dois homens ou entre duas mulheres não prejudica ninguém na sociedade. JN - Mas é algo que ainda incomoda a sociedade. RR-R - Sim, de fato, ainda incomoda. A sociedade tem pavor de tudo o que foge ao padrão vigente. De tudo o que foge do modelo a ser seguido. Do modelo pré-estabelecido. De tudo o que é diferente. E eis a questão. Ser diferente. Aí entramos em algo muito mais abrangente que o homossexualismo propriamente dito. Durante séculos, em todas as culturas do Planeta, ser diferente foi o equivalente a ser culpado. Ser diferente era um espinho que tinha de ser extirpado da sociedade. Era coisa do demônio. O ser diferente era apontado como um ser marcado para morrer. E assim se cometeram, durante séculos e séculos de intolerância, as maiores atrocidades contra todo tipo de minorias, fossem religiosas, raciais, étnicas ou sexuais. E massacraram índios, negros, judeus, ciganos, armênios, curdos, homossexuais e mulheres que não se submetiam às condições aviltantes impostas pelo patriarcado. Em nome de quê? Do fanatismo com sua cegueira e intolerância. Pobre daquele que acha que sua religião é a melhor. Ou que sua etnia é a melhor. O que seu país é o melhor. Não ultrapassou ainda a Idade da Pedra. JN - Você é a favor do casamento entre homossexuais? RR-R - Por que não? É uma questão de bom senso. O casamento heterossexual é apenas um contrato comercial. Por que não o seria o casamento homossexual? É evidente que um contrato genuinamente capitalista na sua origem, não tem nada a ver com o amor. Pessoalmente acho que duas pessoas que se amam (um homem e uma mulher, duas mulheres, ou dois homens) não têm nenhuma satisfação a dar a ninguém, principalmente à sociedade, assinando hipocritamente um contrato. JN - O que é ser livre? RR-R - Ser o que se é. Ter a coragem de respeitar-se, mesmo que isso implique enfrentar a fúria da maioria silenciosa. Ousar viver integralmente as convicções sem restringi-las por motivos escusos, sejam políticos, sociais, ou morais. JN - Existe influência de Nietzsche em sua obra? RR-R - O homem superior? Talvez. Mas não direta. JN - O que é ser superior? RR-R - Despojar-se de tudo o que é supérfluo para atingir a essência. E ter a coragem de viver na vida prática certos preceitos de elevação espiritual sem subordiná-los a interesses ou convenções sociais. Ser superior tem muito a ver com ser livre. JN - A busca constante em suas obras tem a ver com essa superioridade e essa liberdade? RR-R - Sem dúvida. Mas não é só isso. Entra também o absurdo e o desejo obsessivo de compreender o sentido da vida. JN - Como você vê a violência? RR-R - Enquanto houver desigualdade social e miséria, haverá violência. Os privilégios que desfruta a classe dominante no Brasil são absurdos e não condizem com o mundo atual. A Revolução Francesa de 1789 ainda não chegou ao Brasil. É inconcebível que essa classe dominante seja tão burra que não chegue a entender (ou não queira) que tem que ceder algo para conservar a sua posição. É evidente que nos não temos democracia. É evidente que todo brasileiro não é igual perante a lei. As leis sempre foram feitas por determinados grupos para favorecer esses mesmos grupos, no poder. A divisão de riquezas no Brasil não é lógica, não faz sentido. Socialmente o Brasil é um país cruel, o que acaba gerando algo totalmente irracional como a violência. É absolutamente inadmissível que um ser humano não tenha o que comeRR-R - no Brasil ou em qualquer país do mundo – quando há comida para todos no Planeta. Logo, nada, absolutamente nada, nenhuma ideologia, religião ou raciocínio criminoso, justifica que um ser humano passe fome e acabe morrendo de fome. E se eu tivesse filhos pequenos chorando de fome, roubaria com a consciência tranqüila, pois seria, em tal circunstância, um direito natural que me assiste. Em outras palavras: roubar para comer é um ato legal. JN - E o respeito à propriedade privada? RR-R - A propriedade privada que se renove e reestruture a sociedade para que não haja fome. E isso não é utópico. Basta querer fazê-lo. JN - Você fala muito em sua literatura de ética. Como vê a ética hoje em dia? RR-R - Aidética. Hoje em dia só existe a ética do dinheiro. Tudo se vende e tudo se compra neste imenso bordel em que se transformou a sociedade consumista neoliberal e todas as suas instituições. O capitalismo selvagem – desculpe o clichê – conseguiu destruir todos os valores éticos do Ocidente e, por extensão, da humanidade. Acabou-se a ética, a lealdade, a honra, a retidão de caráter, os princípios, até a justiça virou uma farsa a serviço dos interesses criados. Tudo, absolutamente tudo, foi submetido ao podeRR-R - logo a degradação – do dinheiro. E embora o grande Quevedo já denunciasse o poder corruptor do dinheiro no século XVII, nunca se chegou ao cinismo que atingimos agora nesse sentido. Portanto, vivemos num mundo de putos e putas que legalizaram a putaria putamente instituída com o puto dinheiro. JN - E Deus, onde anda? RR-R - Deve estar em outra galáxia. Ou no limbo. Cansado do gênero humano. JN - Então não há nada em que se possa acreditar? RR-R - Por uma questão de princípios temos que continuar a acreditar na conscientização das pessoas. Temos que continuar a acreditar na ação. JN - Que ação? RR-R - Manifestar-se. Tomar posição. Tomar partido. Paralisar um país. A desobediência civil. O boicote. Existem inúmeras maneiras de dizer não sem apelar para o terrorismo. O que não podemos é ficar parados como lacaios. JN - O que você acha do terrorismo? RR-R - Sou contra a matança de inocentes. JN - E o 11 de Março em Madrid? RR-R - O governo de Aznar não tinha por que ter enviado tropas ao Iraque. Está na hora de a União Européia deixar de ser vassala de Bush. JN - Sua peça As Loucas Gaivotas Morrem na Fronteira é sua obra mais “política”. As tiradas de alguns personagens contra a globalização e o belicismo do governo Bush são particularmente fortes. Como você vê o consumismo e a globalização? RR-R - O consumismo é um entorpecente. As mentes viciadas ficam embotadas, impedidas de pensar, portanto alienadas. E não só não reclamam, como em sua deplorável letargia, ficam satisfeitas e felizes nessa espécie de anestesia da consciência. Logo, o lema “seja imbecil e consuma” encaixa-se perfeitamente nesta situação. Quanto à globalização, já falei em meus livros e em outras entrevistas. Uma pessoa verdadeiramente honesta não pode admitir a injustiça social da globalização. Eu não posso admitir um sistema que faz a fome aumentar no mundo, que fomenta a corrupção e que degrada os valores humanísticos. E não posso respeitar uma sociedade que é movida apenas pelo lucro. A globalização é imoral. Há algo sórdido em sua lógica mercenária que promove a putificação do ser humano. É um lixo com verniz de falsa liberdade e de prosperidade para uma minoria. Sou humanista e parto do princípio fundamental de que a dignidade humana deve ser preservada. E a miséria degrada a dignidade humana. Isso é um fato. Deveríamos ser mais generosos uns com os outros. Afinal de contas, é um preceito fundamental. JN - A sua obra está pontuada por música, pinturas e esculturas. Qual é a cor de sua literatura? RR-R - As cores de Goya, Caravaggio, Delacroix, O vermelho e o negro, de paixão e morte, de modo geral. Mas eventualmente aparece a lucidez metálica do azul, ou o abismo metafísico do branco. JN - E qual é o som? RR-R - O do violoncelo. Bach. Handel. Mozart. E outros, claro. JN - Há também muitas referências cinematográficas em sua obra. Quem você “vê” em seus livros, além de Visconti, Angelopoulos e Resnais. RR-R - Muitos, pois sou cinéfilo e eclético. Fellini, Scola, Antonioni, Zurlini, Pasolini, Bergman, Terrence Malik, Saura, Tarkovski, Mizoguchi, Satyajit Ray, Manuel de Oliveira, Orson Welles, Herzog e, claro, Buñuel. Mais recentemente, Sokurov, Kusturica, Gianni Amelio e Lars von Trier. Enfim, de modo geral, todos os grandes. Minha obra tem uma forte influência do cinema. JN - Algum filme marcante ultimamente? RR-R - Dogville de Lars von Trier. Uma experiência extraordinária. Um ensaio impecável sobre a ética e a política realizado com inconcebível ousadia. O impacto da década. JN - Algum escritor vivo? RR-R - Saramago. Identifico-me totalmente com sua literatura. E com suas idéias. Admiro-o como escritor e como homem. JN - Algum escritor brasileiro vivo? RR-R - Para não ferir suscetibilidades, prefiro citar um que já partiu: Osman Lins. Mas é claro que existem bastantes, vivos, que admiro. JN - O que significa a literatura para você? RR-R - Um sacerdócio. Uma fonte de prazer e de tristeza. JN - Explique-se. RR-R - A entrega é total, absoluta. Criar é um gozo. Um prazer de deus. Não ser lido é uma dor. Uma tristeza de pária. JN - Em seus livros, seus comentários sobre os escritores não são propriamente lisonjeiros. Como você explica isso? RR-R - Estou apenas me autogozando. O que acho bastante sadio, pois sou muito sério. Mas eu tenho um profundo orgulho de ser escritor. JN - Você pretende continuar a escrever teatro? RR-R - Sim. JN - Algum projeto? RR-R - Uma outra peça de teatro. JN - Pode falar sobre ela? RR-R - Não. Ainda não. JN - Algum desejo? RR-R - Sim. O silêncio. JN - Não é uma contradição? RR-R - Não. João Nunes (Brasil). Jornalista. Trabalhou, entre outros, nos jornais O Estado de São Paulo, Diário do Grande ABC e Correio Brasiliense. Atualmente é editorassistente do caderno de cultura do Correio Popular de Campinas. Entrevista realizada em março de 2004. Contato: nunes@rac.com.br. Página ilustrada com obras do artista Carlos M. Luis (Cuba). revista de cultura # 39 - fortaleza, são paulo - junho de 2004 O sentido do espaço. Em que sentido, em que sentido? Fernando Freitas Fuão . Este texto carece de sentido, e até mesmo sua existência é questionável. Qualquer tentativa de compreender o sentido do espaço, percorrendo esses estranhos lugares em busca de um sentido, só pode resultar numa tola incursão. Normalmente, atribuímos existência aos espaços e às coisas, mas na realidade, sem nós, elas não existiriam. Pensar um espaço como existente, significa pensar em si próprio. Infelizmente, na exigência da objetividade, acabamos por abstrair os espaços, as coisas e, conseqüentemente, nossa própria existência. Gabriel Marcel, certa vez disse: “Quanto mais eu acentuar a objetividade das coisas, cortando o cordão umbilical que liga à minha existência, mais converterei este mundo num espetáculo sentido como ilusório”. Para os existencialistas a existência precede a essência. Em termos filosóficos todo objeto tem uma existência, um sentido e uma essência. E essa essência é o próprio sentido, ou viceversa. Entretanto, muitas pessoas crêem que a essência vem antes da existência. Essa idéia tem sua origem no pensamento religioso do século XVIII quando se acreditava na existência de uma essência natural, um sentido para os homens como natureza humana e, por exemplo, conceitos inatos do que deveria ser uma casa, uma praça, uma escola, etc. O que derivaria, posteriormente, na teoria dos tipos e fenótipos, na cruel teoria determinista do caráter em psicologia. Exemplificando, Sartre em O Ser e o Nada, explicou esse falso sentido da natureza determinista, ironicamente, citando o caso das ervilhas e dos pepinos: “Muitas pessoas crêem que as ervilhas, por exemplo, se arredondam conforme a idéia de ervilha e os pepininhos, são pepininhos, porque participam da essência de pepininho. Não é a idéia, a essência, o sentido, o significado inato que atua sobre a ervilha a fim de arredondá-la, sobre o pepino a fim de alongálo, mas sim o organizador dos embriões ou qualquer outro agente misterioso”. E no caso da casa, da arquitetura e do espaço: o arquiteto. Daí a grande inclinação do arquiteto em se tornar um demiurgo, pois ele é diretamente responsável não só pela materialidade da coisa, da existência da arquitetura, mas também porque manipula conscientemente ou inconscientemente essa pseudoessência ou sentido, que normalmente creditamos à arquitetura e à sua autonomia. Para os que acreditam na criação divina ou no mito do darwinismo, tudo que vive no mundo da matéria explica-se pelos antecedentes imediatos até os mais longínquos. A essência do vivente está por assim dizer no germe, em sua raiz. E que uma forma é pré-determinada por uma anterior, isto é, o que podemos chamar de determinismo arquitetônico. Com uma certa freqüência encontramos nos livros de história da arquitetura a árvore genealógica da arquitetura ocidental com suas raízes e troncos nas arquiteturas egípcia, grega ou mesopotâmica. Podemos observar o mito do darwinismo arquitetônico também na proposição do Abade Laugier, no século XIX, remetendo à origem dos tipos arquitetônicos à cabana primitiva, à tenda árabe, entre outros. Essa tem sido a trajetória do sentido do espaço, ou seja: o sentido remete-se a uma origem mais ou menos perdida, seja divina ou humana. Não existe uma essência a priori, segundo os existencialistas. A essência do ser humano está suspensa na sua liberdade, em seu projeto, em sua possibilidade, por assim dizer, de sua construção. Para eles a origem, a existência humana é algo totalmente sem sentido, e o sentido é sempre produzido, inventado e reinventado. Talvez fosse melhor ver o espaço arquitetônico apenas como um estado de uma situação em constante mudança. A construção de um nada que vem a ser um projeto, um envio. Só ao se tornar ‘para mim’ o espaço recebe um significado, um sentido. O espaço ‘para mim’ ao contrário do espaço em si, só existe porque estou aqui. Nós não dependemos dele; ele é quem depende de nós, e sem nós nada seria. O sentido do espaço só existe a partir da experiência do ‘eu’; portanto, o sentido do espaço da arquitetura não está no interior da abstração do espaço, no interior da arquitetura, na relação utilitária entre o cheio e o vazio, e tampouco nas entranhas das paredes. Qualquer sentido que se possa atribuir está fora dele, muito além de sua superfície. Está no interior de quem o vivencia, está nas pessoas que nele se deslocam constantemente. Curiosamente transportamos o sentido do espaço para qualquer lugar que formos. O espaço não é, como crê a maioria dos arquitetos, uma realidade rígida e válida para todos. Ele em si é tão plástico e imaterial como o próprio tempo, variando com os indivíduos, com os povos, com as épocas, e, principalmente, com os pontos de vistas. Não existe um espaço objetivo e autônomo do ser humano. Existem diferentes maneiras de perceber e compreender esse espaço ‘bruto’, lá fora, sem significação, a espera de minha chegada. Por exemplo, desse mesmo espaço podemos produzir as mais diversas representações, como a do pintor, do arquiteto, do fotógrafo, do engenheiro, do médico etc. Mas certamente, a somatória deles nunca retratará a experiência de cada um, apenas ampliará seus sentidos, mostrando a existência de diversos pontos de vista. A fenomenologia tem tratado a questão do espaço a partir do eu, da dimensão corporal, resgatando as orientações do acimaabaixo, frente-trás, esquerda-direita, mas colocando o papel do homem numa profundidade corporal também questionável. Mais precisamente a Fenomenologia da Percepção de MerleauPonty se contrapôs à concepção espacial cartesiana, abstrata, indiferenciada, uma espécie de plano regular, homogêneo, onde se dispõem todos os corpos. Merleau-Ponty nos fez ver que o corpo é a nossa principal referência espacial e que o espaço deve ser compreendido não só a partir dele, mas também como uma extensão do próprio corpo. Essa compreensão fenomenológica do espaço apoiou-se na experiência corporal e vivencial, abrindo espaço para incorporar também os estudos de Piaget. A partir dos anos 60-70 alguns teóricos da arquitetura aportaram uma grande contribuição para esse tipo de visão do espaço. Nesse sentido é que foram produzidos os trabalhos principalmente de C. N. Schulz, J. Muntañola, Charles Moore, Kevin Lynch entre outros. Os objetos, os espaços e a arquitetura, servem-nos apenas de instrumentos. Caso não tenham nenhuma relação com o nosso desígnio, permanecem no estado de existentes brutos: são como se não existissem. Os espaços que nós visualizamos, quando deixam de ser usados, vivenciados, voltam ao estado de ser bruto, esvaziado. Mas seus múltiplos significados, seus sentidos, nós transportamos. Existe uma passagem de Paul Foulquié em O Existencialismo, na qual narra a transformação do ‘eu’ em representação, de seu esvaziamento quando percebe sua própria existência. “Estou no jardim público da álea de castanheiros, contemplo o verde relvado em cujo centro se ergue uma estátua: tudo isso existe para mim. Mas de súbito um outro passeante detém-se a contemplar esse espetáculo que também engloba a minha pessoa. Imediatamente a minha representação que é para mim o verdadeiro mundo se desagrega e seus elementos se organizam em torno do recém chegado; agora, é para ele que tudo isto existe (…). Não só o relvado, a estátua, o banco, a sebe organizam-se em torno dele como instrumentos de seus desígnios ou como obstáculos: eu também me acho classificado entre as coisas, reduzido ao papel de meio, de representação, para realizar os fins de outrem”. Quando as coisas começam a nos olhar, explicou Leyla PerroneMoisés ao descrever os distintos modos de ver do poeta Fernando Pessoa, estamos experimentando não o mistério do conhecimento, mas o mistério do desconhecimento. É aquela experiência do inconsciente que Freud conceituou como unheimlich (a inquietante estranheza) e que, quando deixa de ser eventual, passa a permanente, se chama loucura, psicose. Ver-se vendo, olhar-se olhando, é deixar de olhar e de ver o que se olha e vê fora de si, para tentar captar, no sentido inverso, o próprio ponto de onde o sujeito olha. O resultado dessa operação, além da perda do objeto exterior, é o eclipse do próprio sujeito, que topa com o ponto cego da consciência tentando captar-se a si mesma como objeto. Nessa situação “tudo parece oco”, como disse Fernando Pessoa. Sempre que se fala nesses clichês conceituais: sentido do espaço, sentido da arquitetura, ou significado da arquitetura, me lembro do divertido e lúcido filme do Monty Python, O Sentido da Vida, no qual eles passam o filme todo procurando o sentido ou significado da vida como se fosse um objeto, sem nunca encontrá-lo. “É difícil responder àqueles que julgam suficiente haver palavras, coisas, imagens e idéias. Pois não podemos nem mesmo dizer, a respeito do sentido, que ele exista: Nem nas coisas, nem no espírito, nem como uma existência física, nem com uma existência mental”. A busca de um sentido das coisas e do espaço é todo um semsentido, e qualquer tentativa em compreender, deve passar pela lógica do non-sense. O sentido não vive sem o semsentido, pois justamente é ele que alimenta o sentido. Deleuze em a Lógica do sentido mostrou que “O não senso e o sentido acabam com sua relação de oposição dinâmica, para entrar na co-presença de uma gênese estática, como não-senso da superfície e sentido que desliza sobre ela”. “O bom senso se diz de uma direção: ele é senso único. Exprime a existência de uma ordem de acordo com a qual é preciso escolher uma direção e se fixar a ela”. O non-sense: é o que destrói esse bom senso, o sentido único, o senso. Se pensarmos no sentido como orientação, temos seu oposto, a desorientação. Deleuze encontrou esse universo desorientador em Lewis Carrol. “Em que sentido, em que sentido?”, perguntava Alice. Essa pergunta não tem resposta nem sentido porque é próprio do sentido não ter direção, orientação, não ter bom sentido, mas sempre as duas ao mesmo tempo. A desorientação é a perda do sentido, do significado, a porção esquecida e pouco estudada, principalmente, na arquitetura, mas que faz parte do processo de consciência da existência. É a experiência na qual não sabemos mais exatamente o que está diante de nós e o que não está. A desorientação devolve o indivíduo ao espaço existencial, bruto, indiferenciado. É o estado no ser que desconjuga a relação espaço-tempo, jogando-o no abismo dos sentidos. Um lapso da razão que transporta para a infinitude do espaço e da insignificância de todas as coisas contidas nele. Tudo é igual na desorientação e nada nos causa estranhamento neste estado porque nada é reconhecível ou identificável. Freud foi um dos primeiros a nos mostrar que os mecanismos do sentido passam pelo não sentido, pelo inconsciente, e foi em seu ensaio Das Unheimlich (A Inquietante Estranheza), onde procurou demonstrar a existência de um domínio todo peculiar da estética que escapava às formulações clássicas da teoria do belo. A unheimlich freudiana, no fundo, pode ser vista também como um estudo sobre a orientação. Didi-Huberman em sua obra O que vemos, o que nos olha, nos explica que Freud propunha ainda um último paradigma para explicar a inquietante estranheza: a desorientação, experiência na qual não sabemos mais exatamente o que está diante de nós e o que não está; ou então se o lugar para onde nos dirigimos já não é aquilo dentro do qual seríamos desde sempre prisioneiros. Propriamente falando, o estranhamento inquietante seria sempre algo em que, por assim dizer, nos vemos totalmente desorientados. A Inquietante Estranheza relaciona-se com o sobrenatural, algo de fantástico que emerge dentro da realidade e que ocasiona o sinistro. A desorientação que Freud analisa não é tanto a desorientação provocada pelo aparecimento do imprevisível, mas sim como ele mesmo disse aproveitando-se da definição de Schelling do sinistro, como algo que deveria ter permanecido oculto, mas saiu à luz. Freud procurou demonstrar que o fenômeno da unheimlich está nas coisas familiares, mas que de repente mostram-se desfamiliares, perturbadoramente estranhas. Ou seja, em outras palavras: que a desorientação pode brotar também inesperadamente das coisas estruturadas pelo sentido da orientação. Esse conceito vai servir como uma luva para justificar a unheimlich como uma manifestação do reprimido. Sua teorização sobre a unheimlich tinha suas bases na literatura fantástica em voga no final do século XIX e início do XX. E, irá se utilizar precisamente do conto de E.T.A. Hoffmann: O homem de areia e o conseqüente drama da perda dos olhos para ilustrar a unheimlich. “O escritor”, diz Freud referindo-se a Hoffmann, “provoca em nós, inicialmente, uma espécie de incerteza, na medida em que, e decerto intencionalmente, não nos deixa perceber se nos introduziu no mundo real ou num qualquer universo fantástico por ele criado”. Algo similar acontece nos filmes de R. Polansky, O bebê de Rosemary e O inquilino, que nos fazem vacilar se os acontecimentos são reais ou frutos da imaginação paranóica do personagem central. Além das conotações da unheimlich, que podem ser traduzidas como Inquietante Estranheza, sinistro, não familiar, estranhamento, desorientação, todas estão associadas à teoria favorita de Freud: repressão-castração. Alguns estudos críticos posteriores trataram de elucidar melhor as proposições de Freud sobre a Inquietante Estranheza, como O espelho da medusa, de Tobin Siebers, que desmontou praticamente toda teoria da unheimlich mostrando uma série de debilidades dos argumentos freudianos, evidenciando-a como uma forma da superstição. Esses estudos mais atualizados mostram que o fantástico, a Inquietante Estranheza, o sinistro, a desorientação ou a falta de sentido não nascem da rejeição, da castração e repressão, embora possam atuar sobre eles. Eles são elementos intrínsecos à formação da realidade convencionada, do sentido comum, do bom senso, do familiar. Representam um não sentido da realidade, um questionamento dentro da lógica social, que se introduz na realidade para afirmar a própria debilidade da realidade, já que para dar sentido à sociedade e à cidade foi necessário organizá-la de uma maneira ‘lógica’. Eles alimentam e reafirmam a realidade através de sua ocultação, enquanto permanecem silenciosos. Por isso, quando a Inquietante Estranheza aparece, tem a capacidade de desestruturar, desorientar e principalmente desestabilizar o centro onde se localiza o sentido ocidental. Tudo parecia estranho, sinistro, aterrador e surpreendente para Freud. A unheimlich demonstra bem os temores da sociedade do início do século XX, principalmente os temores de Freud, que acreditava, talvez, serem imutáveis ao longo do tempo. O tema da repetição, que aparece como um componente da desorientação, da Inquietante Estranheza, em Freud baseavase num certo temor de que um fato que envolvesse o ‘eu’ pudesse repetir-se indefinidamente e independentemente de sua vontade, como o automatismo. E é justamente, o fato de estar perdido, desorientado, de retornar ao mesmo lugar contra a sua vontade, que provoca o sentimento do eterno retorno. Quando Freud se perde nas ruas de uma pequena cidade italiana, o que lhe parece terrivelmente assustador é o fato de ter de retornar àquela rua onde todas aquelas mulheres perceberiam que ele estava perdido, andando zonzo, totalmente desorientado. Muito mais a vergonha de revelar seu estado, do que o medo ou o desconforto propriamente dito de que algo terrível poderia lhe acontecer. A desorientação, o descontrole, são estados que não gostamos de revelar, e que portanto devem permanecer ocultos. Talvez por ser desestruturadora, desorientadora e pouco compreensível, é que a Arquitetura Deconstrutivista recebeu fortes críticas por parte dos arquitetos mais tradicionais e conservadores, no final do século XX, recalcando-se em sua lógica construtiva em detrimento das riquezas de seus aspectos de orientação. Certamente, para Freud seria difícil perder-se em uma cidadezinha do interior da Itália. Essa sensação de não poder controlar sua vontade de ir onde deseja ir lhe incomodava, suscitava o desejo de retornar a um lugar seguro, de voltar a sua casa, ao conforto doméstico do lar. Mas isso, para muitos, hoje, está longe de provocar um sentido imediato ao retorno familiar, às coisas familiares, muito pelo contrário. Revelar o oculto da casa concordando com Freud é revelar o reprimido, as entranhas, as instalações, o esqueleto, o que faz funcionar e sustentar a casa. Revelar o oculto, o sinistro, é sempre revelar também o estranho e o surpreendente. Foi justamente com essa força que trabalharam os Brutalistas Peter e Alison Smithson, Rogers e Piano no Beaubourg, Archigram e sua Arquitetura Pop , ou mais pontualmente David Greene, reavaliando o que seria o habitar, o lar para uma só pessoa, um envoltório único, sua roupa, seu Living Pod, sua bolsa. Toda interpretação estética de Freud, tanto em seus aspectos negativos ou positivos, sempre tratou as pinturas e os livros, as obras e os fenômenos em geral, como objetos que encobrem um segredo, uma ocultação, e que através de um processo analítico se pode revelar esses elementos ocultos. Observa-se que Freud também relacionava o loop a uma conjunção, a uma coincidência que pode acontecer, como no caso do número 62, que ele cita como exemplo. Coincidências estas que são vistas como sinais, como premonições de algo, superstições, ou artimanhas do acaso, objetivo tão explorado pelos surrealistas, como André Breton e Michel Carrouges, por exemplo. Para os surrealistas o sentido ou o significado da imagem e das coisas brota do encontro, isto é, não existe sozinho como fato ou coisa isolado, brota da conjunção de duas ou mais partes. E quanto mais distantes estas partes estiverem uma da outra em seus sentidos anteriores, mais sentido e intensidade poética terá a nova imagem criada. O acaso pondera de forma determinante nesses encontros. Agora, esse mais sentido buscado pelos surrealistas é exatamente o mais sem-sentido. Entretanto, devemos observar que repetição não tem nada a ver, pelo menos num primeiro momento, com reprodutividade técnica, a reprodução infinita. A repetição pode ser limitada e pode não produzir a eterna sensação do loop infinito como andar em um carrossel. O que se pode observar hoje é que o conceito da unheimlich freudiana não é um conceito muito sustentável, pois é mutável ao longo do tempo e carece de um sentido atualizado. O que ontem para Freud ou qualquer contemporâneo seu pudesse ser algo ‘unheimlich’, sinistro para nós, hoje faz parte do cotidiano e não nos provoca nenhuma sensação temerosa. Pelo contrário, muitas vezes e em determinadas situações, como estar perdido, pode ser extremamente lúdico e divertido. Atualmente, é difícil transladar os sentimentos da unheimlich para a arquitetura, exceto dentro de outros suportes de representação, como no cinema, nos filmes de terror gótico de Drácula, Frankstein ou mesmo nas suas versões darks de Aliens. Uma das tentativas bem sucedidas de aproximação da Inquietante Estranheza para o universo da arquitetura foi feita em uma série de ensaios escritos por Anthony Vidler em seu livro The architectural uncanny, essays in the modern unhomely. Neste livro, como ele mesmo diz, “não tentei uma história exaustiva ou um tratamento teórico do tema, tampouco construí ou apliquei uma compreensão da teoria da uncanny baseada na fenomenologia, na dialética negativa ou na psicanálise. Mas escolhi algumas aproximações que se mostram relevantes para a interpretação dos edifícios e projetos contemporâneos provocados pelo ressurgimento do interesse da uncanny como metáfora da condição moderna”. A unheimlich não é só um problema de percepção pessoal, mas tem a ver com a forma e a disposição espacial da arquitetura e com o que poderíamos chamar de uma topologia do sentido, que não tem nada a ver com os eixos de orientação corporais de acima-abaixo, direita-esquerda. Husserl, ao estudar a origem da geometria, atribuía a ela a função de ‘formação de sentido’, de orientação e organização. Devemos entender que essa formação de sentido assenta-se sobre uma formação geométrica que a arquitetura ajudou a construir, ou melhor: é inseparável. Os primeiros passos para uma organização dos sentidos, tal como compreendemos, hoje, foram dados no Quatrocentos, quando se inventou a perspectiva e se utilizaram vários instrumentos ópticos para a representação em profundidade. Sentido este que logo se fez reticulado como um tabuleiro, seguindo as regras gramaticais da confecção da perspectiva: pirâmide visual albertiana, pontos imaginários no infinito, linha do horizonte, distância do observador, etc. Foi nesta época que a pirâmide, que articulava o cosmo-mundo segundo o eixo vertical ascendente-descendente, foi derrubada. Ao se inverter a pirâmide substituiu-se o olho divino, localizado no vértice superior, pelo olho humano, colocando-o no vértice deitado. Essa seria exatamente a pirâmide visual, a veduta de Alberti, que proporcionava o efeito de profundidade na superfície da tela, ilusão da realidade, diametralmente oposta à representação e organização medieval. Esse foi o princípio de uma gramática universal das imagens que se estabeleceria nos séculos seguintes com todos os tratados de pintura e perspectiva, em outras palavras, estabelecendo as origens das imagens técnicas, da fotografia. É justamente essa orientação imposta pelas imagens técnicas estabelecidas basicamente mediante os critérios de luz, distância, e fotogenia, que norteia nossa vida atual, nossos sentidos. Praticamente desde o Renascimento, toda a concepção do espaço tem-se fundamentado no sentido de profundidade ou de verticalidade. Mas “o mais profundo é a pele”, já dizia Paul Valèry. “Portamos o espaço diretamente na carne. Espaço que não é uma categoria ideal do entendimento, mas o elemento despercebido, fundamental, de todas as nossas experiências sensoriais ou fantasmáticas.” Didi-Huberman com outras palavras comenta esse mesmo deslocamento da geometria que expliquei anteriormente, utilizando-se de uma passagem de O Processo de Kafka. “Assim o homem do campo portava em seus ombros, na fadiga do envelhecimento e no progressivo escurecimento de seus olhos, uma espécie de geometria. Num certo sentido ele a encarnava, ele decidia sobre seu tempo passado diante da porta, decidia, portanto, sua carne. Com freqüência houve engano sobre o estatuto da geometria. Quando se fez dela – no Renascimento, por exemplo – um simples ‘fundo’ ou uma espécie de cenário teatral como nas pinturas de Piero de La Francesca, sobre os quais se destacavam os corpos humanos e suas ‘histórias’ mimeticamente representadas; de maneira simétrica, houve engano - no minimalismo, por exemplo quando se fez da geometria um simples objeto visual ‘específico’ do qual toda a carne estaria ausente”.24 A busca desesperada do sentido muitas vezes nos leva a bater na figura da porta ou entrar no labirinto. A porta é o elemento que se abre, é a cisão, o corte que permite a passagem dos corpos, estabelece um dentro e um fora, estabelece uma ligação. Porta em si a própria existência do espaço, o inicio da vida. Na antiga Escandinávia os exilados levavam consigo as portas de suas casas, em alguns casos lançavam-nas ao mar e desembarcavam no lugar onde encalhavam essas portas. Eram, a sua vez, passagens e bússolas. Mas existem portas que não levam ao nada, num jogo sinistro, um labirinto composto de portas e passagens, como no filme O cubo. Na desorientação estamos simultaneamente dentro e fora, ou simplesmente nem dentro nem fora. É essa desconfortável sensação fora da lógica que define a sensação expressa por Heidegger, do ‘eu’ se ver desagregar e se tornar um objeto de representação para o outro. De se abrir em nós o que nos olha no que vemos, apropriando-nos mais uma vez da expressão de Didi-Huberman. A palavra desorientação associa-se a uma indisposição espacial, uma desorganização. Isso porque acreditamos que orientar é organizar e vice-versa, dar um ‘sentido’ às coisas. Daí a importância da geometria ocidental, que sempre privilegiou a visão e a regularidade dos espaços, os alinhamentos da cidade reticulada na formação do sentido moderno. Quanto mais a sociedade do espetáculo avança em sua trajetória ao nada, mais rígidas e especializadas suas formas se tornam. Para a organização de nossa cultura foi necessária uma disciplina imposta às formas, ao longo de alguns séculos, através de estratégias estéticas compositivas baseadas em simetria, assimetria, ritmos, em uma disposição dos corpos no espaço organizados e disciplinados, sobretudo de uma acomodação da visão mediante as regras da perspectiva, do distanciamento entre os corpos, e do incremento de luz despejado sobre eles. Ou seja, a perspectiva não existe como coisa natural, foi preciso criar e construir essa realidade pintada. O sentido da geometria clássica, ou dentro da própria psicanálise, tem sido visto como uma tecitura de continuidades, tanto visual, como literária e espacial. O sentido, nesse sentido, se dá através da seqüência da ordem da continuidade. O ponto de enlace por excelência, como disse Lyotard, em seu livro Discurso, figura. Entretanto, não devemos confundir a desorientação com o estranhamento ou com o surpreendente (schock). Freud já apontava a diferença, entre a palavra unheimlich e o surpreendente. A desorientação nunca chega a ser uma surpresa, ela imediatamente joga o sujeito num espaço indeterminado, num espaço liso, escorregadio, num tempo indeterminado, onde não há lugar para o surpreendente, onde ele não faz o menor efeito. O estranhamento foi um recurso bastante utilizado pelos surrealistas, por Eisenstein, Bertolt Brecht e também pelos artistas dos anos 60, com a intenção de acabar com a apatia estética. O estranhamento pressupõe um corte, um schock, um despertar; e não necessariamente uma desorientação, muito menos pode ser visto como algo sinistro. Entretanto, no universo das artes, alguns teóricos e críticos afiliados a Freud, principalmente a escola francesa de estética, recorreram à Inquietante Estranheza para designar, por outro viés, a teoria do estranhamento, do schock. A inquietante estranheza produz a desorientação, mas, uma vez desorientado, nada mais produz a inquietante estranheza. A desorientação é um deslize do espaço-tempo. Talvez o mais difícil de entender e articular é que o sentido do espaço é também o sentido do tempo. Todo nosso sentido, nossa compreensão do mundo, é fruto desse casamento contratual entre espaço-tempo. Mas com a desorientação do espaço vem junto o aniquilamento do tempo. O tempo zero. O sentido de orientação e desorientação do espaço-tempo pode ser melhor compreendido com o auxílio dos conceitos de tempo cíclico e de tempo linear. No tempo circular, característico dos povos primitivos, a arquitetura e os espaços são quase imutáveis, a cultura de um modo geral permanece a mesma. O que aconteceu com meus avós está acontecendo comigo agora, e o que aconteceu comigo agora, acontecerá com meus sucessores. Na cultura ocidental, linear e acumulativa, os espaços e a arquitetura mudam freqüentemente, e se reserva à arquitetura o papel de monumento, de reservatório da história. O elemento que resiste à passagem do tempo. No tempo cíclico as orientações espaciais arquitetônicas permanecem as mesmas devido à permanência das formas; já no tempo linear elas estão constantemente mudando, provocando não só um estado de constante desorientação, conforme a sociedade vai mudando, mas essas desorientações são graduais, e na maioria das vezes permitem que só possamos compreendê-las através das gerações. Por isso, utilizamos flechas, placas, sinalizações para nos orientarmos no tempo e no espaço. A nadificação do tempo é esse período nem sempre agradável que experimentamos quando estamos desorientados e sentimos um forte impulso para retornar à casa, ao lar, como indicava Freud, e que não tem correspondente nem no tempo cíclico, nem no linear, ou tampouco no espetacular, constituindo uma outra categoria de tempo, muito próxima ao que poderíamos designar como ‘tempo zero’, onde tudo se move mas o tempo não passa. Onde o próprio tempo se contradiz. Uma experimentação íntima, real, pessoal em todos os sentidos, mas que não existe para os outros. Geléia ontem ou geléia amanhã, mas jamais geléia hoje, dizia Alice. A desorientação também pode ser interpretada circunstancialmente como “estar perdido”. Significa andar, andar e não encontrar nenhum ponto de referência ou chegada. Uma situação onde andamos em círculo como os ponteiros do relógio, o tempo passa, mas temos a nítida sensação que permanecemos no mesmo lugar, no mesmo espaço delimitado. Tudo é também igual nessa situação, todas as coisas se vêem envoltas no velo do igual, e não conseguimos encontrar uma saída. É como estar no labirinto, como se todas as portas se fechassem, nos sentimos como que aprisionados. Na desorientação estamos sempre fora, fora de nós, fora do mundo organizado. Nesse estado o interior passa a ser a saída, a orientação. Na desorientação podemos experimentar, entre outras, dois tipos de sensações: uma, onde o tempo não passa, mas o espaço permanece em sua extensão; e outra, onde o tempo passa, mas o espaço parece condenado a um encarceramento definitivo. Tudo sugere que no estado da desorientação existe uma ruptura da sincronia do enlace tempo-espaço, uma outra compreensão do mundo, uma outra visão. O tempo da desorientação é o período no qual nos vemos enquanto representação. Deslocados de tudo, de todos, inclusive de nós mesmos, ocos. Passamos para o outro lado do espelho. É como se fôssemos jogados ali sem saber porquê e nem quando. Lembro-me de um antigo seriado de TV, que ajuda a ilustrar essa sensação de desorientação espacial temporal, O Túnel do Tempo, cujos personagens são dois cientistas que viajam pelo tempo através de uma curiosa máquina em forma de túnel, onde eram literalmente jogados em diversos momentos e situações da história por essa máquina que havia fugido ao controle. Funcionava aleatoriamente, andando à deriva ao longo da história. Esses personagens, a cada vez que eram jogados nesses momentos da história, experimentavam rapidamente essa forte sensação de desorientação, sem saber o que estava acontecendo; para orientá-los, um ou outro sempre comentava que deveriam estar, provavelmente pelas roupas, ações, em determinado ano, em determinado lugar, cidade, ou determinado fato histórico. Na verdade quem acabava orientando-os era o conhecimento da história, a própria história universal, essa pseudociência que não tem outra função do que a pretensa orientação temporal do homem, que preferiu o tempo linear ao cíclico. O grande indutor da orientação e desorientação é o conhecimento, reconhecimento e desconhecimento. Reconhecer um determinado lugar, uma determinada situação, é orientarse, dar um sentido. O conhecimento é aquilo que explica, “agora faz sentido”. Mas numa época cada vez mais plena de mudanças e desorientações, cada vez mais é necessária sua contrapartida: a aquisição de memória a granel para guardar nosso conhecimento, para que não se perca nosso sentido, nossa história. Mircea Eliade, em seu clássico Mito e realidade, nos dá um ótimo exemplo da relação memória-esquecimento com a orientação-desorientação, sentido e não-sentido. “Buda no Dighanyhâya afirma que os deuses caem do céu quando lhes falta memória, e sua memória se confunde; ao contrário dos deuses que não esquecem, são imutáveis, eternos, de uma natureza que não conhece mudanças. O esquecimento equivale ao sono, mas também à perda de si mesmo, ou seja, à desorientação, à cegueira”.34 Numa outra passagem, Eliade explica: “Mas a mitologia da memória e do esquecimento se modifica, enriquecendo-se de uma significação escatológica, quando se esboça uma doutrina de transmigração. A função do Letes (esquecimento) é invertida: suas águas não mais acolhem a alma que acaba de deixar o corpo, com o fim de fazê-la esquecer a existência terrestre. Ao contrário, o Letes apaga a lembrança do mundo celeste na alma que volta à terra para reencarnar-se. O esquecimento não simboliza mais a morte, mas o retorno à vida”. O não-sentido equivale ao esquecimento e tem seu lado positivo e negativo. Faz parte de um mesmo fenômeno, a busca da renovação do sentido. O esquecimento está diretamente associado ao esgotamento mental, aos traumatismos e à alienação. Apóia-se no esgotamento e nas extensões humanas. O esquecimento é uma coisa absolutamente humana e é visto por nós na maioria das vezes como algo negativo. Talvez seja por isso que os computadores têm memória, mas não esquecem. Curiosamente com a delegação da memória ao computador, como prótese mesmo, acabamos por dar-nos ao luxo e relaxamento de esquecermos mais e mais e mais, porque, como disse McLuhan, no lugar do corpo onde as próteses, as extensões atuam, acaba provocando uma espécie de anestesia, uma atrofia da parte metaforicamente amputada. Esse aparente non-sense, desorientação para a qual caminha a sociedade, é fruto de um falso desejo patrocinado e controlado pelos organizadores da Sociedade do Espetáculo: as corporações de telefonia, informática, bancos, agências de cartões de crédito, indústrias da segurança, etc. Cada vez temos mais mapas, radares, GPS, celulares, e podemos ser localizados em qualquer parte, controlados, mapeados. Lembrando um pouco W. Reich, o corpo é o receptáculo da memória e dos traumas, basta ativar certas partes para virem à mente certas lembranças. Como o corpo é memória, e se o esquecimento é incentivado pela indústria das memórias, isso significa uma certa política de aniquilamento do corpo enquanto corpo e receptáculo da memória. Quanto mais próteses de memória mais esquecimento. Em uma das passagens do livro Cem Anos de Solidão, García Márquez nos apresenta uma curiosa doença que a princípio se manifestaria através da peste da insônia e que evoluiria para uma situação mais terrível: o esquecimento. Quando o enfermo acostumava-se a estar acordado por dias e dias, sem sentir-se cansado, sua memória começava a se apagar, gradualmente. Primeiro as lembranças de infância, depois o nome e o sentido das coisas e das pessoas, e, num estado terminal, esquecia-se por completo da consciência da própria existência, caindo em um estado que Márquez descreveu como uma espécie de idiotice sem passado. Os Situacionistas opuseram-se aos sistemas ideológicos, ao trabalho e ao conceito de arte, ou, em outras palavras, a qualquer situação onde aparecesse um sentido da vida, um sentido comum, lá estavam para detoná-lo. A desorientação foi um elemento fundamental para a Teoria da Deriva formulada por Guy Debord. A deriva era algo próximo à figura do flaneur de Baudelaire. Os situacionistas perambulavam, como fizeram os surrealistas André Breton e Aragon pelas ruas de Paris, ou como fez muito antes Rétif de la Bretone em Les nuits de Paris, por seus labirintos em busca de desejos subversivos e novidades. O perder-se era sempre o objetivo perseguido pelos situacionistas, e para isso não mediram estratégias físicas e espaciais para a desorientação. Para eles através da deriva era possível conseguir uma consciência crítica do potencial lúdico dos espaços urbanos e de sua capacidade para engendrar novos desejos”. No fundo, a Teoria da Deriva de Debord também reivindicava e vinha somar com as proposições dos anos 60-70 de uma nova sociedade nômade, onde a mobilidade deveria desempenhar um papel fundamental. A concepção da cidade como um novo território nômade, onde se produzisse uma série de desorientações programadas, aparece mais nitidamente na idéia dos mapas psicogeográficos (naked city) de Debord. A deriva deveria constituir-se numa ciência, que eles denominariam psicogeografia, e para isso enumeraram toda uma série de campos de investigação científica que poderiam ser utilizados pelo método psicogeográfico. Entretanto, deve-se pensar que vagar, errar, é sempre um perder-se de certa forma controlado, e não significa estar perdido, como por exemplo, vagar sobre territórios conhecidos em busca do inusitado. Outra situação oposta é vagar em um território ou espaço totalmente desconhecido, inusitado, tentando orientar-se, com o risco de se perder. Talvez a maior contribuição da Internacional Situacionista, se tivéssemos que resumi-la, seria a tentativa de derrubar todas as barreiras entre a arte e a vida. A arte como política revolucionária, como estratégia de criar situações. Negando a própria condição da arte tradicional, a IS e os Provos, 40 nos anos 50, já utilizavam a cidade como palco e ferramenta para suas criações que libertariam a sociedade. Como preferências e anticonformismos pela arte tradicional, vão ter nas performances rápidas e irrepetíveis, na criação de ambientes, na mail art, na criação de situações, na intervenção sobre cartazes, nas decollages suas formas prediletas para acabar com a apatia e a sonolência da sociedade do espetáculo. Utilizaram-se da estética do shock, do estranhamento e do princípio do détournement (desvio de um objeto de sua função original), que se apropriaram descaradamente do princípio surrealista da collage, do acaso, para produzir suas situações. “Quando alcançarmos o momento da construção de situações, a meta final de nossa atividade, todo o mundo poderá manipular situações inteiras mudando essa ou aquela condição determinante”. Uma das estratégias arquitetônicas para alcançar esse fim era a utilização do labirinto. Os labirintos deveriam funcionar como espaços de deriva através das cidades. Em 1959, no Stedelijk, Museu de Amsterdã, a IS transformou algumas salas em labirintos, em uma clara homenagem à obra de Gustav Hocke, Maneirismo, o mundo como labirinto. Constant, um dos principais integrantes, criou sua proposta de anticidade: Nova Babilônia, baseada no princípio do labirinto mutante. “O labirinto como concepção dinâmica do espaço, oposto à perspectiva estática. Mas também e, sobretudo, o labirinto como estrutura de organização mental e método de criação, vagabundeios e erros, trajetos e caminhos sem saída, escapadas luminosas e reclusão trágica, na mobilidade generalizada da época (mais aparente que geral), a grande dialética do aberto e do fechado, da solenidade e da comunhão”. Para Constant, o que interessava era a invenção ininterrupta, a invenção como modo de vida. Assim ele chegará à ‘arte da cidade como labirinto’, depois de ser expulso da Internacional Situacionista por Guy Debord. O labirinto é o espaço para a desorientação. É a metalinguagem da existência do espaço, do espaço bruto. Não é à toa que para alguns autores é no labirinto, no mito do Minotauro e de Ariadne, que repousa a origem da arquitetura. Talvez o documento mais importante sobre a desorientação seja um pequeno mas contundente texto de Constant, O princípio da desorientação, o qual trato de reproduzir quase em sua íntegra, abaixo: “É um fato óbvio que na sociedade utilitarista, a construção do espaço baseia-se no princípio da orientação. Se não fosse assim, o espaço não poderia funcionar como lugar de trabalho. Quando o uso do tempo se põe desde o ponto de vista da utilidade, é importante não perder tempo e minimizar os deslocamentos entre a casa e o lugar de trabalho. Dito de outro modo, se valoriza o espaço à medida que se utiliza com esse objetivo. Por esse motivo, todas as concepções urbanísticas, até o presente, partem da orientação. Se pensarmos, entretanto, numa sociedade lúdica, na qual se manifestam as forças criativas das grandes massas, esse princípio perde sua razão de ser. Uma construção estática do espaço é incompatível com as contínuas mudanças de comportamento que se podem produzir numa sociedade sem trabalho. As atividades lúdicas conduziriam inevitavelmente a uma dinamização do espaço. O homo ludens atua sobre seu entorno: interrompe, troca, intensifica, percorre os trajetos e deixa as marcas de sua atividade. Mais que uma ferramenta de trabalho, o espaço se converte para ele em um objeto de jogo. Por isso quer que seja móvel e variável. Como já não necessita deslocamentos rápidos, pode intensificar e complicar o uso do espaço, que para ele é principalmente um terreno do jogo, de aventura e exploração. Seu modo de vida será favorecido pela desorientação, que fará com que o uso do tempo e do espaço seja mais dinâmico. Com o labirinto, a desorientação se persegue conscientemente. Em sua forma clássica, a mais simples, a planta de um labirinto mostra, num dado espaço, o trajeto mais longo possível entre a entrada e o centro. Cada parte desse espaço se visita como mínimo e solenemente uma vez: no labirinto clássico não se pode escolher. Mais tarde inventaram labirintos mais complicados, acrescentando caminhos sem saída, pistas falsas que obrigam a voltar atrás; entretanto, existe um único caminho correto que conduz ao centro. Este labirinto é uma construção estática que determina os comportamentos. A liberação do comportamento exige um espaço social, labiríntico e ao mesmo tempo continuamente modificável. Já não haverá um centro ao qual se deva chegar, mas sim um número infinito de centros em movimento. Já não se tratará mais de se extraviar no sentido de se perder, mas sim no sentido mais positivo, de encontrar caminhos desconhecidos. O labirinto muda sua estrutura sobre a influência dos ‘extravios’. É um processo ininterrupto de criação e destruição, ao que chamo ‘labirinto dinâmico’. Não se conhece praticamente nada desse labirinto dinâmico. Entende-se que não se poderá prever ou projetar um processo dessa natureza se ao mesmo tempo não se praticar. Mas essa prática será o impossível enquanto a sociedade conservar seu caráter utilitarista. Numa sociedade lúdica, a urbanização terá automaticamente o caráter de um labirinto dinâmico. A criação e recriação contínua dos modos de comportamento requerem a construção e reconstrução infinita de seus cenários, isto é o urbanismo unitário”. No labirinto clássico todos os trajetos são programados entre duas paredes que vão dobrando e redobrando-se, sem sinais, orientados a um final, a um ponto de chegada central, ou simplesmente a uma estratégia de cruzar o espaço de um lado a outro. Uma vez dentro dele, procura-se controlar e orientar seu trajeto para não voltar ao ponto de partida, para não dar de cara na parede ou continuar a girar em círculos, tal qual uma máquina desgovernada, um disco arranhado. O labirinto expressa o mundo existencial, simboliza o inconsciente, o erro, a errância e o distanciamento da origem da vida. A qualidade de perdido que determina a particular psicologia do paraíso relaciona-se com o sentimento geral de abandono e de queda que o existencialismo reconhece como estrutura essencial no humano, como afirmou Jean-Eduardo Cirlot.45 Para ele o tema de se perder e tornar a se encontrar tem seu paralelo no tema da morte e da ressurreição. “Sentirse perdido ou abandonado é sentir-se morto, pois, ainda que se projete a culpa ou a causa desse extravio circunstancial, sempre reside um esquecimento da origem e da ligação com essa origem que é o fio de Ariadne.” O próprio fio que desvendou a lógica do labirinto constitui em si origem do labirinto. O que Ariadne fez com seu fio foi desdobrar o labirinto, esticar, desenredá-lo. Isto porque os labirintos estão próximos dos entrelaçamentos, dos laços, dos arabescos, dos nós. Do nó do universo, do caos. Há esse outro sentido para o labirinto, o de nó, um laço que deve ser desatado. O que me fez lembrar de um trecho extremamente esclarecedor e lúcido de R. D. Laing, em seu clássico livro, Laços, que nos permite avançar na busca de uma saída para o labirinto. “A gente está dentro logo a gente está fora daquele dentro onde a gente esteve A gente se sente vazia porque não há nada dentro da gente A gente trata de pôr dentro da gente aquele dentro do fora dentro do qual a gente já esteve... Mas é pouco ainda. A gente trata de chegar ao dentro daquele fora do qual a gente está dentro e chegar ao dentro do fora. Mas a gente não chega dentro do fora pondo o fora pra dentro poisembora a gente esteja toda dentro do dentro do fora a gente está fora do próprio dentro da gente e quando a gente entra no fora a gente permanece vazia porque enquanto a gente está dentro mesmo o dentro do fora está fora e ainda não há nada dentro da gente Nunca houve nada dentro da gente e nunca haverá nada dentro da gente”. O sentido não está na origem, no centro, nem dentro, nem fora do labirinto, não está em parte nenhuma; talvez possamos compreendê-lo por sua mitologia. Certas culturas têm alimentado o mito de que o sentido ou a essência está no centro, no vazio das coisas ou do labirinto. O próprio Tao remete-se à utilidade das coisas e dos seres ao vazio. A origem é o centro do labirinto, seu fim e seu início. Mas no centro não há nada, a não ser a história e o mito que carregamos e adquirimos durante sua travessia. Exatamente no centro habita o falso sentido de que em seu centro sempre existe algo, e que este algo é o centro do qual tudo parte e tudo chega. E esse centro é sempre vazio. Essa crença é encontrada também em Cirlot: “A travessia, a peregrinação, a passagem, são formas diversas de expressar o mesmo avanço, partindo de um estado natural para um estado de consciência por meio de uma etapa na qual a travessia simboliza justamente o esforço de superação. Essa travessia implica o avanço através do labirinto até descobrir seu centro, que é uma imagem do centro, na sua identidade”. O vazio que se encontra no centro do labirinto, nos espaços e lugares em geral ou nas salas vazias, faz parte de um sentido comum secular muito discutido nas religiões, que gerou o equívoco de que a essência reside no vazio, no centro, na relação entre o cheio e o vazio, entre um dentro e um fora. Mas a história dos que conseguiram sair do labirinto esqueceu de contar que para perceber esse vazio é necessário estar presente ‘ali’. E o que se encontra no final do labirinto é sempre o próprio ser ocupando o espaço, o ‘eu’. O vazio e/ou o silêncio não existem. Cabe reconhecer a inexistência do silêncio, não só por dedução teórica, mas porque dizem as orelhas, como disse ironicamente Quetglas. Na Antigüidade, o labirinto simples e clássico possuía um centro, um coração, uma cabeça. O que Constant de certa forma mapeava em sua proposta é que a analogia do labirinto com o corpo, do centro como lugar do sentido, como coração, já não faz mais sentido. Nos labirintos modernos já não há um centro e, por isso, nos propõe uma Babilônia, uma gigantesca metáfora de uma megalópole onde seria quase impossível seu registro, seu mapeamento, pois estaria em constante mudança. Um outro mito que tem alimentado o labirinto é o de que ele é o lugar do encontro. A função do labirinto da cidade nunca é o encontrar-se, mas sim o perder-se. É uma armadilha, uma trampa para aprisionar e matar. Seu objetivo é que, uma vez lá dentro, não se consiga mais sair, seja por um motivo ou por outro. Só que nesse processo do perder-se, o homem acaba, algumas vezes, encontrando seu sentido através da desorientação. Os labirintos são literalmente prisões, assim imaginou Piranesi em seu Cárceres. O seu oposto - a vastidão, o mar, o deserto - não deixam também de ser uma espécie de prisão, labirinto, assim visualizou Jorge Luis Borges em um conto de suas Mil e uma noites. Não é no fato necessariamente de vagar pelo labirinto, numa espécie de novo nomadismo, que nos encontraremos, mas sim, talvez, o permanecer estático ante sua imensidão e complexidade. O vagar a zonzo em busca de uma saída só pode levar à loucura ou à diversão, que foi a maneira encontrada pelos situacionistas para viver sua existência, viver enlouquecidamente à deriva na cidade. Os mitos servem não só para explicar que todas as coisas têm uma origem e servem de modelos para novas criações, mas sobretudo para estabelecer proibições, criar medos e temores, supertições, o oculto, a unheimlich. Mas o que oculta o espaço do labirinto clássico? Se não há janelas nem portas, só dobras. Pode ele ser revelação, como crêem alguns? Se nele não há a janela albertiana tradicional, não há ponto de vista para a perspectiva, não há uma fuga. Os jogos infantis desde a Antigüidade até os atuais videogames incorporaram o labirinto tratando-o como um elemento importante na aprendizagem da orientação, para vivermos e nos deslocarmos com habilidade dentro deles. Curiosamente é o labirinto (maze) um dos primeiros véus que nos colocam para não ver que possa existir um fora, fora o jogo do dentro e do fora. O papel do labirinto, de certa forma, tem sido de não nos deixar ver o mundo que existe fora dele, ou pelo menos imaginá-lo. Sua função é exatamente não só encarcerar o corpo, mas a mente também, sob a alegação de proteção, de uma aprendizagem para a orientação, de seu aspecto lúdico. A lógica do labirinto é a lógica do jogo. Mas esse jogo tem uma função enganosa, típica do labirinto: uma vez dentro não se pode parar de jogar. Sua lógica é a de não propiciar outra possibilidade espacial fora do labirinto, a não ser de repetir sua própria lógica do jogo. Os labirintos são como as mônadas de Leibniz, não agem diretamente umas sobre as outras; elas não têm portas nem janelas pelas quais tudo possa entrar ou sair, mas cada uma está em correspondência com todas as outras. Deleuze serviu-se da metáfora do labirinto para explicar o conceito de espaço em Leibniz, em seu livro A Dobra. Diz Deleuze, “Leibniz explica em um texto extraordinário: um corpo flexível ou elástico ainda tem partes coerentes que formam uma dobra, de modo que não se separam em partes de partes, mas sim se dividem até o infinito em dobras cada vez menores, que conservam sempre uma coesão. Assim, o labirinto do contínuo não é uma linha que dissociaria em pontos independentes, como a areia fluida em grãos, mas sim é como um tecido ou uma folha de papel que se divide em dobras até o infinito ou se decompõe em movimentos curvos, cada um dos quais está determinado pelo entorno consistente ou conspirante. Sempre existe uma dobra na dobra, como também uma caverna na caverna. A unidade da matéria, o menor elemento do labirinto é a dobra, não o ponto, que nunca é uma parte, e sim uma simples extremidade da linha”. O espaço ‘leibniziano’ é constituído como um labirinto com um número infinito de dobras, algo similar à cidade composta de quadras, casas, quartos, móveis, dobras dentro de dobras, dobras que conformam espaços, como um origami, a arte da dobradura do papel. O labirinto serve-se de uma representação racional - a geometria clássica - para explicar uma outra geometria espacial existente, nem sempre visível de se representar, conformada por dobras sobre dobras. A função da dobra, como a do labirinto, é ocultar, cegar. Talvez, a morte de Deus explique e fundamente o mito da modernidade, o fim da essência, o início da existência. A essência dá lugar à existência. O mito à história. O espaço descentralizado ao fim do centro como elemento estruturador e orientador do espaço. “Ao lado dos deuses supremos e criadores que se tornam dei otiosi e se eclipsam, as histórias das religiões conhecem deuses que desaparecem da superfície da terra, mas desaparecem porque foram mortos pelos homens. Contrariamente à morte do deus Otisus, que apenas deixa um vazio rapidamente preenchido por outras figuras religiosas, a morte violenta dessas divindades é criadora. Algo de muito importante para a existência humana surge em decorrência de sua morte”. Mas a crença de que existe um sentido do espaço, uma essência, persiste em suas roupagens camufladas ou emboloradas. E, mais do que em qualquer outra parte, ele sobrevive na historia e teoria da arquitetura, na mente de muitos de seus teóricos que continuam a acreditar que a arquitetura tem uma essência, um significado. Isso porque eles, talvez, na maioria das vezes não são capazes de se desvencilhar de suas crenças, sem deixar de levá-las para a arquitetura. Nossas estantes estão cheias de significados, sentidos e essências desvanecentes, basta dar uma olhada na grande produção bibliográfica arquitetônica a partir dos anos 70. Esse modismo pode ser explicado ou justificado como uma reação à angústia existencial surgida nos anos 50-60, e para superar essa angústia recorreu-se à ciência da lingüística para voltar a significar, preencher o mundo esvaziado. A história ou o passado parece que tem pouco a oferecer para encontrar o sentido da arquitetura, isto porque a história é toda senso comum, montagem de cacos, e o sentido nunca é princípio ou origem, ele é produzido, criado, reinventado, constantemente como a própria história. A idéia de que o sentido carregue uma profundidade só pode ter uma explicação lógica na origem da representação em perspectiva. Numa profundidade disposta na superfície de representação da pintura, numa ilusão totalmente oposta à representação medieval, que abria portas e janelas, derrubava paredes para mostrar a profundidade dos corpos, misturava tempos distintos em sua narrativa, evidenciando um sentido que se abrigava na profundidade dos corpos, no interior de suas casas. O sentido despeja-se na superfície. Na superfície que se dobra sobre si mesma. Na continuidade entre direito e avesso, que se confundem na seqüência das dobras, como na folha de uma revista com seu verso e seu reverso, e com toda sua perversão da arte das superfícies, que a collage explora muito bem. Devemos entender que o sentido incorpora o outro lado da versão e que a pseudoneutralidade do sentido e da superfície é inseparável de seu estatuto de duplo e paradoxo. A dobra é a continuidade do avesso e do direito, do verso e reverso da folha, a arte de instaurar esta continuidade entre as superfícies. Foi mais ou menos assim que compreendeu Deleuze A lógica dos sentidos. O que está dentro está fora, e o que está fora, logo pode estar dentro. “A superfície, a cortina, o tapete, o casaco, eis onde o cínico e o estóico se instalam e aquilo de que se cercam. O duplo sentido da superfície, a continuidade do avesso e do direito, substituem a altura e a profundidade. Nada atrás da cortina, salvo misturas inomináveis. Nada acima do tapete, salvo o céu vazio. O sentido aparece e atua na superfície, pelo menos se soubermos convenientemente, de maneira a formar letras de poeira ou como um vapor sobre o vidro em que o dedo pode escrever”. Como frisou Deleuze, “De tanto deslizar, passar-se-á para o outro lado, uma vez que o outro lado não é senão o sentido inverso. E se não há nada para ver por trás da cortina é porque todo o visível, ou antes, toda a ciência possível, está ao longo da cortina, que basta seguir o mais longe, estreita e superficialmente possível para inverter seu lado direito, para fazer com que a direita se torne esquerda e inversamente”. O que ele nos diz, em outras palavras é que toda lógica do sentido assenta-se sobre uma lógica do não-sentido, com toda a carga de seus paradoxos, e que a superfície onde se funda o sentido se desdobra constantemente, transformando-se em nonsense, e vice-versa como num anel de Moebius. Mas o anel de Moebius também é um terrível labirinto, ele é uma armadilha simples e perfeita para o mito do eterno retorno. A metáfora do anel de Moebius ou da cortina com seu forro e opacidade é o que realmente nos impede de ver um outro tipo de espaço que não seja esse que se dobra e desdobra num contínuo infinito de repetições. A perspectiva de quem vaga ainda sobre o anel ou a cortina é de um olhar voltado para sua superfície de base, para seu horizonte infinito; a isso continuamos a chamar tridimensionalidade ou profundidade redobrada pela superfícies. É exatamente a opacidade dessa superfície, desse horizonte incerto que a física nos faz duvidar a cada amanhecer, que não nos permite visualizar as duas faces de sua superfície em simultaneidade, criando a falsa ilusão de que ora estamos dentro, ora estamos fora. Mas existe um ‘fora’ do anel, e esse fora que a lógica perversa do labirinto, do anel com suas oposições, não nos permite ver. E quando percebemos as repetições a que somos submetidos pela lógica do espaço, quando nos vemos nos vendo, somos acometidos pela Inquietante Estranheza, pela sensação de ficarmos como condenados a vagar pelo labirinto, ou de nos transformar nas formigas que andam em um único sentido no anel desenhado por Escher. Sempre poderemos ver o outro lado da superfície do anel, da cortina, do espelho, mas nunca o que está fora da superfície ou dentro da espessura inconcebível dela. O que nos revela essa lógica de oposição, desses paradoxos e fissuras, é que não podemos acreditar que existe um jogo do dentro e do fora, o jogo do labirinto, pois nessa geometria estamos sempre dentro, e o que pensamos ser o fora sempre será um dentro. No corte, na emenda do anel, do labirinto, da cidade é que se pode vislumbrar a possibilidade de que em algum momento eles possam se tornar transparentes, revelando uma outra visão não só calcada e recalcada em um sentido e em um nãosentido, mas uma visão completamente distinta desde o dentro para fora, como do fora para dentro. Como se de repente o labirinto opaco se espelhasse, refletindo o universo fora dele. Mas a lógica perversa das mônadas diz que esse outro fora pode ser mais um labirinto. O problema do labirinto, já não é o de entrar e perder-se; para quem nasceu no labirinto, para os filhos do Minotauro, o problema é sair dele. E na medida que a pseudo-imensidão de um ‘aí fora’, do deserto, do espaço, é tão assustador quanto o próprio labirinto, continuamos a espichar e a estender nossas cidades interminavelmente até que nos expliquem uma outra lógica da compreensão do espaço. Há os que dizem que no labirinto a gente não se perde, a gente se encontra; há outros que defendem que o labirinto é o lugar da perda. Na verdade o labirinto seja em suas dobras ou em sua dupla superfície, é o lugar da simultaneidade da perda e do encontro; isso porque faz parte mesmo da lógica do sentido e da cidade. Restaria uma pergunta, talvez sugerida pelos Situacionistas, mas nunca dita, ou seja, se a lógica da cidade assenta-se sobre a lógica do sentido, ou se a lógica do sentido é fruto da lógica da cidade, ou de como se dá essa correspondência? A desorientação, a inquietante estranheza é a percepção da existência de uma fratura no espaço e no tempo. O lapso, a descontinuidade, a emenda, a cola de quando se passa de dentro para fora do Anel de Moebius. Pelo efeito da dobra, a cidade se apresenta ora como uma produção ordenável lógica, ora como um labirinto ilógico, carente de qualquer sentido, dependendo do lado da superfície em que estamos. O sentido é muito frágil, se rompe fácil, quando sua superfície é cortada ele caí na profundidade do abismo, dos significados. Deveria-se ainda pensar se o sentido da arquitetura não deveria também ser interrogado no seu sentido de persistência, nessa pseudo-essência da permanência, em sua imortalidade ante o tempo, ou mesmo em sua transitoriedade. Ou ainda de ser não só a própria superfície onde se integram as demais artes, mas o suporte onde se depositam as proposições do sentido. Curiosamente, tampouco o sentido da arquitetura está na superfície, em seu revestimento, como tentaram mostrar os Novos Brutalistas ao pelarem a arquitetura mostrando a beleza de sua nudez, de sua estrutura, criando uma espécie de antiarquitetura, e reinventando um novo sentido para a arquitetura, evidenciando seu aspecto de construção bruta e de espaço existencial. A estória dos três porquinhos, nesse sentido é mais que ilustrativa para mostrar os falsos sentidos da arquitetura criados entre permanência e efêmero. Desde cedo a estória trata de colocar na cabeça das crianças o valor de uma arquitetura sólida, permanente, em contraposição à arquitetura frágil e efêmera. Por trás do pano de fundo dessa estória encontra-se associada a valorização do trabalho, onde aqueles que não trabalham devem morar numa arquitetura frágil e perecer, ou então se abrigar na casa do porquinho prático. Era contra isso que os Situacionistas, e principalmente Debord, em sua Sociedade do espetáculo, se debatia. Só o sólido com seu paradoxo efemeridade tem sentido para uma sociedade baseada na exploração do trabalho, na produção pela produção, na sociedade de consumo. Para isso a estória opera diretamente com o terror da sinistra figura do lobo mau que derruba as casas com seu sopro. Ignasi Sola Morales, em seus últimos ensaios também percebeu essas diferenças, “Os lugares da arquitetura atual não podem ser permanências produzidas pelas forcas da firmitas vitruviana. São irrelevantes os efeitos de duração de estabilidade, do desafio da passagem do tempo. É reacionária a idéia de lugar como cultivo e entretenimento do essencial, profundo, de um genius loci difícil de acreditar em uma época de agnosticismo. Mas essas desilusões não têm porque levar ao nihilismo de ma arquitetura da negação.” Encontramos falta de sentido em muitas coisas e em muitos sentidos, como as já apresentadas anteriormente: a orientação, a existência, a memória, o espaço do labirinto, etc. Mas existe ainda um outro sentido não diretamente vinculado ao espaço, mas que poderíamos associar à proliferação repetitiva das coisas, à produção excessiva de objetos, às grandes megalópoles; toda essa infinidade de coisas, por um motivo ou outro, acaba nos parecendo igual, despertando-nos a baunasia, a falta do sentido do espaço, das cidades e da própria existência. A perda de sentido é também a perda da individualidade, da identidade, anunciada por Freud como o problema do duplo na unheimlich, ou a constante preocupação apontada no IX e no X Congresso Internacional de Arquitetura Moderna sobre a perda da identidade na arquitetura; ou ainda o triunfo do anonimato, a perda da aura, anunciados por Edgar Alan Poe, Baudelaire e W. Benjamim. Para o sentido do espaço ou do lugar não existe o não-lugar. Triste expressão, pois todo lugar é um lugar. Todo espaço é uma possibilidade de um vir-a-ser ou do que já foi. O espaço é anterior ao homem, e se não for é parte da extensão dele. Logo, é impossível levar adiante a categoria de não-lugar como algo que inexiste. É evidente que tanto para Melvin Webber, nos anos 60, como para Marc Augé, o não-lugar não significa o não-lugar propriamente dito. Os espaços que eles designam como não-lugares são lugares sem significação, desatados do tempo, da história, da memória, iguais ou semelhantes em todos os lugares, sem identidade. Desde sua ótica: desorientadores. Entretanto, dentro do sentido de orientação da sociedade eles possuem um papel relevante de serem lugares de transição de uma cultura a outra, de comungar o universal, de criar territórios orientáveis em qualquer território distinto do viajante, ou mesmo dentro da própria cultura. Por exemplo, uma das funções dos aeroportos é não provocar a desorientação dos viajantes, mas sim amenizar qualquer desorientação que se possa produzir, levando até ao paradoxal efeito de se ter aterrissado no mesmo lugar. A maioria deles possui regras de orientações comuns, ditadas mundialmente, como, por exemplo, embarque no segundo pavimento e desembarque no primeiro, setores de check in, etc. Os rápidos deslocamentos de um ponto a outro, sem ao menos percorrer as distâncias sobre terra, percebendo lentamente suas diferenças de um território a outro, fazem com que os aeroportos e todos esses não-lugares, façam parte de um código de orientação universal. Essa pseudo falta de uma identidade formal arquitetônica bastante criticada, não é mais que o correspondente de uma outra lógica formal, cuja função é não provocar a desorientação, mas que infelizmente é pouco trabalhada em termos de arquitetura. Não bastando todos os labirintos físicos e reais que nos aprisionam, recriamos novos labirintos nos espaços virtuais. Pelo medo da desorientação continuamos a construir labirintos por onde passamos. No mar ou no deserto da Internet encontramos muitas coisas interessantes. Um trabalho plástico com um lúcido e interessante texto é O lugar: agora... onde mesmo? Um labirinto, mais um labirinto de Duane Michals. Um trabalho que mostra mediante textos e imagens que nossa orientação é totalmente equivocada e imposta pela onipresença das imagens técnicas, pela janela da máquina fotográfica. O texto diz o seguinte: “O lugar é feito pelo olhar, mas o nega. Atrai a visão e a modela. Tem uma luz artificial, mas que não vem substituir a do sol: vem concorrer com ela, brigar com ela pela primazia de fazer ver o existente. O lugar é feito a partir de uma janela: a janela da máquina, a janela maquínica que abre para uma outra realidade – a realidade virtual. Na casa, a porta é o limite entre o dentro e o fora. Na casa, a janela é a abertura do fora, como um quadro para o dentro, e do dentro como uma nesga para o fora. Mas agora, na casa outra janela se abre, e vê-se um outro ‘fora’ por onde se entra, uma outra realidade que luta com o dentro da casa e o fora da casa pela atenção do olhar, do sentir e do pensar. Para as máquinas, funcionar, agora, é conectar-se aos humanos e impor-lhes a inteligibilidade, os limites maquínicos. Como que convida para um labirinto, a máquina convida o homem a ir consigo. O homem aceita”. O que elas dizem é dito num espaço sem compromissos de fixar no tempo a mensagem – o que se vê/lê hoje pode desaparecer amanhã, sem aviso. Endereços não são mais encontrados, a busca de links esbarra em ‘file not found’. A NET é o espaço do puro presente, que foge do futuro, apagando o passado”. Se certas coisas ou certas arquiteturas nos parecem hoje sem sentido, não importa. Assim como o esquecimento, logo a memória retorna, logo a face do não-sentido se desdobra e dá espaço a um novo sentido. Quanto mais hoje as coisas pareçam sem sentido, mais sentido terão amanhã, por força mesmo da natureza do sentido. O descortinar do sem-sentido sempre passa pelo labirinto, cruza de ponta a ponta a cidade. Os poetas Floriano Martins e Claudio Willer escreveram um interessante editorial para a revista Agulha sobre cidade e memória, salientando a essencialidade do instante, da deriva, não apenas recorrendo ao bordão da ruptura, mas antes sondando as inúmeras possibilidades de identificação, complementaridade, desdobramento. “As cidades e sua música abrasada de extravios são uma imposição de falsos encontros. Tudo é perda ali, a começar pelo que julgamos encontrar: a idéia precária de localização que ostentam as inúmeras sinalizações, os caminhos dados como únicos, ainda que bifurcados. A rigor, a única razão para que o homem mergulhe no labirinto aflitivo da malha urbana é a de buscar perder-se de todo e descobrir ali uma antítese para o que lhe foi deturpado a caminho. Entrar ali para perder-se de si, tratando de recuperar um outro já de muito desfeito. Portanto, as cidades não são lugar de encontro, mas antes de acento da perda. Assim vale caminhar por elas, perdendo-se no esgotamento de ruas e em sua escuridão ardilosa. Seguir por ali como quem recorda um verso de René Crevel: ‘com as pernas abertas, uma cidade dorme nua sobre o mar fosforescente’. Não descartar jamais o erótico. A própria e cultuada beleza, de prédios, roupas, carros - a estética da velocidade, seu charme domado nos engana ao esconder o vazio em que se ergue. O humano pode se instalar em qualquer espaço, mas deve levar consigo o sentido. Hoje um ardil conceitual embaralhou o racional ao irracional, proveniente de uma astúcia respaldada em certo temor atávico do homem conhecer-se mais intimamente. As cidades devem ser vistas como um convite a que o homem saia de si, sim, mas que essa aventura se justifique por uma busca mais ampla de sua existência. Tocar as reentrâncias das cidades; beijar-lhe com sutileza os caminhos, embriagando-lhes o passo. Um homem não pode compreender nada fora de si se evita tocar-se. As mulheres estão mais próximas desse conhecimento essencial porque sabem fazê-lo. Sabem preencher com mãos internas e externas todo o ímpeto de sua vida. Os homens se distraem com uma exuberância fortuita e erguem cidades onde ninguém mais se toca entre si. Pensemos nas cidades como um aglomerado de casas e ruas conectivas. Não temos aí senão uma fertilização da solidão. Os espaços de convivência são ilusórios porque o mercado das almas prevalece em tais sesmarias. As cidades são um lugar fecundo para que se perceba as vozes que revelam as dissidências. Entregar-se a elas, perder-se nas dobras insuspeitas. Tornar a vida uma grande aventura. Calvino a elas se referiria como palimpsestos: raspando-lhes a face vamos dar em outra que nos evita olhar e logo em mais outra que se abre despojada e outra mais e mais, até o infinito. No entanto, o que quer que engulamos, terá seu destino certo sob uma ótica que não é mais apenas laboratorial. As cidades não são mágicas. Não são fantásticas. Não são indícios de uma evolução humana. O próprio Calvino diria: não existe linguagem sem engano. As cidades são a medida exata do homem que temos hoje. Este homem tão afeito ao racional que consegue desconquistar-se. Não está mais. Não é mais ele. E rigorosamente não ensina a si mesmo sequer uma rua mais tranqüila para chegar ao espelho. Raspando a face do que nos mostra o cotidiano damos em um imenso vazio desconfigurado. Não há cidades. Seguindo as placas, nada muda, pois abolimos a distinção entre visível e invisível. Perdemos as cidades, quando o ideal era nos perdermos nelas”. E quanto mais se estende essa busca pelo sentido, mais sem sentido ela se torna. Este texto carece de sentido, até mesmo sua existência é questionável. Qualquer intenção na tentativa de compreender o sentido do espaço, percorrendo esses estranhos lugares em busca de um sentido, só pode resultar numa tola incursão. Normalmente, atribuímos existência aos espaços e às coisas, mas na realidade, sem nós, elas não existiriam. Pensar um espaço como existente, significa pensar em si próprio. Infelizmente, na exigência da objetividade, acabamos por abstrair os espaços, as coisas e conseqüentemente nossa própria existência. Gabriel Marcel, certa vez disse: “Quanto mais eu acentuar a objetividade das coisas, cortando o cordão umbilical que liga à minha existência, mais converterei este mundo num espetáculo sentido como ilusório”. Para os existencialistas a existência precede a essência. Em termos filosóficos todo objeto tem uma existência, um sentido e uma essência. E essa essência é o próprio sentido, ou viceversa. Entretanto, muitas pessoas crêem que a essência vem antes da existência. Essa idéia tem sua origem no pensamento religioso do século XVIII quando se acreditava na existência de uma essência natural, um sentido para os homens como natureza humana e, por exemplo, conceitos inatos do que deveria ser uma casa, uma praça, uma escola, etc. O que derivaria posteriormente na teoria dos tipos, na cruel teoria determinista do caráter em psicologia. Exemplificando, Sartre em O Ser e o Nada, explicou esse falso sentido da natureza determinista, ironicamente, citando o caso das ervilhas e dos pepinos: “Muitas pessoas crêem que as ervilhas, por exemplo, se arredondam conforme a idéia de ervilha, e os pepininhos são pepininhos porque…” Fernando Freitas Fuão (Brasil, 1956). Arquiteto. Organizou o volume Arquiteturas fantásticas (1999). Autor de Canyons (2001). Contato: fuao@vortex.ufrgs.br. Página ilustrada com obras do artista Carlos M. Luis (Cuba). retorno à capa desta edição triplov.agulha índice geral jornal de poesia revista de cultura # 39 - fortaleza, são paulo - junho de 2004 Poiesis: diálogo com Rodrigo Petronio Wanderson Lima . WL – Sua atividade como crítico tem sobrepujado, na opinião da maioria, sua produção poética e ficcional. Isso te incomoda? Você pode explicitar que continuidade há entre o crítico e o poeta e ficcionista? RP – Olha, acho que isso se deva primeiro a um motivo ocasional. Meu único livro de poemas publicado é de 2000, e teve tiragem de 500 exemplares. Não saiu nem uma mísera menção em nenhum jornal. Depois, com o Transversal do Tempo, meu livro de ensaios, de 2002, já tinha um número bom de contatos e pude fazer uma distribuição grande de exemplares. Confesso que fiquei surpreso com a repercussão. Muitos comentários, resenhas, entrevistas, notas, o que me deixou muito feliz. De tempos pra cá também tenho escrito em alguns veículos da imprensa, textos críticos, ensaios, resenhas. É algo que me dá muito prazer, gosto muito desse debate público de idéias. Quanto ao meu trabalho ficcional é mais grave: não tenho nenhum livro publicado, só contos espalhados em suplementos. Talvez por isso meu nome esteja mais associado à crítica que à poesia e à ficção. Esse ano devem sair dois livros: um de ensaios, chamado O Grão e o Cosmo, e um de poemas, pela editora Girafa, em novembro. Também devo ser publicado em antologias poéticas no exterior, em Portugal e na Venezuela. Vamos ver como as coisas se desdobram. A princípio e em primeiro lugar eu sou poeta. Tento plasmar a escrita ensaística, ficcional e a propriamente poética com o imaginário da poesia. Ela é uma espécie de eixo do meu pensamento e da minha visão do mundo. Não vejo disjunção nenhuma entre essas atividades. No começo tinha algumas dúvidas, achava que a crítica iria inibir minha criação. Bobagem. Percebo que ela, sendo feita da maneira que tem sido feita e pensada por mim, só tem fortalecido minha poesia e minha ficção. São seguimentos de uma mesma matriz. Se você não se afasta da matriz, tudo corre às maravilhas e a engrenagem funciona bem. Mas para isso há que se fazer algumas rupturas. Por exemplo: há um tipo de linguagem e de pesquisa acadêmica que eu me recuso a fazer. Mesmo estando ligado à universidade, a universidade é uma parte do meu trabalho intelectual não eu uma parte dela. Se não fosse assim, eu já a teria abandonado. De fato, todas essas dimensões que você menciona são modalidades. O que me interessa mesmo é o texto e a intensidade que corre nele. Independente de ser histórico, biográfico, poético, filosófico, ficcional ou de qualquer outro gênero. Nos últimos tempos tenho me dedicado muito à leitura de poesia e filosofia, por exemplo. Acho que são irmãs conaturais e complementares. Extraio muito prazer de ambas, no sentido intelectual e também em um outro, quase sexual. Mas, no fundo, o que anima todas essas vertentes e vozes, acredito que seja a Poesia e o Mito. A poesia no sentido grego do termo, como poiesis, que é do verbo poien, que significa fazer. Creio que o poeta é um Fazedor, como bem intuiu Borges. Então a atividade poética transcende a poesia e deságua na própria atividade de plasmar, modelar e transfigurar o real, sejam quais forem os meios que ela assuma para isso. Se for reconhecido como ensaísta, ainda que a despeito da minha poesia e ficção, isso não me incomodará em nada. Serei reconhecido pelo teor poético da minha prosa ensaística. Já é uma grande honra. WL – A crítica que julgou o Modernismo já não é hegemônica. O professor Paulo Franchetti, para citar um só exemplo, afirma que a nossa literatura foi contada de forma acentuadamente teleológica. Segundo ele, a eleição do Modernismo como ponto de culminância de nossa atividade literária acarreta dois problemas: “Em primeiro lugar, essa escolha tende a gerar uma apreciação esquemática dos períodos imediatamente anteriores, que, por necessidade argumentativa e pela adoção das bandeiras modernistas pelo historiador literário, acabam sendo apresentados como zonas cinzentas, sem relevo, em que apenas se destacam os anúncios do que está por vir. (...) Em segundo lugar, a mesma idéia de chegada promove uma narrativa em que a literatura brasileira vai se formando como organismo ou sistema ao mesmo tempo que a nação, sendo esse momento de autonomia ou completude a segunda fase modernista. Essa perspectiva promoveu (...) um recrudescimento da identificação romântica entre o nacional e o estético, entre a construção nacional e a construção estética, que durante os anos 1960/1970 deu origem à perversa polarização entre ‘esteticismo’ e ‘participação’ que marcou os debates literários e a cena cultural brasileira de modo geral”. Como você se situa nesta discussão? RP – E agora, depois da USP e do Concretismo, chegou a vez da Rede Globo de televisão tentar colonizar o resto do Brasil com a belle époque da paulistocracia e repor o mais do que desgastado, enjoativo e inócuo mito modernista. Mas há um movimento interessante de crítica a essa tradição canônica, não só do modernismo brasileiro, mas dos outros modernismos também. Na Inglaterra um historiador excelente, Paul Johnson, abriu recentemente uma polêmica sobre o assunto. Aqui no Brasil há o trabalho finíssimo de Hugo Estenssoro na imprensa, entre outros, e no meio acadêmico, o de intelectuais como Alcir Pécora, João Adolfo Hansen e Leon Kossovitch. Não seria o caso de lembrarmos o gênio Gilberto Freyre caçoando da visão de Brasil de Mário de Andrade? Ou da importância de Câmara Cascudo para a pesquisa folclórica, em muitos sentidos maior do que a do poeta paulista? Ou do papel decisivo de Alberto Nepomuceno, em certo sentido até um precursor de VillaLobos? Poderíamos reavaliar a obra de Augusto dos Anjos, confrontando-a com os tristes poemas-piada de Oswald de Andrade, para pôr um pouco de pimenta no debate? Ou pensar em artistas monumentais e até hoje ainda pouco absorvidos pela crítica, como Ismael Nery, Iberê Camargo e Farnese de Andrade, todos em um âmbito plástico e de discussão que transcende e passa a quilômetros de distância dos valores canônicos estatuídos pelo Modernismo? Fico feliz de ver você mencionar essa abordagem lúcida de Paulo Franchetti. Hoje em dia os maiores escritores brasileiros estão inseridos em uma tradição totalmente alheia aos valores literários do Modernismo. Penso nas obras de Dora Ferreira da Silva, Foed Castro Chamma, José Santiago Naud, Gerardo Mello Mourão, Ariano Suassuna, Vicente Franz Cecim, Nauro Machado, César Leal, Hilda Hilst, entre tantos e tantos outros, que não há como mencionar aqui. Se não sairmos desse ideário modernista, estaremos fadados a ignorar essa produção. Acho que um dos maiores cancros do pensamento hoje em dia é essa teleologia que você muito acertadamente menciona. Ela se baseia em um afunilamento da História, afunilamento este que gera todo tipo de exclusões estéticas e históricas, contribuindo para a falsificação dos fatos tais e quais eles se deram, bem como do valor das obras do passado, lidas em função dessa escatologia carola da cartilha marxista, o que, em suma, é uma atitude autoritária. E, diga-se de passagem, esse discurso autoritário foi forjado e construído justamente pelos defensores cegos da dialética, que acham que o movimento humano dentro da história obedece a um sentido inequívoco e segue uma seta de tempo rumo a um futuro triunfal. Isso gerou um dos conceitos mais nojentos que temos hoje em dia: o contemporâneo, vulgarmente conhecido também como pós-moderno. O poeta Affonso Romano de Sant’anna tem contribuído muito com sua artilharia fina para desmantelar os engodos gerados por esse conceito. Resta que também nós contribuamos para colocar a discussão em termos mais lúcidos, fora do âmbito dogmático e demagógico. Como mapear milhões de quilômetros e culturas e etnias e produções simbólicas dispersos pelo mundo, elegendo quais são mais ou menos sintonizadas com o nosso tempo? Como definir quais são mais modernas, mais avant garde, mais inventivas, como quer essa fauna de poetas desmiolados que posam na mídia hoje em dia? Aliás: como definir o que é o nosso tempo, essa entidade sutil e etérea, essa abstração cândida, esse enunciado vindo dos abismos e masmorras da mais retrógrada metafísica? Há que se convir que há várias temporalidades convivendo simultaneamente dentro disto que chamamos de nosso tempo, e que a pluralidade dos centros de produção e de poder não é algo mais ou menos bom ou ruim, mas sim um fato incontornável. Se você quiser negá-la ou omitila, você cairá na maldita teleologia, na concepção evolutiva e positivista da História, e, sob o pretexto da mais austera convicção no desenvolvimento social, econômico, artístico e espiritual de uma sociedade, você estará tão-só legitimando essa estrutura podre de exclusão das diferenças e de homogeneização, que é o princípio mesmo do capitalismo tal qual o vivemos, e contribuindo para o fortalecimento do Império do Mesmo. Aliás, há décadas a própria idéia de vanguarda e ruptura se tornou absurda, algo digno apenas de ser cultivado entre ignorantes. Na medida em que você vive em uma sociedade totalmente regulada pelo dinheiro e a livreconcorrência, a própria defesa do novo, que a arte apresenta falsa e demagogicamente como uma atitude revolucionária, está inserida nesse mecanismo mercadológico prévio e nessa mentalidade empresarial: o artista, quando se diz radical ou qualquer bobagem do tipo, está simplesmente criando uma imagem consumível de si mesmo, e dizendo, por contraste, que os outros não são tão inovadores quanto ele e, portanto, tão dignos de freqüentar as prateleiras das livrarias e as resenhas dos jornais. De transgressão isso não tem nada. É a pura e cristalina lógica do consumo, do fetiche, da mercadoria e da mais-valia. Arte que se preocupa com o novo é uma arte idiota. Estaremos assim sendo representantes dessa estrutura que continua amordaçando e deixando alijadas dos centros de poder as manifestações culturais que não se encaixem nas engrenagens dessa gincana cultural, que seus proponentes intitulam História da Arte. Aliás, se quisermos ir mais longe, é desse ideário que se nutre boa parte da esquerda brasileira, com seus intelectuais mancomunados com a cabeça em 1917, seu fisiologismo partidário e seu nepotismo de cátedra, legislando sobre o nível de síntese dialética e de engajamento das obras de arte e da literatura. Seria oportuno, nesse caso, para eles despertarem de seu entorpecimento coletivo e voluntário, que lessem o belo e demolidor livro de Gerard Lebrun, O Avesso da Dialética, uma leitura de Hegel à luz de Nietzsche. A partir dele podemos revolver e trazer à luz todo o lixo que a fé cega na dialética produziu, bem como reavaliar muita coisa boa que esta mesma dialética varreu para os porões da história, com seu discurso teleológico e seu sectarismo cor-de-rosa, como se seus defensores fossem eles próprios investidos da própria graça do desenvolvimento e do progresso, e, portanto, uma nova legião de intocáveis sobre a Terra. WL - Você citou Nauro Machado, Dora Ferreira da Silva, Foed Castro Chamma e César Leal, poetas muito menos conhecidos do que merecem. Fabrício Carpinejar, em entrevista que me concedeu, afirmou que “uma tônica realista e ateísta impregnou o cânone brasileiro”, banindo dos centros de discussão os poetas metafísicos, barrocos e visionários. Chegamos a uma situação tão insólita que Alexei Bueno chegou a afirmar (cito-o de memória) que se Herberto Helder fosse brasileiro ele passaria despercebido ou seria tachado de retrógrado. Você corrobora com o posicionamento desses dois poetas? RP – Concordo totalmente e fico muito triste com tudo isso. É uma depauperação do nosso horizonte poético que vem se dando de tempos para cá, e que consiste em aprisionar a arte e a poesia dentro de uma gaiola dogmática. Isso se deve sobretudo a um problema que para mim é a medula de todos os problemas intelectuais brasileiros: nossa herança positivista. É ela que engendra a teleologia e a visão evolucionista que você mencionou há pouco, já que positiva uma pretensa e universalmente aceita modernidade como parâmetro e julga toda a produção pregressa, concomitante e posterior a partir do conjunto de valores dessa hipotética modernidade. No nosso caso, há a hegemonia de cacoetes do modernismo e do concretismo espalhados por todos os lados. É algo nauseante. É a blague, o humour sem graça, a gracinha, a piada, o trocadilho, a visualidade, a intersecção com outras mídias, a bizantina discussão da poesia que é canção e da canção que é poesia, a pré-histórica discussão dos limites entre arte, nãoarte e anti-arte, as palavras espalhadas na folha em branco, como se alguém as tivesse cuspido, a sintaxe de tropeções, a gagueira poética, o poeta que enrola a língua para falar, a pseudo-erudição, a pseudo-poesia anti-discursiva, a citação impertinente, a afetação pedantesca, e, no fundo disso tudo, uma vacuidade gritante. Uma vacuidade que espelha e ratifica o mundo onde vivemos, por mais que seus proponentes e teóricos queiram nos provar o contrário e nos demonstrar o valor de seu teor crítico escolar. De certa maneira isso tudo é compreensível, já que para ser um poeta visionário não basta apenas ser bom poeta, mas é preciso ser um grande poeta. Ao passo que para seguir o ramerrão de literatura urbana e do realismo de baixa qualidade, e para fazer versos quebradiços que passam por forma auto-crítica, poemas-piada embolorados e diluição de experimentalismo de linguagem concretista, basta ter um pouco de coordenação motora e alguns amigos para escrever orelhas e prefácios. Haja vista o que a tradição crítica brasileira fez e vem fazendo com as obras monumentais de Murilo Mendes, Jorge de Lima e Augusto dos Anjos. São poetas sintonizados com o húmus mais ancestral de nossa cultura, com seu desiderato mítico e épico, com sua ancestralidade mais pulsante. Claro que eles escapam aos espartilhos dessa tradição que quer engessar o pensamento e a arte, mumificá-los com imperativos sociológicos e formalistas altamente questionáveis. Muitos de nossos gênios da raça, como Machado de Assis, Euclides da Cunha, Gilberto Freyre, Darcy Ribeiro, Glauber Rocha, Guimarães Rosa, Vicente Ferreira da Silva, entre outros, intuíram esse substrato mítico de nossa cultura, e conseguiram extrair dele a força de suas obras. Mesmo Oswald de Andrade sabia muito bem desse caráter totêmico fundante de nossa tradição, caráter este que havia sido recalcado pelo transplante da moral burguesa para os trópicos e por causa da nossa subserviência intelectual e cultural à Europa. Pena que Oswald seja vítima de tantas desleituras. São poetas e pensadores, portanto, infensos a esse tom afrancesado e a essa babaquice de contenção, rigor, forma, Idéia, Nada, negatividade, e todo esse receituário de boutique intelectual que se vende por aí como palavra de ordem. Só os idiotas querem se conter. O bom artista não quer nunca parar de transbordar. É um manancial eterno e incessante, uma corrente que desconhece limites, prumo, esteio, margem ou centro. Só os idiotas confundem esterilidade com engajamento ético e estético, e elogiam o deserto como um parti pris progressista, quando na verdade estão simplesmente testemunhando sua nulidade artística e fazendo da arte um altar onde se imolam as nossas últimas esperanças e onde se corrobora e reafirma a esterilidade de nosso próprio tempo. WL – Em entrevista que concedeu a Floriano Martins em Agulha 32, você afirmou: “Todas as maneiras de abordar o passado são criticáveis, devem ser, como tudo. Mas acreditar que elas sejam excludentes é algo que só colabora para o benefício da exclusão e não do espírito”. Ora, me parece que a leitura da história da literatura promovida pelos concretistas colaborou fartamente em benefício dessa exclusão de que você fala, por ter ensejado uma exclusão sistemática de diversas vertentes do universo literário em prol de uma meia dúzia ou pouco mais de autores que precederam ou anteciparam a “revolução” concretista. Além de perigosa, essa manipulação não me parece nada ética. O que você pensa a respeito? RP – Como bem disse o poeta Affonso Romano de Sant’anna, se um químico decide que apenas os gases nobres devem ser estudados, ele não está mais fazendo química: ele está fundando um partido político. O Concretismo foi e continua sendo um entreposto poético da CIA em São Paulo. Foi porque sua história é basicamente a história de uma cartilha política e poética que pretende catalogar e discernir o que é invenção e o que é antigo, o que é novo e o que é velho, o que é vanguarda e o que é retaguarda, o que é inovação e o que é retroação, e assim por diante, em um exercício colegial altamente constrangedor para qualquer pessoa que tenha o mínimo de massa encefálica e vergonha na cara. É um binômio tão torpe que os softwares da década de 50 se enrubesceriam caso o tivessem produzido, mas seus proponentes o repetem até hoje, com uma placidez inacreditável. São boas almas iluministas, no sentido mais patético do termo. Continua sendo porque o ideário da grande maioria dos poetas que se pretendem inovadores, hoje em dia, não passa de um palimpsesto, um xerox, um papel carbono, uma cópia esmaecida das bobagens que os concretistas vêm repetindo há cinco décadas. São agentes internacionais infiltrados no Brasil cuja finalidade é validar e distinguir o que é moderno do que é antigo, e assim gerar superávit poético, tecnologia literária de ponta, para que possamos nos equiparar, poeticamente, aos grandes centros de poder, e assim tornar a literatura brasileira um bem de consumo e investimento sustentável e confiável. Transformá-la no famoso biscoito fino para exportação, na acepção de Oswald de Andrade. Bonito, não? A propósito, já que você mencionou meu querido amigo Floriano Martins, falou do cânone modernista e agora fala em Concretismo, o próprio Floriano tece uma comparação apropriada entre esses movimentos. Não estaria a Semana de 22 para o Estado Novo da mesma forma que o Concretismo está para o Golpe de 64 e, mais especialmente, para o AI-5? Acho que essas associações transcendem em muito o mero acaso. Não acho também que a comparação seja mera metáfora ou tiro no escuro. Eis a teleologia de volta aqui, nesse movimento, com força total e em seu ápice de idiotismo e alienação. Haroldo de Campos, em uma entrevista antológica, disse que a importância do Modernismo foi ter atualizado o Brasil com o Futurismo italiano, já que o Manifesto Futurista, sendo da década de 10, punhanos em um “atraso irreparável” de quase uma década em relação à Europa. Raciocínio brilhante, magnífico, inteligência rara! Então para o Brasil se desenvolver temos que imitar um bando de italianos fascistas idiotas, cuja contribuição para a arte do século XX foi praticamente irrisória, consistindo na produção de meia-dúzia de manifestos ridículos, e cuja obra se resume a uma enfiada de poemas ruins? Se for assim prefiro evoluir me equiparando à arte bizantina do ano mil, à arte parta de dois mil antes de Cristo, à arte do século XVII, à poesia da dinastia Ming. Esse é um exemplo precioso da má-fé desses senhores. Isso, claro, potencializado pelo fato de estarem há cinco décadas repetindo o mesmo disco riscado, e distribuindo suas hóstias e suas circuncisões de modernidade pela imprensa em um ritmo nauseante, no que se pode ter a dimensão do estrago que esses grandes inovadores promoveram no Brasil, não só na esfera da literatura, mas em um sentido cultural mais amplo, já que, mais do que escritores, eu os considero, na verdade, agitadores culturais. Agora, tudo isso é lido e referendado de uma maneira totalmente escolar e imbecil. Fala-se da contribuição que o Concretismo teve à literatura brasileira trazendo alguns excluídos para o cânone. E por que não se fala do oceano que esse mesmo movimento excluiu do cânone, ao transformar a história da literatura universal em uma ilha cujo ponto cêntrico são seus próprios umbigos? O que é mais assustador em tudo isso é o abismo que há entre a vindicação crítica desses autores, e de seus seguidores, e a qualidade deprimente de suas realizações poéticas empíricas. Essa é a parte mais séria. Porque eles usam o discurso da crítica como autoridade para legitimar uma criação que é, feitas algumas exceções, pobre, ruim, raquítica e destituída de qualquer interesse que não seja arqueológico. Isso gera uma grave distorção na cabeça dos leitores mais ingênuos, que sucumbem sob a autoridade da teoria e têm sentido, mente e gosto obnubilados por ela, de modo que não sabem mais avaliar o que estão vendo e julgar o que estão lendo. Veja a obra poética de Décio Pignatari. A diferença entre ela e um catálogo de agência publicitária é que ele a transformou em poesia por meio do discurso autoritativo (dir-seia autoritário) e da deformação descarada de Peirce, Saussure, Jakobson, MacLuhan, Hjelmslev, Derrida, Pound, Mallarmé, e mais uma lista infinita de autoridades que desfilam pelos olhos do leitor. Isso tem nome. Chama-se: cabotinismo. Ou: golpismo. Em último caso, isso se manifesta da maneira mais cristalina possível quando o autor vota em si mesmo como um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Isso é muito sério, porque cria um desequilíbrio entre a especificidade empírica de uma obra e seu correlato teórico, que é construído pelos próprios criadores da obra com a função de a referendar sob quaisquer hipóteses contrárias e anular as possíveis críticas a ela. A obra poética de Pignatari é um lixo. Qualquer pessoa que entenda um pouco de arte e tenha um pouco de conhecimento da história da poesia visual sabe disso. E, no entanto, as camadas de discurso crítico e a teoria vêm sempre preencher esse vácuo simbólico e formal dos seus anúncios visuais. Os publicitários, que são mais inteligentes do que Pignatari, fazem de sua arte o seu ofício, e com ela ganham dinheiro e a executam em sua funcionalidade. Pignatari, por motivos que desconhecemos, apoiado em toneladas de teoria, transformou a sua publicidade em poesia, e assim rompeu as barreiras entre essas práticas para poder satisfazer sua vaidade canina. Eu me pergunto: o que esperar de uma poesia que só é poesia porque está em um livro de poesia? O que esperar de uma arte que só é arte porque está dentro de um museu? Por acaso você acha que se eu despejar um caminhão de areia na esquina da minha casa e ficar a seu lado fumando de piteira alguém vai me pedir um autógrafo? Quer coisa mais acadêmica do que uma arte que depende do museu pra ser arte? Quer coisa mais demagógica e hipócrita do que alguém que nega as instituições mas mantém o seu status graças às instituições? São as contradições insolúveis desses descaminhos modernos: uma arte que nasceu como crítica ao espaço museológico hoje se apóia nele para manter seu status, a despeito de seu sentido crítico inicial. Uma poesia que nasceu como crítica do suporte poético e da literatura como instituição, hoje precisa prestar genuflexões à crítica e lançar mão de toda sorte de falcatruas teóricas para continuar sendo poesia, no que seu espírito demagógico se revela em seu ápice. Não sei o que se ganha com isso, já que os publicitários são pessoas mais felizes e não têm que pôr em xeque o seu ofício o tempo todo para sobreviverem, ao passo que Pignatari tem que estar o tempo todo sustentando algum tipo de adversidade para fazer com que seus trocadilhos visuais deixem de ser propagandas dele próprio e passem a ser poemas ideologicamente engajados. Outro exemplo. Veja a produção poética recente de Augusto de Campos. É algo feito por e endereçado a adolescentes. É vergonhoso ver um autor que se diz poliglota e poeta, do alto dos seus mais de 70 anos, publicar o que ele publica sob o glamour do ineditismo. No entanto, basta vir a lume, e já se enfileiram uma série de semiólogos tentando explicar os jogos semânticos entre os verbos fazer e querer, como outros tantos já se debruçaram sobre o isomorfismo poético achado pelo poeta entre as palavras viva e vaia e sobre a grande descoberta que foi o poeta ter notado que a palavra rever pode ser lida de trás pra frente e vice-versa, sem perda do sentido. Isso para não lembrar pérolas passadas. Preciso recordar aqui o poema de Augusto de Campos em que ele nos fala de uma “noturna noite”? E o “inferno ofélio do langue heliotropo”, de Haroldo de Campos? Nem Bilac seria tão ousado para chamar o girassol pelo seu nome grego, heliotropo. O que é muito triste é que o trabalho deles como tradutores é algo de altíssima qualidade e importância. Nesse quesito creio que sejam uma unanimidade, feitas apenas ressalvas pontuais a suas escolhas. Porém, seria preciso ler as traduções à parte, destacadas do contexto em que nas oferecem, já que sua crítica acaba deformando os autores traduzidos e usando-os interessadamente para seus próprios fins, tornando-os precursores deles próprios. Os padres do século XVII tentavam provar que a Santíssima Trindade já estava na Trindade egípcia de Hermes Trimegisto, e que a criança da Écloga II do poeta pagão Virgílio é Jesus Cristo, transformando assim o cristianismo na suprema finalidade dos homens na Terra. Os concretistas tentam provar que o concretismo já está in nuce em Píndaro, Leopardi, Dante, Bashô, Rilke e numa lista praticamente infinita, querendo com isso ser, eles próprios, a consumação e o cume da história universal da arte. A única diferença, no caso, é o uso ou não de batinas. Trata-se, sim, de atitude nada ética, para não dizer extremamente retrógrada. E o que lhes deu visibilidade foi sua atividade crítica, que é das piores possíveis, e sua produção poética, que é, em geral, de qualidade muito desigual, quando não francamente ruim, tendo que ser sistematicamente confiscada e endossada pela teoria que eles próprios criaram para se auto-explicar, e que hoje em dia seu séqüito de acólitos desmiolados fazem o favor de repetir ad nauseam, para a tristeza da literatura. Essa é a vanguarda brasileira, a nossa ponta-de-lança. Esses são os desbravadores dialéticos, aqueles que nos põe em primeiro lugar no páreo da arte universal e que nos atualizam com as tendências mundiais do melhor que acontece na arte e na literatura. Ah, e vale dizer, aqueles que, com isso, estão tirando o país da miséria. É algo da maior importância. Temos que respeitá-los. WL – Impera ainda, a meu ver, a polarização imbecil que divide os jovens poetas entre concretistas e reacionários, “vanguarda” e a “retaguarda”. Por que é tão difícil no Brasil ser poeta sem prestar genuflexão ao Concretismo? Você vislumbra possibilidades de superação dessa situação? RP – A polarização é mais que imbecil, é coisa para assistir de longe, aos risos. E veja: foi criada pela própria arrogância alucinada dos criadores do movimento. Só terminará o dia em que esse ideário equivocado que eles defendem for varrido de uma vez por todas do mapa. Um grupo de sujeitos cujas obras são altamente questionáveis do ponto de vista formal e mal conseguiriam ultrapassar os seus anos de publicação, caso não as tivessem atirado na parede e recheado o espantalho de feno teórico, e falam da morte do verso como quem diz que acabou de matar uma mosca. Pignatari, em uma entrevista, chega a dizer que os escritores brasileiros são burros, por isso não compreenderam a sua arte. Augusto de Campos acha que tudo que não é inovação, no sentido tecnológico (e burro) do termo, é sonífero. Curioso, porque sono é o que mais me provocam eles, suas opiniões e suas obras. E esse besteirol tem sido levado adiante hoje por uma gente que está mais interessada em fofoca, coluna social e brigas comadriais do que em literatura. Acho que não vale nem a pena comentá-lo. Tenta-se eleger isso ou aquilo como pedrasde-toque, mas a única coisa que se consegue é produzir discursos autoritários e centralizadores. Aliás, é impressionante como a tradição escravocrata e bacharelesca brasileira se manifesta sem peias e de vento em popa na nossa vida intelectual. São coisas tão gritantes que só não vê quem não quer. Eu, por razões que desconheço, tenho um ódio religioso a todo tipo de centralidade. Pra mim, falando francamente, isso é coisa de gente doente e sem capacidade para o amor, sem generosidade e sem a mínima vocação para a alteridade. É uma atitude psicanaliticamente narcísica e socialmente autista, um bloqueio em todas as potencialidades de trocas afetivas e uma esterilidade simbólica, cuja origem está em uma única palavra: o recalque. É a sexualidade recalcada em forma de culto à linguagem, é a política recalcada em forma de palavra pura (embora se reivindique que tal pureza é uma forma de participação), é a poesia recalcada na masmorra da forma autofágica, é o real recalcado em sua própria simulação. Esterilidade, vacuidade, negatividade. E o pior de tudo: há todo um discurso construído e pré-fabricado para endossar esse espírito de decadência, no sentido nietzschiano do termo, como se isso fosse atitude crítica, reflexiva, ruptura, engajamento, revolução, negação, transgressão e uma batelada de palavras adolescentes que ainda têm valor de troca entre os intelectuais adolescentes. Nos EUA, o umbigo econômico e político do mundo, tivemos Walt Whitman, Ezra Pound e Allen Ginsberg. Cada um a seu modo cantou a América e libertou o imaginário em toda a sua potência rumo à integração de arte, atitude, pensamento e política. Poderiam ter-se acomodado e ganhado dinheiro com palestras para publishers e universitários, aspirando ao Pulitzer Prize. E não o fizeram. No Brasil, um país que tem uma contribuição desprezível para a história da arte e do pensamento humano, um país escravo e podre desde as suas raízes, um país colonizado desde as suas empregadas domésticas até seus scholars, tivemos um movimento que, com sua afetação afrancesada, entronizou a potência mais obscurantista e mais decadente de que se tem notícia: o Nada. Falam de forma pela forma como engajamento, mas a forma que executam não serve pra nada, a não ser para a autoreferência de sua própria inépcia técnica e poética. Falam de revolução pelos mass media, mas a única coisa que conseguiram foi romper as fronteiras entre arte e cultura, entre figuração e transfiguração, e assim idiotizar a poesia e a arte misturando-as com a ponta-de-lança do capitalismo, da publicidade e da demagogia, sob o pretexto falacioso do espírito crítico e de contestação que subjaz a suas realizações. A situação que vemos hoje é deprimente. Sujeitos que se mostram verdadeiros ventríloquos dos irmãos Campos sendo levados a sério e referendados como se estivessem emitindo a última palavra em arte. E assim vamos eternizando essa miséria intelectual rumo ao nosso prometido futuro utópico. Utopia: palavra que só vinga na latrina dos países subdesenvolvidos, como forma de anestesia e entorpecimento, quando passamos a ver o presente sob o efeito hipnótico de um futuro hipotético, e assim o anulamos em sua potência em troca de algumas sombras, nuvens e neblinas apaziguadoras. WL – Apesar de sua admiração confessa por poetas como Donizete Galvão, Contador Borges e Claudia Roquette-Pinto, seus estudos têm se concentrado em autores canônicos. Você poderia explicar o porquê. RP – Antes de ser um bom escritor, até de ser um escritor, o que mais quero é ser um bom leitor. Não há regras para um bom escritor. Mas há algo que eu acho que é quase um imperativo para se ter uma idéia da potência que é a literatura e para exercê-la com dignidade: os clássicos. Está tudo lá. O futuro da literatura está nas camadas e camadas de sentido que podemos mover e remover do passado, de modo que, alterando as peças do xadrez, possamos criar uma arte totalmente diversa de si e ao mesmo tempo idêntica à sua própria história que, por algum motivo divino ou por mero acaso, ainda permanecia submersa em alguma zona de sombra. Não faço nenhum elogio boboca da erudição, que pode ser um belo sedativo e desviar nossos olhos do que realmente importa. Kant não sabia grego e teve um conhecimento bastante precário da obra de Platão e da própria história da filosofia, por exemplo. Não fosse ele ter tido contato com a obra de David Hume talvez não tivesse sido o que foi e feito o que fez: uma das maiores revoluções do pensamento. O que estou dizendo é que há, sobretudo no Brasil, um elogio da espontaneidade e da informalidade que me dá náuseas. Todos crêem piamente que o escritor escreve para retratar a sociedade, para criticar seu tempo, para expressar suas angústias, para produzir entretenimento, para se evadir, para vender e fazer dinheiro, para produzir contracomunicação ou apenas para criar uma realidade paralela à qual vivemos. Perde-se aqui um dado óbvio, que transcende a sociologia, a psicologia, a economia, a publicidade e, no pior dos casos, a patologia. Esquece-se que o escritor escreve em primeiro lugar porque lê. Um autor vem de outro. Essa é praticamente uma lei, como a da gravidade. Uma história da literatura que fosse pensada como a história de um contínuo tecido de textos que se entrecruzam na obra de um autor, muitas vezes por razões misteriosas, é algo que ainda não temos e que nos escapa. Não falo de filologia. Falo de outra coisa. Falo da consciência profunda e da identificação existencial, histórica e concreta que um escritor precisa ter por uma obra do passado para que possa enfim retomá-la, revivê-la e recriá-la, de modo que, a partir de sua atualização, consiga dar o melhor veredicto possível de seu próprio tempo. Escritor espontâneo e ingênuo é conversa para idiotas. Até porque essa mesma ingenuidade é conquistada com muito suor e às vezes é até programática. Vide o belo ensaio de Heidegger sobre Höderlin. Poeta ingênuo é poeta in-genus, fora do genus, sendo genus plural de gens, que é gente, ou seja, coletividade, sociedade, povo, mas também tradição e origem. O poeta ingenus é aquele que rompeu a aliança que o vinculava à coletividade à qual pertencia e da qual se origina, que se mantém fora da comunidade, da tribo e da tradição, pensada de forma orgânica e integrada. É aquele que está fadado a criar sua própria tradição. Nesse sentido toda a poesia moderna é ingênua, na medida em que não é mais a expressão de um todo social harmônico e de suas partes, mas sim, pelo contrário, uma ruptura sumária com essa mesma sociedade e com seus valores. O que há de ingênuo nisso, na acepção superficial da palavra? Creio que nada. Por isso, você pode me falar o grande, pequeno ou médio escritor que seja, que mereça um monumento ou uma nota de rodapé na história do Espírito, que eu lhe direi onde ele bebeu o que fez e onde leu o que criou. Gênios inspirados aparecem um por século. Mesmo no caso deles há muita controvérsia. Na adolescência Rimbaud chegou a ganhar concursos de poemas em latim. Um amigo tempos atrás descobriu traduções em versos que Rimbaud fez de Lucrécio, poeta dificílimo de traduzir. Voltando à sua pergunta: os clássicos são meu alimento cotidiano. Não vivo sem eles, mas eles prescindem de mim. Eles me inscrevem, mas eu não os possuo. Essa é a dose de liberdade e desprendimento que mais me encanta. Isso não quer dizer que não aprecie, leia e me corresponda com os poetas de hoje. Afinal, eu e você estamos entre eles. WL – Já que falamos em autores canônicos, o que você pensa a respeito da atividade do crítico Harold Bloom? Apesar da sua quase ensandecida shakespearelatria, qual a importância das teses de Bloom no contexto da crítica atual? RP – Acho muito saudável que haja um Harold Bloom para nos livrar da lama em que vem chafurdando os subprodutos das vertentes desconstrutivistas. Digo subprodutos porque a teoria desconstrutiva tem muitos pontos interessantes. O próprio Bloom a seguiu durante algum tempo, viu nela pontos de contato com a cabala, que ele tanto aprecia, e foi bastante amigo de Paul de Man, um crítico leitor de Derrida. Refiro-me a essa horda de sub-intelectuais feministas, homossexuais, negros e a essas minorias que ficam usando a literatura como cavalo de batalha político-ideológico. Eles são os que detestam Bloom, pelos motivos, meios e razões erradas. Seu trabalho é importante na medida em que dá uma espécie de eixo gravitacional da grande literatura. Queiramos ou não, haja os problemas ideológicos, estéticos e políticos que todo cânone tem, é impossível ler Cervantes e Dante sem ter os ombros levemente curvados pelo peso da realização objetiva de suas obras. E em último caso, o cânone é algo construído pela comunidade dos leitores ao longo dos séculos, não uma dinastia mantida à força por uma corriola de meia-dúzia de críticos espalhados pelo mundo. O problema da obra de Bloom é que ele faz essa eleição sem polêmica. As grandes obras e os grandes autores entram para a sua caravana triunfal de modo tão asséptico que deixam de ser os grandes autores e as grandes obras que de fato são para virarem modelos de profundidade e de sabedoria em um mundo mergulhado na estupidez, na mercadolatria e na publicidade. Assim ele acaba transformando grandes autores em grandes autoridades: fornece ao mundo um espelho de sua grandiosidade perdida e clama a esse mesmo mundo por redenção como Isaías clama a Deus no deserto. Nesse sentido ele se revela bastante judeu. E esse é o lado complicado de críticos como Bloom. Em uma sociedade toda regrada pelo consumo, obras como o Gênio acabam tendo função profilática, e alimentando a lógica da qualidade absoluta. Aliás, diga-se, lógica tão norte-americana, não? Se todos os setores da sociedade a almejam, por que a literatura não a almejaria? Costumo dizer que a obra de Bloom é uma fábrica de profundidade espiritual com padrão Yale de qualidade. Ela é positiva na medida em que é reguladora, em uma realidade atrofiada por politizações e perseguições ideológicas das mais espúrias. Mas deixa muito a desejar se quisermos ter uma visão profunda, vertical e crítica dos mesmos autores que ele contempla. Afinal, esses mesmos autores nunca escreveram pensando em entrar para a obra do professor Bloom. Pelo contrário, mantinham uma relação litigiosa, agonística e polêmica entre eles próprios. Os exemplos seriam muitos para arrolar aqui. Por fim, a idolatria a Shakespeare é algo que se mostra apenas mais patente em Bloom, mas é uma doença do mundo anglo-saxão. Dizer que Shakespeare inventou o humano é pressupor que andássemos de clava em punho até Shakespeare? Essa doença existe também em âmbito francês e na Itália. Quer discussão mais idiota do que saber quem é maior poeta, se Dante ou Shakespeare? É algo que só serve para mobilizar a paixão rasteira da platéia e exercitar um pouco o nosso patriotismo, tão em baixa em um mundo que se quer global e mal consegue dar conta de seus infinitos quintais. WL – Você ressaltou, na pergunta anterior, que as teses desconstrutivistas têm “muitos pontos interessantes”. Poderia trazer à tona esses pontos ou alguns deles? RP – Alethéia é, ao pé da letra, aquilo que permanece, já que se trata de tudo o que nega o Letes, rio do esquecimento. Tudo o que não se subordina ao devir do tempo, que se fixa, que é perene e se mantém é alethéia. Essa palavra foi traduzida, portanto, durante muitos séculos, como sinônimo de verdade. Aqui estão implicados os transcendentais platônicos, já que o que é verdadeiro é necessariamente bom e, sendo bom e verdadeiro, também é forçosamente belo. De posse destas três qualidades, a única coisa que se pode esperar é que tudo o que for bom, belo e verdadeiro seja também duradouro, constante, mais perene que o bronze, no famoso verso de Horácio. Mas desde que Martin Heidegger descobriu nos textos dos filósofos pré-socráticos uma nova acepção para esta palavra o pensamento nunca mais foi o mesmo. Porque para eles alethéia também pode ser traduzida como: aquilo que aparece, que é desvelado, que se mostra no logos, no discurso. Ora, aqui a idéia mesma de verdade acaba se subordinando a um fenômeno sensível e passa a assumir o valor de um epifenômeno aparente, que aparece sob dada circunstância e sob determinado regime de significações, já que só existe na ordem do discurso, é parte integrante de uma imanência discursiva e só pode ser verdadeira enquanto tal. Assim também se retira dela o lastro metafísico e essencialista que a animava, e que a ligava à cadeia entitativa e à causa suprema, última e onipotente que é Deus. Essa é uma das grandes transgressões do pensamento: a verdade é fenômeno e construção do discurso, nunca nomenos e coisa em si, como já advertia Kant. Essas indagações vêm desde o grande filósofo de Königsberg, passam pelo romantismo, por Hegel, deságuam em Husserl e, depois, em Heidegger, e destes dois últimos, penetram e alimentam toda a filosofia do século XX e agora do século XXI. Excetuo Nietzsche e Schopenhauer, ambos também herdeiros da tradição criticista kantiana, mas herdeiros que a radicalizaram de uma tal forma que acabaram se tornando figuras excêntricas dentro desse desenvolvimento da filosofia ocidental. Enquanto, por exemplo, os filósofos debatiam o sujeito transcendental de Kant e o trabalho do negativo de Hegel, Nietzsche vai dizer que o sujeito é uma ficção e que a dialética é um artifício com o qual a consciência escrava se vinga da consciência senhorial, perfazendo, nas suas palavras, o ápice do ressentimento cristão e da moral de rebanho. A meu ver, o desconstrucionismo é o ponto de exaustão dessa longa tradição. Seu mérito é ter aprofundado e radicalizado a tese de que a verdade é um epifenômeno lingüístico. É certo que já encontramos algo semelhante nos filósofos céticos da Antiguidade, em Sexto Empírico e em Montaigne. Mas aqui o âmbito e a gravidade dos problemas é de ordem bem diversa e de outra amplitude. Acho que um pensador que soube levar esse questionamento a um ponto brilhante e irreversível foi Gilles Deleuze, e sinto-me muito afinado com a sua filosofia, principalmente com suas obras maduras, como Diferença e Repetição e Lógica do Sentido. Deleuze é um dos grandes filósofos do século XX. Muito difícil falar em pensamento moderno sem passar por ele. Jacques Derrida tem textos e idéias muito interessantes também. Mas no seu caso tudo que em Heidegger e Husserl é investigação radical e mergulho nas origens, sinto nele se reduz a uma onomástica universitária. Falta força existencial a seus questionamentos. Tudo acaba se pulverizando em uma desmontagem de conceitos, proposições, sentenças e enunciados, algo mais digno de um escoliasta do que de um filósofo. De tempos para cá o filósofo de minha devoção tem sido Martin Heidegger, o filósofo por antonomásia, que tenho lido, relido, freqüentado e estudado. Para mim a filosofia do século XX e XXI gravita em torno de três nomes: Henri Bergson, Edmund Husserl e Martin Heidegger. Tudo gira em torno deles, nasce deles, retorna a eles ou remete a suas obras. Mesmo os grandes livros dos melhores pensadores que lhes são posteriores, como O Ser e o Nada de Jean-Paul Sartre, guardam um débito enorme, dir-se-ia essencial, para com essa trinca de ases. Eles são espécies de gênios seminais, de eixos gravitacionais do pensamento moderno. E há um quarto nome, que é inclassificável e que surge para desmantelar o sistema e desorganizar a reflexão em suas raízes: Friedrich Nietzsche. O fato de ter conhecido Nietzsche na adolescência foi algo decisivo para toda a minha vida. Creio que seria muito diferente do que sou caso esse fato não tivesse ocorrido. Não sei se melhor ou pior: diferente. É um dos autores da minha vida. Para o qual eu estou sempre retornando sempre que penso que estou no caminho certo, para assim poder felizmente me perder de novo. Ele é um antídoto contra o veneno das convicções. Agora, quanto às aplicações da teoria desconstrutivista à crítica e à história da literatura, já é bem problemático, pelos motivos que enumerei na resposta anterior. Boa parte dos autores que décadas atrás questionavam o cânone como algo autoritário e centralizador hoje estão revendo suas premissas e estão envolvidos em um outro horizonte de indagações, para mim muito mais interessante. WL – Quais serão os focos de interesse de O Grão e o Cosmo, seu próximo livro de ensaios? RP – Ele será uma coletânea de ensaios e estudos. Concentrase na literatura, mas se espraia um pouco pela filosofia também. Aliás, para mim, como já disse, esses compartimentos são ilusórios. Toda a atividade do espírito que tenha a palavra como suporte e fim é integrante das Letras. Procurei um enfoque mais temático nesse novo livro. Há um longo ensaio de abertura que tenta equacionar o binômio Poesia e História, vendo suas afinidades e exclusividades ao longo do tempo, bem como suas possíveis permutações. Há um ensaio sobre poesia e religião na Índia, abrangendo o interregno que vai dos hinos védicos a Buda. Há um sobre a criação poética de maneira geral e outro sobre crítica literária. Há um estudo sobre a poesia grega arcaica, um sobre as Memórias Póstumas de Brás Cubas e outro sobre alguns aspectos dos Sermões do padre António Vieira. O livro contempla um texto sobre Elias Canetti e uma análise do Poema Final de Camilo Pessanha. Fecha-se com um ensaio que aborda o pensamento de Vicente Ferreira da Silva. O seu horizonte, tanto temporal quanto geográfico e cultural está mais amplo que o do livro anterior, Transversal do Tempo. Isso é temeroso. Pode parecer megalômano. Mas não teria graça se não fosse. Wanderson Lima (Brasil). Poeta e crítico. Autor de Escola de Ícaro - O Exercício Necessário da Queda e Morfologia da Noite. É um dos editores da revista Amálgama [www.revistaamalgama.hpg.ig.com.br]. Rodrigo Petronio é poeta e ensaísta. Autor de Transversal do Tempo (ensaios) e História Natural (poesia). Contato: pseudopetronio@directnet.com.br. Página ilustrada com obras do artista Carlos M. Luis (Cuba). revista de cultura # 39 - fortaleza, são paulo - junho de 2004 artista convidado: carlos m. luis Este, fondo con Carlos Eme, es Carlos Lorenzo García Vega . ¿Cómo es eso? ¿Cómo voy a decir sobre un fondo? ¿Se trata de un berenjenal bendito donde me pudiera meter ? ¿Hacia cuál salsipuedes me voy a dirigir? Veamos… ¿Lo digo?, ¿me atreveré? Bueno…, es algo así como… ¿Cómo qué? Bueno…, el fondo…, ¿lo digo por fin?. Bien , me atrevo. Lo voy a señalar a como pueda, y quizá como dando brincos.. Se trata, como siempre estoy diciendo, de que vivo en una Playa Albina. Una Playa Albina, este lugar donde vivo, como ya he dicho y repetido es un lugar seco, y es un lugar donde hubo (por tiempo y tiempos) una colchoneta vieja tirada en una tierra baldía, y es un lugar lleno de feos canales, y es, en fin, eso donde, como quien no quiere la cosa, puede llegar a tropezar un fantasma de medio pelo. O sea, para empezar, una Playa Albina es el inevitable telón de fondo para todo esto que voy a decir. Un telón de fondo, o paisaje, pues, como se sabe, todo requiere tener un telón de fondo o paisaje. Pues bien, para hacer el cuento corto, y teniendo el telón de fondo Playa Albina, un día acompañado por el poeta Carlos Eme, o por el creador de collages Carlos Luis, o por el crítico de Arte Carlos Martínez Luis, o por el amigo Carlos M Luis (que de todas estas distintas maneras puede decirse éste, Carlos, que ahora nos va a acompañar), entramos por una sala situada en el horrible downtown, albino, de esta horrible Playa Albina; la recorrimos de punta a cabo y, al salir, ¡es increíble!, nos encontramos cargando una liebre. ¿Una liebre? Así mismo. Pues se trataba de que en la sala que recorrimos estaban los adminículos de Joseph Beuys, y Beuys tiene que ver con la liebre, y nosotros acabamos cargando con la liebre. Con una liebre, así mismo. Desde ese momento, salidos de la sala del downtown cargamos con la liebre de Joseph Beuys. Cargamos y, a partir de ese momento, yo me decidí, homenajeando a Duchamp, a emprenderla con un palíndromo en otra cerradura, mientras que Carlos, liebre sobre el brazo, empezó a hablar de las experiencias del arte plástico literario. Habló Carlos del año 300, y habló de Teócrito de Siracusa, y habló de Sinias de Rodas, y esto, entonces, para, desde ese momento caer, de lleno, como el que cae desde esa nave intersistemaria "Karnak", relatada por Gurdjieff, en las ondulaciones y peligros de la escritura visual. ¿Se quiere una operación más difícil, entonces, que la asumida por Carlos Eme a partir del momento en que se metió en la sala del downtown? Una operación que, como a mí me obsesionar hacer eso, la voy a repetir, aunque aumentándola, por última vez, para así grabarla, o cifrarla, o lo que sea, en los siguientes puntos: - primero, Carlos entró en la sala downtown, oyendo una musiquita sabrosa como de pianola del pasado; - Carlos, entonces, salió de la sala, llevando en los brazos la liebre de Joseph Beuys; - Carlos, sofocado por la emoción, no sólo se puso a hablar de Sinias de Rodas y de Teócrito de Siracusa, sino que, en un instante de súbita comprensión, llegó a saber que la pianola que acababa de oír no era un anacrónico elefante musical del pasado (pues, en un primer momento, Carlos creyó, efectivamente, que se trataba de una anacrónica pianola de la década del 20 que estaba haciendo oír "Júrame", la canción romántica de María Greber), sino nada menos que la pianola de Nancarrow (pero, ¡dios!, ¿se puede saber cómo ese súbito comprensivo que sustituyó a la Greber por el Nancarrow, pudo caer, con la velocidad del rayo, sobre el Eme Luis?); - Carlos, entonces, alucinado con la pianola de Nancarrow que antes le pareció que sonaba a "Júrame", llegó a su casa y, sin abandonar la liebre de Beuys, se plantó frente al teclado de su computadora y, como si estuviera tocando una pieza de jazz en un piano (Carlos, debemos advertirlo, siempre sueña con teclear un texto escrito como si estuviera tocando el piano), se lanzó a la, delirante, difícil operación consistente en lo siguiente: conjurar la aparición de un lenguaje, pero no para escribir un texto, sino, primero, para contemplarlo tal como si fuera un voyeur de la palabra, y esto para después tratar de transmutar a la palabra en lo visual del grafismo; -anótese bien esto, entonces: Carlos, un voyeur de la palabra; - y no sólo un voyeur, sino que, también, liebre en mano, Carlos Eme, después de haber pasado por la sala del downtown, y después de haber salido con la liebre de Beuys, y después de haber oído "Júrame" en la pianola de Nancarrow, y después de haber ejecutado un jazz en el teclado de una computadora, termina convirtiéndose en un 'language designer"; pero, la manera en que esta conversión se efectuó, tenemos que referirla en otro epígrafe, en el epígrafe siguiente. 1 De la manera en que Carlos M. se ha llegado a convertir en un "language designer". Pues bien, no sólo Carlos M. ejecuta en el teclado de su computadora una pieza de jazz, sino que también él, en el momento en que se acuesta a dormir, lleva a cabo el siguiente ceremonial: se sienta junto a su TV; enciende su TV; coloca, sobre la mesa donde está la TV, ese cartelito que con letras grandes dice EL POETA TRABAJA (cartelito que, antes, como ya se sabe, lo expuso también, al meterse en la cama, el poeta francés Saint-Pol-Roux) ; y, por último, acunado por las luces y sombras del noticiero televisivo, plácidamente se entrega al diálogo con el sueño. Un diálogo con las sombras del sueño, entonces, en pleno siglo XXI, y bajo el cielo que sirve de techo a la Playa Albina, es lo que lleva (y he ahí el secreto), noche tras noche, al Carlos Eme hacia ese lugar donde, una onírica alucinación pictográfica, hace que el ícono sustituya a lo escrito. Un diálogo, entonces, con esas sombras del sueño que levanta la TV de la Playa Albina, exacerba al Luis M. hasta llevarlo a ver, noche tras noche, unas paredes que serían, ¡nada menos!, que las paredes que rodearían a ese Tim Finnegan, también conocido como Finnagain ¡Todo un rebumbio!, en fin. Pero un rebumbio que, al despertar nuestro soñador del fiestongo onírico, no se convierte en anarquía, ya que Carlos M., temeroso siempre de perder el status quo, puede acogerse a la ventaja de poder mantenerse, como voyeur del lenguaje, en una posición serena, reposada, de 'language designer" (y, sobre esto, podemos recordar las palabras de Décio Pignatari, fundador del movimiento de poesía concreta: "el nuevo poeta visual se convierte en un "language designer" o diseñador de lenguaje, más que en portavoz del lenguaje".) O sea, dicho de otro modo, que la trayectoria de Carlos M. Luis, ha sido la siguiente: -entró (pero en esa época yo no lo conocí) en la semejanza, al llegar a su juventud, buscándole, a través de los cadáveres exquisitos, los tres pies al gato surrealista, y esto, increíblemente, para adquirir , para siempre, en un lugar donde nunca hubo vanguardia, la ciudadanía de la vanguardia; -lo conocí, años más tarde, en un mundo catedralicio sobre el cual me he decidido a no hablar más o, al menos, a hablar sobre él (sobre el mundo catedralicio, por supuesto) lo menos posible:; -volví a conocerlo, o lo conocí mejor, en un capítulo -con New York como telón de fondo- de mi siempre inédita autobiografía "El oficio de perder"; -hasta que, en esta Playa Albina, como ya empecé diciendo, entré con él por una sala del downtown, y esto para acabar saliendo los dos con una liebre en los brazos; - y he aquí, entonces que, quedando grabado por un telón de fondo albino, el surrealista Carlos busca que la palabra poética que él intentó cuando, una vez, entró en la semejanza, ahora se le convierta en una plástica glorieta izada sobre uno de los canales de esta Playa Albina, y esto con una paredes para Finnegan, que, también le puedan servir como un paradójico In Memoriam dedicado a recordar el futuro (¿un In Memoriam del futuro?). 2 Últimas credenciales de Carlos/ Pero además, pero además de esas credenciales para un creador de un In Memoriam del futuro que arriba hemos expuesto, cuáles son, para los amigos que lo conocemos desde antes del diluvio, las últimas credenciales de Carlos. Bien, podemos decir que los que conocimos a Carlos en la pesada, muy pesada atmósfera de los poetas de una generación del 50 cubana, encontramos en él la alegría que podía comunicar quien, siguiendo a las vanguardias, comunicaba su ansiedad y sus volteretas a través, entre otras cosas, de esos brincoteos entre la plástica y la literatura que al final, en esta Playa Albina, y después de haber encontrado a la liebre de Beuys, lo ha llevado a caer bajo una buena definición: poeta visual. Pero, sobre todo, si pudiera definir y no definir, agarrar y no agarrar, lo mejor de Carlos, diría que con él se trata de una paradójica disposición del cuerpo que lo lleva, como si fuera un palíndromo viviente, a no detenerse reposadamente ante nosotros, sino que, para ofrecernos su visión como de picoteo, su visión como de caracoleo, él siempre parece que mira, sin detenerse, diagonalmente, o que él entiende un texto desde una derecha-izquierda, pero a la vez leyéndolo desde una izquierda- derecha. ¿Cómo se entiende esto que estoy diciendo? No sé cómo podría hacerlo entender. Pero si quisiera hacer visible, a través de un relato, lo mucho, valioso, que Carlos nos entrega de su mirada, tendría que colocarlo a él, acompañándonos en una exposición de cuadros. Ahí, en esa visión es donde se nos concretiza la huidiza presencia de Carlos ante lo que tan bien sabe mirar. Pues es que -y que entienda quien quiera o pueda entenderCarlos asiste a las exposiciones para esconderse. O sea, él caracolea, se escapa; convierte las diagonales en gestos corporales, y esto hasta que al final, cuando ya nos hemos cansado de buscarlo, se encuentra en la entrada de la exposición, lugar de donde, inquieto, nos está esperando para partir, sin que parezca que haya visto, sino de refilón, los cuadros, los cuadros que él ha entendido mejor que nadie, pero que sólo sabe explicarnos como en una taquigrafía nerviosa, donde toda clase de citas pueden aparecer, desde las nubes de Baruj Salinas, hasta quizá unos cometas ("pelucas vagabundas") del comunista utópico Louis Auguste Blanqui. Así que no creo que haya que explicar más, pues como comencé diciendo, yo siempre temo meterme en un salsipuedes, pero por suerte, creo que en esta ocasión no me he metido en ningún berenjenal bendito, ya que, sin duda, este de que estoy hablando es Carlos, o Carlos Eme, o Carlos M. Luis, el poeta visual que, en una Playa Albina, le levanta paredes, espolvoreadas con perfumes parisinos, al tremebundo Finnegans Wake. Lorenzo García Vega (Cuba, 1926). Poeta y novelista. Autor de livros como Suite para la espera (1948), Los años de Orígenes (1979) e Variaciones a como veredicto para sol de otras dudas (1993). Contato: logar8@yahoo.com. Página ilustrada com obras do artista Carlos M. Luis (Cuba). retorno à capa desta edição triplov.agulha índice geral jornal de poesia revista de cultura # 39 - fortaleza, são paulo - junho de 2004 livros da agulha 1 Azougue 10 anos. Org. Sérgio Cohn. Entrevistas e antologia de textos, com Afonso Henriques Neto, Claudio Willer, Dora Ferreira da Silva, Leonardo Fróes, Roberto Piva, Jorge Mautner, Vicente Franz Cecim, dentre outros. Ed. Azougue. São Paulo. 2004. 448 pgs. Este livro é a celebração dos dez anos da revista Azougue. Dentre os diversos recortes possíveis de sua trajetória (havia, por exemplo, a possibilidade de uma antologia dos poetas novos que passaram – ou mesmo estrearam – em suas páginas, assim como dos autores traduzidos), decidi me ater àquele que para mim é o mais representativo do espírito da Azougue: uma reunião dos poetas brasileiros homenageados nos números da revista. Para melhor se entender o que estou chamando de homenagens, é necessário voltar ao contexto em que a Azougue foi criada, em 1994. Éramos um grupo de jovens na faixa dos 20 anos. Havíamos descoberto, quase por acaso, a poesia de Roberto Piva, o que pela primeira vez nos sugeriu a existência de uma literatura brasileira subterrânea, que passava ao largo dos manuais acadêmicos e da mídia. Empolgados com as perspectivas abertas por essa descoberta, rapidamente estávamos lendo um elenco de autores - o próprio Piva, Claudio Willer, Afonso Henriques Neto, Antonio Fraga, Campos de Carvalho, e mesmo nomes como Jorge de Lima e Murilo Mendes -, que criavam um panorama muito diverso da literatura brasileira do que nos havia sido ofertado até então. E cada novo nome era uma conquista: como era praticamente impossível encontrar seus livros nas estantes das livrarias, éramos levados a peregrinações pelos sebos da cidade, assim como a intermináveis tardes na Biblioteca Municipal, copiando alegremente à mão poema por poema dos livros que encontrávamos. Paralelamente, começávamos a esboçar os nossos próprios textos, claramente influenciados pelas obras desses autores. Não demorou muito para percebermos o quanto era necessário expor nossas influências para que nossos poemas fossem compreendidos. Como resposta a isso, e à vontade de trazer a público a obra de autores que tanto amávamos, decidimos criar uma revista de poesia. E foi a consciência dessas intenções que gerou a estrutura da Azougue. Estava claro para nós que não fazia sentido publicar análises ou textos remissivos a uma poesia na época inacessível, especialmente para o público alvo da revista (uma das características da Azougue é a sua intenção de não ser uma revista restrita aos leitores assíduos de poesia, buscando sempre conquistar um público jovem e diversificado - por isso as festas de lançamento que misturavam poesia, música e cinema). Assim, a função primeira da revista seria a de apresentar essa poesia, permitindo o acesso a ela. A forma escolhida para isso foi simples: pediríamos depoimentos aos poetas, falando sobre a sua própria obra, e acrescentaríamos a esses depoimentos uma antologia o mais abrangente possível de sua obra. Cada número traria dois poetas, além de poemas de autores novos e traduções. Essa acabaria sendo a marca principal da revista: dar voz direta aos poetas, sem grandes intervenções dos editores. Fomos criando assim uma série de homenagens, como chamávamos, já que não nos agradava a palavra “dossiê”, que nos remetia a uma coisa distante, fria. Ainda mais porque essas homenagens eram, como já dizíamos no editorial do número zero (quando ainda era um fanzine em xerox), “um pacto com poetas”. São esses pactos que se encontram aqui reunidos. Mas, afinal, de que poesia trata a Azougue? Embora seja possível perceber diálogos e convergências dentre os poetas aqui presentes, eles representam uma rica diversidade de dicções e motivações, e seria mais que temerário, até mesmo um erro, tentar unificá-los em uma ou outra tendência. Mesmo assim, vamos trabalhar com a hipótese (não inteiramente fora de propósito) de que há uma coerência interna na escolha dos autores que foram homenageados na revista e que agora fazem parte desse volume. A única forma de se pensar essa coerência seria através de uma aproximação inversa, a partir daquilo que esses autores não são. Se há uma característica comum na obra de todos esses poetas, é a eleição do verso como forma predominante de construção poética. Verso livre, já que entre todos eles apenas Paulo Henriques Britto adota formas fixas, mesmo assim as trabalhando de maneira irônica e inovadora. Mas a adoção do verso já demonstra a quase total ausência da influência da poesia concreta em suas obras. É possível ver elementos concretos em alguma Dora Ferreira da Silva de Andanças, por exemplo, ou em um ou outro Rubens Rodrigues Torres Filho, mas são poemas de exceção dentro do corpo de suas obras. Da mesma forma, os autores aqui presentes passaram à margem de outras tendências fortes da poesia brasileira da segunda metade do século XX, como a da poesia engajada estilo CPC-Violão de Rua da década de 1960 e a poesia marginal da década de 1970. Essa segunda afirmação talvez cause uma certa estranheza. Deixe-me explicá-la: ao pensar poesia marginal, estou pensando na acepção strictu sensu do termo, da poesia epigramática, informada com Oswald de Andrade, muitas vezes bem-humorada e cotidiana, de autores como Chacal, Charles, Cacaso e Francisco Alvim. Embora se possa até perceber alguns ecos dessa poesia, como, por exemplo, na primeira Maria Rita Kehl, não é necessário um olhar muito atento para se constatarem as diferenças em relação à poesia presente neste volume. Estamos, portanto, trabalhando com dicções poéticas que se situam à margem dos principais movimentos da poesia brasileira contemporânea, o que é intensificado se pensarmos que a grande maioria dos autores aqui presentes nasceu entre os últimos anos da década de 1930 e os primeiros da década de 1950, sendo suas obras portanto inteiramente contemporâneas a essas tendências. Talvez isso possa ser considerado ainda um pouco vago como definição da poesia aqui reunida. Certamente o é. Mas preferimos deixar para o leitor a possibilidade de encontrar outras caracterizações possíveis. Como aliás sempre foi do feitio da Azougue. Gostaria de dizer algumas palavras sobre a organização deste volume. Dos depoimentos aqui publicados, quatro são inéditos, sendo que três deles foram realizados especialmente para esse livro: Gerardo Mello Mourão, Jorge Mautner e Vicente Franz Cecim. A entrevista com Hilda Hilst, realizada em 2000 com a intenção de ser publicada na revista, acabou, por uma série de fatores, permanecendo inédita até a presente publicação (embora uma versão anterior dela tenha sido publicada no Suplemento Literário de Minas Gerais). Os outros depoimentos são aqui reproduzidos com o mínimo de alterações em relação à sua publicação original. Se alguma foi feita, foi no sentido de esclarecer um ou outro ponto mais obscuro, sempre tentando preservar ao máximo o conteúdo original. Durante todo o processo de organização desse livro, estabeleci como princípio a intenção de preservar o clima original da revista, o que inclui o que ele continha de frescor e muitas vezes ingenuidade. Pelo mesmo princípio de mínima intervenção, optei, no lugar da ordem cronológica de publicação, pela ordem alfabética de autores. Tentei assim criar uma leitura o mais isenta possível dos depoimentos; se o leitor escolher refazer o caminho das publicações da Azougue, encontrará a referência de publicação nos dados bibliográficos de cada autor, antes do depoimento. A idéia, sempre, é deixar o leitor com os olhos livres, para citar a célebre proposição de Oswald de Andrade. Ainda para manter o espírito da revista, decidi incluir uma pequena antologia de cinco textos de cada autor após os respectivos depoimentos (com exceção de J. J. Veiga). Agradeço aqui a todos os autores, por sua generosidade e pela confiança depositada ao me permitirem a escolha dos textos. Confesso, entretanto, que, se tentei apresentar da forma mais ampla possível a obra de cada um, não consegui fugir completamente da minha parcialidade. Já faz tempo que percebi, ao criar as antologias da Azougue, que elas são na verdade uma forma discreta de ensaio. O recorte dentro de uma obra é um guia para sua leitura, muitas vezes com a mesma força de uma análise crítica. Assim, talvez cheguemos à melhor definição do espírito da Azougue: ao se debruçar sobre as obras dos autores, torna-se uma revista que se expressa, mais do que pela fala, pelo olhar. E nisso consiste afinal o nosso sempre renovado pacto com poetas. [Sérgio Cohn] 2 Soletrar o dia, de Rosa Alice Branco. Escrituras Editora. São Paulo. 2004. 120 pgs. As sinestesias, correspondências e analogias já têm 150 anos de história em nossa tradição poética, desde Baudelaire. Ao relacionar informações dos diferentes sentidos, emoções e sentimentos, o poeta de Correspondências acreditava em relações secretas entre as coisas, a serem reveladas pelos poetas. Assim inaugurou um ciclo, aquele do primado do pensamento analógico na poesia, contraposto á lógica dedutiva, do qual fazem parte simbolismo e surrealismo, e que está longe de esgotar-se. Assim como não se encerraram as possibilidades oferecidas à criação poética através das imagens, entendidas por Pierre Reverdy como aproximação de realidades distintas, sendo tanto mais fortes e justas quanto mais distantes forem as realidades aproximadas; portanto, como negação dos princípios lógicos da identidade e não-contradição. Um exemplo da continuidade e ao mesmo tempo da renovação e revitalização da poética das analogias e correspondências é dado por Soletrar o Dia, de Rosa Alice Branco. Demonstrando a vitalidade da poesia portuguesa contemporânea, integra uma obra extensa, composta por sete livros publicados em Portugal, além de traduções e edições em outras línguas, e que vem recebendo merecido reconhecimento da crítica. Rosa Alice Branco escreve em versos longos, quase prosa, com um ritmo pausado, como se estivesse falando, conversando com o leitor. Seu modo predominante de expressão é a imagem. Não por acaso, em um dos poemas de Soletrar o Dia, homenageia Malcolm de Chazal, mestre moderno da escrita em imagens feitas de aproximações de aparentes contrastes, da analogia e do poema em prosa. Assim, prosseguindo essa dicção, Rosa Alice Branco diz que Caminhamos na respiração do outro. Nada sabemos. A ignorância como uma flor do deserto. Em O sorriso das pernas, cria através do encadeamento de imagens, resultando em algo como deixo um nenúfar à porta/ para quem chegue com o fardo da noite. Um copo para a minha sede. E declarar que Dentro de mim/ a pele da cidade penetra o corpo dos ciganos/ em vôo rasante sobre nada. Nesses trechos, vislumbra-se uma filosofia ou uma mística pessoal, um sentimento de harmonia universal, conforme já observado por outro ensaísta (por Maria Irene Ramalho, em um ensaio na edição portuguesa de Soletrar o Dia). Relaciona as esferas dos símbolos e das coisas, do corpo e do mundo inanimado - possibilitando Caminhar com o chão a roer os pés, ou Atravessar/ a pele até o outro lado, e aquelas do sujeito e do mundo objetivo: Agora sou o dia. É interessante o sentido do significante pele na poesia de Rosa Alice Branco: sugere aquilo que deve ser ultrapassado, um limite precário ou fronteira provisória, além do qual se instaura o poético, e se chega ao âmago do mistério. Assim, refere-se ao amor como o acordo ortográfico que só existe/ no fundo da pele. A experiência poética, amorosa, do maravilharse ou deslumbrar-se, sempre equivale a ultrapassar as fronteiras do “eu” e, metaforicamente, os limites do próprio corpo. Dotada de sólida formação filosófica e nos estudos da linguagem e dos signos, especialista em Leibnitz e em Berkeley, Rosa Alice Branco escreve sobre a própria linguagem, e interroga a palavra, conforme já havia sido observado com precisão pelo notável crítico português Oscar Lopes. Mas, mesmo com essa bagagem teórica, ela nunca é árida e cerebral. Sua poesia é, antes, demiúrgica. A enunciação pelo poeta cria o mundo: As palavras são as primeiras a chegar, como é dito em Passos sem memória, o poema que abre o livro. Palavras precedem e configuram a subjetividade e a consciência: Antes não era eu. Nunca estava dentro/ do que sou (em Ser o que falta). Permitem Inventar a pele (outro de seus títulos), e o dia, no título do livro e neste verso: Soletro o dia que há de vir da outra margem/ da noite, e, em acréscimo, também soletrar a noite, além de fundar o amor: Soletramos o amor com a letra mais pequena de uma língua/ acabada de inventar. E a própria identidade: Deixo-me soletrar/ descalça, pois Antes não era eu. Homenageando Malcolm de Chazal, reconhece que Chazal deu um sentido plástico ao meu corpo. Ao mesmo tempo, as coisas são signos, linguagem. A mesa é uma gaivota de escrever, e, por sua vez, A gaivota atira-se/ ao mar. Só ouço o grito das vogais/ sobrevoando a areia. Reciprocamente, a poesia é crítica ao que se apresenta ou nos é apresentado como realidade: Invento palavras para não saber. Ou então, Sempre tive problemas com o verbo ser. Nega o estável, o que é e se apresenta como fixo, e também o que transcorre e passa, pois O tempo é uma invenção recente. Rosa Alice viaja bastante. Mas cada viagem também é metáfora, remetendo á viagem pelo mundo simbólico. Viagens, quer simbólicas ou físicas, não são apenas ocasião para descobertas, mas para a recriação do mundo, ao dizê-lo: Soletro Kairouan nesta casa vazia/ sem arcos de passagem onde abrigar/ a tua ausência. O lugar passa a existir e ter sentido ao ser dito, ou melhor, no código particular de Rosa Alice Branco, soletrado, escandido, falado em outro registro. Assim, revive e renova a experiência do maravilhar-se, quando a descoberta do Souk, o velho mercado de Damasco, é a visão de que Só um rio continuará correndo, só umas mãos eternamente vivas, só uma gota a transbordar dentro do que somos. Desses lugares, talvez por representar o encontro de Oriente e Ocidente, de dois mundos, Granada parece equivaler ao illo tempore, à permanência da Idade do Ouro e do tempo suspenso e reversível no encantamento: Ninguém é velho/ em Granada. Descem o Albayzin, os corpos rolando/ pelas vertentes do Darro, deslizando ao longo/ das pedras da Alhambra e este contraste/ é o puro pleonasmo de ser jovem.. Estar lá permite-lhe enfrentar os grandes desafios: como dizer o tempo?. Na série granadina, um poema especialmente revelador pode ser O gato andaluz. Há uma paráfrase involuntária com relação ao filme Um cão andaluz, de Buñuel e Dali, invertendo seu sentido. E uns tantos contrastes inesperados. Cabe lembrar que a intenção de Buñuel e Dali, ao escolherem esse título, foi insultar García Lorca, com quem haviam rompido. A resposta de Lorca à ruptura com Dali foi o auto-exílio, e a conseqüente criação do Poeta em Nova York, sua obra mais frenética e dilacerada (não estou especulando, porém baseando-me na sólida biografia de Lorca por Ian Gibson). Tomando o que Rosa Alice Branco escreve, e lendo-o sob essa ótica, vemos um inesperado jogo de espelhos: o poeta andaluz esteve em Nova York; a poeta portuguesa está em Andaluzia, na terra de Lorca: No lugar do cão, seu animalantônimo, o gato. Poeta em Nova York é o dramático poema da separação, perda e solidão: Agonia, agonia, sonho, fermento e sonho./ Este é o mundo, amigo, agonia, agonia. Soletrar os dias é o poema do encontro, da integração e harmonia: Aceitar o dia. O que vier. Evidentemente, isso não significa que a poesia de Rosa Alice Branco de algum modo contradiga, negue ou questione a enorme contribuição de García Lorca. Ambos, inclusive, expressam o pensamento analógico, e expressam-se através das imagens. A relação é de complementaridade. Confrontadas, mostram a extensão do universo revelado pela poesia, e como os poetas dialogam, até mesmo ao se parafrasearem, de modo deliberado ou por obra do acaso. [Claudio Willer] 3 Gaspard de la Nuit, de Aloysius Bertrand [trad. de José Jeronymo Rivera]. Thesaurus Editora. Brasília. 2003. 215 págs. José Jeronymo Rivera, que já nos deu traduções primorosas, como Rimas, de Gustavo Adolfo Bécquer (2001), e ainda Cidades tentaculares, de Émile Verhaeren (1999), e Poesia francesa: pequena antologia bilingüe (1998), além de atuar em sentido inverso, colaborando na tradução para o castelhano de Poetas portugueses y brasileños de los simbolistas a los modernistas (BuenosAires/Brasília, 2002), oferece, agora, ao leitor a tradução de Gaspard de la Nuit: fantasias à maneira de Rembrandt e de Callot, de Aloysius Bertrand, aliás, LouisJacques-Napoléon Bertrand (1807-1841). Filho de um militar francês e uma italiana, casal que se fixou em Dijon, na França, depois da queda do império napoleônico, Bertrand nasceu em Ceva, no Piemonte. Boêmio, morreu jovem, aos 34 anos, sem tempo de ver impresso seu único livro, trabalho de toda uma vida, mas pronto em 1836 e, desde então, nas mãos de um livreiro-impressor que não o publicou. A obra só saiu à luz em 1842 pelas mãos de outro editor e precedida por uma Notice assinada por ninguém menos que Sainte-Beuve. Como se lê no erudito e bem escrito prefácio que Xavier Placer fez para a tradução de Rivera, o livro de Bertrand foi, desde o começo, uma obra rara, acessível apenas a poucos literatos, como Baudelaire que admitiu tê-lo lido pelo menos vinte vezes numa confissão que fez em Le spleen de Paris, conhecido geralmente por Petits poèmes en prose. Mas, depois da “descoberta” de Baudelaire, foi grande a fortuna crítica do livro de Bertrand, reeditado e analisado na França, lido e traduzido em outras partes. Segundo Placer, no “Gaspard” e nas “Peças soltas”, secções que compõem o livro, a par da novidade da forma fíxa (o poema em prosa), técnica e estilo apontam para o clássico na forma, o realístico no tema. São 65 unidades poéticas, com ilustrações de Rembrandt e Callot, acompanhadas de uma cronologia breve da vida de Bertrand. São histórias que ressumem a Idade Média, embora tenham sido escritas no começo do Oitocentos - algo assim como Miguel de Cervantes (1547-1616) fez em Dom Quixote colocando personagens a falar não como se falava ao seu tempo, mas como se falava duzentos ou trezentos anos antes, à época das novelas de cavalaria, que ele queria ridicularizar e, afinal, ridicularizou - porque já eram anacrônicas. Claro que, hoje, à distância de tantos séculos, só se tivéssemos um profundo conhecimento do francês antigo para ler Bertrand no original e entender todas as nuanças de sua linguagem que, apesar do talento e do esforço do tradutor, perdem-se na passagem para o português de hoje. Mas é assim mesmo: as obras-de-arte só alcançam essa transcendência porque são entendidas em todas a línguas. Talvez o que entendamos seja outra coisa, não exatamente o que o autor queria dizer ao seu tempo. Mas a verdade é que o lemos e o entendemos ao nosso modo. Assim como não precisamos ter conhecido ou vivido em São Petersburgo na segunda metade do século XIX para ler (e entender) os livros de Dostoiévski. Por que Bertrand, se há outros tantos poetas renomados à espera de tradução? É o que questiona (para, logo, responder) Anderson Braga Horta, outro fino poeta de Brasília, responsável pela apresentação do livro. Se mais não fosse, Horta lembra que, para os amantes da música, Bertrand deve soar familiar porque Maurice Ravel, com o nome Gaspard de la Nuit, compôs, em 1908, uma suíte para piano baseada em três poemas do livro. Bertrand, em seus poemas em prosa, não esteve preocupado apenas com reis, rainhas, princesas e castelos, como era comum na época na qual situou os seus personagens, um tempo em que a lírica trovadoresca ainda não havia sido substituída de vez pelo classicismo. Por isso, nada há de anacrônico no fato de o seu livro retratar um certo medievalismo romântico que vem das figuras de extração menos nobre, quando não francamente popular, até porque ao tempo em que viveu Bertrand os costumes pré-Revolução Francesa e até mesmo os valores medievais ainda não se haviam dissipado de todo. Sem contar que Bertrand também estende seus poemas em prosa e suas crônicas a Espanha e Itália, países em que a sucessão das estéticas literárias não seguiu necessariamente o mesmo ritmo registrado na França. Bertrand é também o filósofo que sabe retratar a sua época de profunda devassidão nos costumes políticos e sociais, tempo que haveria de inspirar Honoré de Balzac (1799-1850) a escrever, entre 1835 e 1843, As Ilusões Perdidas (Illusions Perdues), seu mais vasto romance. Neste livro, Balzac conta a história de Luciano de Rubempré, o tipo universal do talento provinciano seduzido pelo brilho de Paris, que serviria, mais tarde, de inspiração a Eça de Queirós para escrever A Capital (1881). Por meio das aventuras de Rubempré, Balzac antevê o imenso poder concentrado nas mãos dos jornalistas (ou dos donos dos jornais) e, com seu pessimismo inato, procura expor todos os abusos a que esse poder se presta, quando se deixa enlamear pela corrupção e passa a defender interesses escusos. É essa época que se pode antever também à página final de Gaspard de la Nuit, quando Bertrand diz: “(...) Não, a Glória, nobreza cujos brasões não se venderam jamais, não é o sabonete do vilão, que se compra por preço de tabela na botica de um jornalista!” Linhas adiante, Bertrand questiona a fragilidade do homem diante do destino, ao compor uma frase que é também a síntese de sua visão de mundo: “Ah! O homem - diz-me, se o sabes - o homem, frágil joguete a cabriolar suspenso nos fios da paixão, não será ele apenas um boneco, com o qual brinca a vida e a quem a morte destrói?” Ler este livro de Bertrand é entender um pouco não só da França medieval mas também compreender a do século XIX em que o exemplo de Napoleão estimulou muita gente medíocre a pretender ir além das próprias pernas. [Adelto Gonçalves] 4 Los días del agua, de Miguel Motta. Alfaguara. Montevideo. 2003. 176 pp. “Te trampearon, Vicente Janto, te trampearon”. Ahí la certeza inicial de esta novela sin trampas, pero siempre, hasta la última página, sabiamente rodada en el misterio. Un hombre corriente sale de una capital anónima en busca del hijo que no conoce. Le avisan por carta del nacimiento de la criatura y falta a su trabajo para viajar a la ciudad del interior donde está radicada la madre del niño. Espera sorprenderles con su visita. Y a él le sorprende el destino en forma de agua. Una población inundada, un botero que, en lugar de ayudarle a cruzarla, le deja abandonado en un tejado luego de robarle el único bolso que llevaba. Después la dictadura del agua, sus víctimas, con las que convivirá Vicente Janto en su permanente afán de escaparse de allí, de escaparse de sí mismo y del futuro. Lo único que sabemos es lo que el agua ejerce en sus marionetas, lo que queda del pasado como deteriorada moneda de cambio para traficar, remodelar, volver a usar en un presente estancado, teñido por completo con el color de la degradación, un líquido marginador cuyas memorias se cuelan en las páginas de la novela con la misma eficacia que van emergiendo los perfiles gastados de los protagonistas. Miguel Motta emplea la pintura verbal para delinear un cuidadísimo ejercicio narrativo, sobrio, preciso en su lenguaje, con irrupciones poéticas muy bien dosificadas sobre un relato que fluye sin fisuras atrapando al lector en la corriente. Los personajes están dibujados con las líneas suficientes para que sean creíbles y no se interpongan en el ritmo de la historia. El narrador les acompaña en todo momento cual director de orquesta, sin adelantarse a lo que pasará, sino marcándoles el compás de los sucesos, describiendo el ahora y apoyándose en una expresiva ilustración de los entornos, los objetos, las atmósferas que flotan dentro y fuera de cada ser. La novela incorpora con grande acierto uno de los recursos más olvidados o torpemente utilizados por buena parte de la narrativa contemporánea: el uso de diálogos fieles a la naturaleza de cada personaje, en este caso adecuándose al medio rural y a las difíciles circunstancias que los rodean. No hay largos soliloquios ni afanes filosóficos o indagatorios de la sicología de cada uno. Sus palabras les definen, como también el carácter y algunos detalles físicos que les imprime el autor. Estamos, pues, ante un claro ejemplo de narrativa pura: disponer de una historia, unos personajes “vivos” y una voz que se dedica a contarnos lo que pasa desapareciendo voluntariamente de los escenarios. Las conclusiones, las reflexiones de fondo, los juicios o complicidades quedan en manos del lector. Pero también aparece en “Los días del agua” una especial tonalidad, mantenida en toda la obra, que impregna el discurso literario de una velada tristeza, sensible al devenir anclado, estático, incapaz de rebelarse contra el ahogo existencial que impone el agua. Los seres que flotan en la población inundada no son tan diferentes a los que vegetan en la ciudad. Ambos entienden el presente como una adecuación sin cuestionamientos. Los primeros, aferrados a los restos del pasado como soportes de sus jornadas, los segundos, atorados en la rutina diaria que les permite objetos nuevos y actitudes discriminatorias para quienes no viven como ellos. Ninguno de estos grupos humanos aceptará al otro. Lo más notorio es el color de los inundados, clara metáfora del color de la indigencia, tan difícil de borrar por quienes la padecen. Hay otra metáfora que podría leerse en la novela, la que alude al deterioro del Uruguay y, por extensión, a la de los países deslizados en las vías sumergidas del subdesarrollo. Más de un lector compatriota encontrará diversas señales al respecto, dejadas por Motta como un guiño dolido en las orillas de unas cuantas páginas. “Los días del agua” supone un importante avance en el camino literario del autor, que anteriormente había publicado “Breviario de un mediocampista” (su primer libro, en 1992) y “Código para una muerte” (1995), títulos también editados y galardonados desde la capital uruguaya. Miguel Motta, nacido en Salto (Uruguay) en 1954 y hoy residente en Montevideo, reafirma con su tercera novela un innegable oficio en la creación de estructuras narrativas, una personalidad literaria dotada de imaginación, experiencia vital y talento para comunicar su atenta mirada sobre el hombre y sus frágiles navegaciones. [Héctor Rosales] 5 Melhores Crônicas, de Ignácio de Loyola Brandão [seleção e prefácio de Cecília Almeida Salles]. Global Editora. São Paulo. 2004. 416 pgs. Para integrar a coleção Melhores Crônicas, que tem recebido numerosos elogios da crítica e a aceitação do público, a Global apresenta agora um nome bastante familiar em seu catálogo: Ignácio de Loyola Brandão que chega à coleção pelas mãos da professora Cecilia Almeida Salles. Os textos aqui reunidos foram publicados originalmente no jornal O Estado de S. Paulo, onde, desde 1993, Loyola mantém uma coluna semanal no Caderno 2. Segundo a professora Cecilia Almeida Salles em sua apresentação “a publicação de coletâneas de crônicas é uma espécie de convite para uma nova leitura de textos veiculados pelo jornal semanalmente. Matérias um dia marcadas pelo tempo jornalístico mesclam-se em uma inevitável hipertextualização em que a determinação temporal se esvai”. Por essa razão, ela optou em apresentar as crônicas aqui reunidas, sem se guiar pela ordem cronológica original. Preferiu agrupá-las a partir dos temas recorrentes na escrita de Loyola. Assim, temos uma reunião de textos, em seções com nomes sugestivos como: Presente da Memória, Araraquara como foi, Nas ruas de São Paulo, Um modo de olhar, “Acasos” do cotidiano, Inteiramente pessoal, Caderno de anotações, Alguns personagens e, por fim, Ficção ou quase. Como nas demais obras do escritor, o leitor estará defronte a textos bem-humorados, irônicos, instigantes e nas entrelinhas, conforme diz a selecionadora, é convidado a embarcar nos delírios de uma reflexão desenfreada, sem qualquer expectativa de confronto com o cotidiano jornalístico; em outros, é levado a se identificar ou se posicionar diante das indignações que sustentam todos os relatos. Ignácio de Loyola Brandão é natural de Araraquara, interior de São Paulo e trabalha como jornalista desde os 16 anos. Já publicou 26 livros, entre romances, contos e viagens. Como escritor já recebeu vários prêmios entre os quais os da APCA, Jabuti e Pedro Nava. Alguns de seus livros já foram traduzidos para o alemão, inglês, espanhol, italiano, coreano, húngaro e francês. Cecilia Almeida Salles é professora titular do Programa de PósGraduação em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUS/SP). É coordenadora do Centro de Estudos de Crítica Genética. É autora do livro Gesto inacabado – Processo de criação artística pela Editora Annablume e Crítica genética – Uma (nova) introdução pela Educ. 6 Nós/Nudos, de Ana Marques Gastão [edição bilíngüe, trad. de Floriano Martins]. Editora Gótica. Lisboa. 2004. 107 pgs. Se Herberto Helder colocasse sua força anímica e mágica para espelhar a realidade, e não para distorcer e criar um outro mundo, surreal e de absoluto crime, o que aconteceria? Não seria ele, é óbvio, até porque estaríamos lendo Ana Marques Gastão. Enquanto Helder explode, Ana implode. Enquanto o primeiro se expande para fora dos limites do humano, a segunda se concentra no sórdido íntimo e se retém ao caroço da existência. Tudo nela arde em despedida para dentro de casa. Como que revelando o mesmo batimento cardíaco descompassado da literatura de Clarice Lispector, Virginia Woolf e Sylvia Plath. Nós/Nudos é um livro permanente, perpétuo em seu estar indo, desafiador. Não é recomendável lê-lo sentado ou na cama. É de se atravessar de mãos dadas tamanha a solidão que o desdobra em gomos de um quarto. Os poemas da escritora portuguesa Ana Marques Gastão sobre 25 telas da genial pintora Paula Rego, também portuguesa, assombram com seu universo feminino dilacerado, com uma beleza desparelha, áspera, e uma verdade nada tranquilizadora. Versos escritos com suor, secreção, choro, líquido do ventre, sangue, esperma. Nós permite a leitura do tecido coletivo da conjugação tanto quanto o aperto de uma corda, o soluço de uma corda esticada. É uma obra violenta, como se fosse feita somente de relâmpagos, apartada da chuva. Relâmpagos em dias claros, de clareza cegante das experiências. “Suporto a ferida como animal decadente/ sem a concordância do mundo./ Ninguém me diz quando começa o mar”. Violenta porque traz imagens verbais poderosas, uma aura da agressão no momento em que ela ainda é afeto. Não é uma raiva para fora, uma raiva interna, contida. Uma raiva recusa a piedade, a compaixão, o perdão. “Não é teu forte, a piedade.” Os poemas não legendam a pintura. Não são entranhas da cor. Não ilustram e decoram. Estão lado a lado, como um diálogo de cotovelos. Um diálogo de dilúvios. Ana Marques Gastão faz seu livro mais intenso, único, singular, sobrevoando a insistência da metalinguagem, adjetivação expiatória e excesso de pudor que perpassava seus livros anteriores. Há uma voz genuína, transparente, ambígua. Sintomático que tenha encontrado a saída ao poema na pintura. O poema aprende aqui que a dor não se expulsa, mas a dor apenas se acomoda no nervo de outra alegria. A autora parte da “paisagem do osso” para a paisagem líquida do prazer, descentrando a escrita, contradizendo-se com volúpia, censurando e pedindo, refugando e chamando, na instabilidade que é peculiar ao desejo. Veja a importância da letra viva e vacilante, do tremor do braço ainda reticente do dizer, em metáforas como a “gramática do silêncio”, “ortografia cega”, “caligrafia de um tudo anterior” e “fechado à distância do lápis”. É impressionante perceber que as mulheres habitam o corpo e nadam no espaço de suas vísceras e pulsões. Nunca um corpo pacífico, inerte, porém um corpo que arrebata na espontaneidade do esgar e deboche. O erotismo se alcança na crispação, no entreabrir da pele que se oferece a princípio para insultar de amor depois. É uma flutuação que segue a separação de sílabas. Poesia amorosa porque está muito perto da zona misteriosa da mudez. Um silêncio saciado, não esgotado: “As palavras morrem se forem ditas”. Uma mudez optada, que não significa renúncia, loucura liberta do idioma: “Morre-se de um beijo com um grito dentro”. As protagonistas se regozijam no tato, no veludo dos poros, em alegorias de tecido cru e grosso: “as mãos ainda estão húmidas de ti” ou “água apenas de um com outro”. A seleta Nós/Nudos, em edição bilíngüe, traduzido com elegância ao espanhol pelo brasileiro Floriano Martins, transcende a descrição para a indiscrição emocional, rumando em direção à antena da impureza, à coerção orgânica do que é lembrado quando apagado em vivência, do que é esquecido porque está sendo vivido. “Somos reminiscência de um quarto pelo qual dançamos até morrer”. Desorganização que se organiza nas miudezas, no palco de resistência que é a camisola, o vestido, a mortalha, o manto. Espaço da crueldade que é bondade de se dar ao mundo sem pedir nada em troca. O humano é divino, o divino ainda não se crê humano. Mulheres elétricas, distorcidas, sem olhar de frente, convencidas de que a comoção acontece na periferia dos atos, nos desvios, na “ópera menor” dentro dos ouvidos. As mulheres de Ana escutam os seus próprios pensamentos. Não espere encontrar suavidade. O que emerge é o estado provisório do fogo, da combustão. “E a luz, táctil, clarão, poema a crescer na exaustão, suprime a distância entre o rio e a árvore”. Animais queimando, com cabelos do fogo desalinhados, “animais cintilantes”, da ordem das brasas e da franqueza explícita. As figuras estão conscientemente inacabadas, inconclusas, como algo que está sendo escrito no momento em que se soletra. Elas estão irremediavelmente sozinhas, entretanto, não aceitarão menos em função disso. Apreensão que se consuma na repreensão. Ferocidade que se completa na velocidade do recuo. Abundância que progride no mínimo. Imobilidade que é invocação. A escritora Ana Gastão ultrapassa o poema para atingir o luminoso e dolorido desvestir. Viver não é uma posse, mas uma possessão. [Fabrício Carpinejar] 7 O desafio do islã e outros desafios, de Roberto Romano. Editora Perspectiva. São Paulo. 2004. 336 pgs. Guerras, terror, imperialismo, intolerância, mentes fanáticas, pobreza, ignorância, injustiças. O retrato do mundo apresenta-se, diante dos olhares atônitos dos que defendem os direitos e a liberdade política, como imenso desafio. Ao contrário de outras épocas, quando a esperança de vencer o erro e o mal habitava as perspectivas filosóficas, teológicas e artísticas – o século XVIII é o grande momento daquele anelo – o século XXI começa com trevas e horrores que podem repetir os sofrimentos do século XX, com os campos de concentração, os genocídios e a Bomba sobre milhares de seres humanos. Cada ato que nega os direitos civis, o convívio no Estado de direito, as infrações às leis internacionais, repercute como desafio a ser vencido pelos que ainda não se curvaram aos novos despotismos. No mesmo passo, no Brasil descortina-se o presente melancólico ou mesmo atroz, fruto de um pretérito hediondo de escravidão e morte. Roberto Romano, em O Desafio do Islã, não pretende estar de posse de alguma miraculosa ou salvadora fórmula, proposta ou mágica, que a retórica ideológica, política, religiosa e mesmo científica costumam apresentar nos seus discursos diretos ou midiáticos como soluções para as contradições brasileiras ou para os dilemas do mundo. Apenas convida os cidadãos à análise fria da nossa vida cultural. Seguindo a norma de jamais pensar pelo leitor, mas diante dele, cada um dos ensaios reunidos neste livro da coleção Debates, dedica-se ao trabalho de identificar e discutir desafios que se colocam ao homem de nosso tempo nos domínios do Estado, do credo, das artes, da universidade e da cultura, sem demasiada raiva, mas com interesse apaixonado. Em cada uma de suas páginas encontra-se o respeito máximo pelo enunciado de Max Weber segundo o qual “neutro é quem já se decidiu pelo mais forte”. Livros para Agulha deverão ser enviados aos editores, nos endereços a seguir: Floriano Martins Caixa Postal 52924 Ag. Aldeota - Fortaleza CE 60151-970 Brasil Claudio Willer - Rua Peixoto Gomide 326/124 - São Paulo SP 01409-000 editores da agulha .. . revistas em destaque .. arquitrave (colombia) diálogo entre harold alvarado tenorio & floriano martins FM - ¿Cómo y porque surgió la idea de hacer una revista como Arquitrave? HAT - En Colombia hay muy pocas revistas dedicadas en exclusivo a la poesía. Las mejores sin duda fueron las que hicieron durante los años setentas Elkin Restrepo, José Manuel Arango y Luis Fernando Macías en Medellín. Pero las otras que han existido pecan gravemente por ser instrumentos de envanecimiento, celebran en exclusivo a sus directores y colaboradores. Arquitrave quiere romper esa tradición, publica sólo textos inéditos y circula entre suscriptores, garantizando su independencia de los poderes culturales nacionales que son funestos en el caso colombiano. FM - ¿Puede una revista sobrevivir sólo de suscripciones? HAT - He tratado de que Arquitrave sobreviva solo de sus suscriptores y hasta el momento lo he logrado. No se si en el futuro pueda hacerlo. De allí que extreme la campaña de suscripciones. A pesar de no tener apoyo oficial ni privado algunas entidades culturales nacionales e internacionales me ayudan con la compra de varias suscripciones. Eso sucede por ejemplo con la Biblioteca Luis Ángel Arango o con el Instituto Iberoamericano de Berlín, por citar dos casos solamente. Espero poder contar con mas apoyo en el futuro. FM - ¿Tiene un comité de redacción Arquitrave? HAT - No, yo hago todo el trabajo de recolección y selección de textos, como hago todo el trabajo de diagramación e impresión. Lo único que no hago es el refilado, pero también me ocupo del envío postal. De manera tal que estoy dedicado en exclusivo a esa pequeña aventura. FM - ¿Como elige los textos? HAT - Trato de equilibrar cada número no con mis gustos sino con los niveles de calidad de los textos que logro recoger. Y que me envían los poetas. En cada número hago un pequeño homenaje a un poeta vivo o muerto, y publicó poetas de todas las partes que puedo. FM - ¿Y de Brasil? HAT - Trato de poner un poeta del Brasil en cada edición, pero es difícil. Los traductores, los buenos traductores no abundan. Ahora por ejemplo estoy preparando un homenaje a Alberto da Costa e Silva, uno de los poetas brasileños mas queridos en Colombia, donde fue embajador. Pero en general no mes es fácil esa labor de difundir una poesía tan importante como la brasileña y tan desconocida entre nosotros. Seguiré insistiendo. FM - ¿Que ayuda necesita entonces? HAT - Que los poetas se comuniquen conmigo y que me ayuden a difundir la revista, tanto la impresa como la virtual. Le ruego poner aquí mis direcciones: www.arquitrave.com y revistadepoesia@arquitrave.com para que me escriban. Arquitrave, revista colombiana de poesía publicada, impresa y virtual, en Bogotá, por el poeta Harold Alvarado Tenorio, ha cumplido sus primeros dos años de vida. El nombre de la revista parece ser un homenaje al poeta español Jaime Gil de Biedma. Uno de sus poemas de los años sesenta se titulaba precisamente El arquitrabe, una suerte de metáfora de los impedimentos y prohibiciones sociales y eróticos que padecía el poeta bajo el franquismo. Arquitrave se publica cada dos meses y difunde la poesía de todos los tiempos, en especial, la que se escribe en nuestra lengua. A la fecha ha realizado, entre otros viarios, homenajes a poetas como el habanero Gastón Baquero, el sevillano Luis Cernuda, el perseguido político del castrismo Raúl Rivero, el alejandrino Konstandinos Kavafis, el sanonofreño Giovanni Quessep, el chino Bai Juyi, los alemanes Ingeborg Bachmann o Hans Magnus Enzensberger, el indio Mudnakudu Chinnaswamy, el madrileño Luis Antonio de Villena, la uruguaya Cristina Peri Rossi, el palestino Madmud Darwish, el brasileño Affonso Romano de Sant’Anna, la australiana Margie Cronin, el griego Atanasio Niarjos, la sueca Karin Boye o el colombiano Jader Rivera. En el número doce que está en circulación, se celebra al mexicano José Emilio Pacheco, al lusitano Jorge de Sena y al griego Napoleón Lapathiotis. Harold Alvarado Tenório Director Arquitrave, revista de poesía www.arquitrave.com www.arquitrave.com/hatprincipal.htm haroldalvaradotenorio@telesat.com.co Apartado Postal 1-36 02 81 Centro Internacional Bogotá. D.C. Móvil [310] 324 88 35 . revistas em destaque .. fronteras (costa rica) depoimento de Adriano Corrales Arias La Revista Fronteras nació como un Proyecto de Extensión Cultural del Area de Culturales del Departamento de Vida Estudiantil (DEVESA) del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sede San Carlos, Costa Rica, en el año 1995. Su primer objetivo fue convertirse en un espacio editorial para dar a conocer las distintas investigaciones que venían realizando nuestros docentes e investigadores en torno al ámbito de las Culturas Populares. Pero a medida que se fue desarrollando el proyecto (a partir del tercer número), nos fuimos enterando de la existencia de un vacío en cuanto a revistas culturales costarricenses y centroamericanas, que mantuvieran un perfil intermedio entre la revista especializada y la revista popular, formato que perseguíamos desde el principio. Así, además del énfasis antropológico, histórico y sociológico, nos fuimos abriendo a otros ámbitos como el de la literatura y el arte en general. Por otro lado empezamos a recibir colaboraciones de distintos países latinoamericanos, y más tarde europeos, a los cuales, imprevistamente, fue llegando la revista gracias a amigos y colaboradores. El proyecto se amplió. Hoy mantenemos diferentes secciones permanentes: El Editorial, donde consignamos nuestra posición sobre divversos temas, Tertulia, donde tenemos siempre una entrevista con un invitado especial; Raíces, un espacio para la historia y la cultura popular; Reflexiones, una sección para el ensayo o artículo de fondo sobre la teoría cultural, filosófica, literaria, política, económica o estética en general; Comunidades, espacio para grupos artísticos, étnicos, culturales, etc. y para reseñas literarias y editoriales en general; Trapiche, sección literaria con poesía y cuento; Aduana, sitio donde consignamos las publicaciones recibidas y recomendamos bibliografía; A la Tica, sitio sobre la identidad nacional y su devenir histórico. La revista se financia básicamente con presupuesto del Instituto Tecnológico de Costa Rica y con la venta de sus ejemplares, pero estamos tratando de abrir la venta de publicidad como una colaboración y apoyo a este proyecto editorial. La misma se distribuye en las principales librerías de las ciudades costarricenses de San José, Heredia, Ciudad Quesada y Cartago. Pero también se encuentra en Bibliotecas, Centros Culturales y Salas de Teatro, tales como Giratablas, Café Calicanto en el Ministerio de Cultura, galería Andrómeda, etc en la ciudad capital, San José. Hasta ahora se han publicado 14 números semestrales y ya está en preparación el número 15. Si alguien desea suscribirse o enviar su colaboración lo puede hacer a nuestros teléfonos, fax o apartados postales y electrónicos. Pra colaboraciones se aceptan artículos o narraciones no mayores de 20 cuartillas; en poesía no más de cinco poemas. Agradecemos una breve ficha bibliográfica del autor. Por lo demás, la revista Fronteras no se concibe solamente como una publicación, sino, y es lo más importante, como un Punto de Encuentro y un proyecto cultural que ya ha realizado Tres Encuentros Centroamericanos de Escritores y dos de Poetas Nicaraguenses y Costarricenses, además de diversos recitales, conversatorios, talleres y congresos. El Director y Editor es Adriano Corrales Arias, quien, a nombre del Consejo Editorial y del grupo de trabajo, agradece su atención. …Y como siempre los invitamos para que nos escriban: Apdo. Postal 223-4400, Ciudad Quesada, COSTA RICA. Teléfonos (506) 475-50 33, (506) 475-5063 extensiones 293 o 243; Telefax (506) 475-5085. Correo electrónico: adrianocorrales@racsa.co.cr o franroba@costarricense.cr. . revistas em destaque .. salamandra (espanha) apresentação de lurdes martínez Desde finales de los años 80 en que se constituyó el grupo, nuestra actividad se ha reunido principalmente en torno a la revista Salamadra, el periódico ¿Que hay de nuevo? y las ediciones de nuestra editorial La Torre Magnética, además de toda una serie de intervenciones públicas: conferencias, exposiciones, declaraciones colectivas, etc. La revista Salamandra, que podríamos decir es el órgano de expresión del grupo, ha pasado por diversos momentos. Si los primeros números se correspondieron con una etapa de iniciación donde el juego colectivo era la nota dominante, a partir del número 4 hemos perseguido una mayor ambición y riesgo intelectuales. Pero además el deseo de tomar contacto con otras corrientes de pensamiento ajenas pero afines al surrealismo nos ha impulsado a abrir la revista, especialmente a partir del número 8/9, a colaboraciones procedentes de esos campos próximos, tanto en lo que se refiere al pensamiento crítico como a la investigación en el ámbito de lo imaginario. Para el próximo número (11) hemos tomado la decisión de modificar el subtítulo de la revista, que desde el número inicial ha sido Comunicación Surrealista - completado más tarde, primero por el de Imaginario Crítico y, desde el número 8/9, por el de Imaginación Insurgente. Crítica de la vida cotidiana-; ahora será sustituido por Intervención Surrealista, manteniendo los otros subtítulos. Esta decisión responde a una evolución dentro de nuestro propio pensamiento y que atañe a la relación que queremos establecer con el surrealismo: así “comunicación” presupone, a nuestro parecer, fundarse en la posesión acrítica de una verdad de la que se hace partícipe a los demás, que se anuncia, y en este sentido supone avanzar desde una postura ideológica de la que queremos huir completamente. Mientras que “intervención”, desde nuestro punto de vista, lejos de tener el sentido pretencioso de que con nuestras acciones transformemos lo real, implica partir del surrealismo, no como sistema de pensamiento cerrado y determinado donde acudir para encontrar respuestas y soluciones, sino como plataforma desde la que encaminarnos, despojados, a actuar sobre la realidad de una manera experimental. Se podría decir que, a un nivel general, nuestras actuaciones se desarrollan en dos dimensiones que pretenden cierta resolución dialéctica: de una parte, el desenvolvimiento de una reflexión teórica, que partiendo de una postura esencialmente pesimista, se concentra en el análisis crítico de la actual sociedad espectacular, evidenciando sus mecanismos de dominación. De otra, una práctica concretada en intervenciones y experimentaciones (a un nivel colectivo o individual) inspiradas por la imaginación, que son asumidas más como estrategias de resistencia que de transformación, - acompañadas en ocasiones de su correspondiente teorización- que aspiran a quebrar o socavar la normalidad del discurso dominante entendido como incuestionable y que se hallan completamente impregnadas de una intención experimental y lúdica. En el primer apartado podríamos incluir un conjunto de declaraciones colectivas: Hermanos que encontrais bello lo que viene de lejos,(publicado en Salamandra no.6) contra el racismo y la xenofobia, donde denunciamos las construcciones mentales que el poder mantiene y fomenta para que“el otro” siga siendo el enemigo, al tiempo que indagamos en propuestas que se opongan a este estado de cosas, como pudiera ser la elaboración de mitologías o narraciones entendidas como empresas de la vida colectiva “que cohesionan los esfuerzos e individuos...saturándolos de pasiones nuevas y dirigiendolos a proyectos liberadores”(Effenberger, La Civilisation Surréaliste), mitos que ilusionen la conciencia humana y que consigan sustituir “el recelo, el miedo y la cólera por la curiosidad, la aventura y el deseo” (Hermanos...) ; Pleno Margen, a favor de la liberalización de las drogas , que reclama la liberación integral del ser humano y su derecho a desarrollarse en plenitud, abordando el peligro que ello presupone para el poder represor; Hay una luz que nunca se apaga, donde celebramos las huelgas de Corea; Todavía no han parado todos, en contra del deporte y el trabajo, donde exigimos el fin del trabajo y denunciamos la simbiosis entre los modelos del deportista y del trabajador que quieren justificar las exigencias de la economía. Una misma linea de discusión siguen otros textos individuales: Nuevas industrias de la subjetividad, de Jesús García Rodríguez, (Salamandra no.10) que pone en evidencia la manera en que el espectáculo opera en el dominio de lo sensible, convirtiendo los deseos, el placer, las emociones, las subjetividades en mercancías y analiza el papel crucial que la publicidad juega en ese proceso; La negación del espejo, de Eugenio Castro, una crítica de las nuevas tecnologías que se centra en el fenómeno de la pantalla como instrumento de separación que conduce al hombre -que había extraído su fuerza de su relación con la intemperie- a un estado de inmadurez y cobardía, y que sepulta, en todos los ámbitos de la vida cotidiana, el ciclo vital del tiempo mediante el simple gesto de su encendido. Tiempo de carnaval, de José Manuel Rojo, que intenta desentrañar los mecanismos recuperadores de la publicidad que no sólo vuelven en ofensivas las críticas y propuestas del movimiento revolucionario sino que también las reconvierten en nuevas mercancías o estímulos para el desarrollo de la economía. Por último, las discusiones y debates más recientes en el seno del grupo se han concretado en dos textos colectivos: El falso espejo, que reflexiona sobre el papel de la imagen hoy, convertida en herramienta del poder al apuntalar y reforzar el proceso de desmaterialización de lo real, instrumentalizar lo imaginario y sustituir la vida vivida, pero haciendo al tiempo que este hecho terrible se acepte sin violencia, al aparecer adornada con los ropajes de lo artístico. La orgía de imágenes que nos envuelve y fascina, afecta de modo inevitable a la creacción artística, y a ésta en el seno del surrealismo que, sin renunciar a la creación de imágenes del deseo a un nivel individual, ha de asumir la falta de eficacia de la imagen a un nivel social, debido al problema, no sólo de la recuperación de cualquier imagen subversiva, sino, lo que es peor, de la banalización de toda creacción artística. A esto sigue una reflexión sobre la oportunidad de pensar en nuevas tácticas que logren un diálogo social entre artista y público -habida cuenta de la caducidad del sistema de exposiciones- y la necesidad de ahondar en una renovación del imaginario surrealista que se libere de rasgos identitarios y de inercias especializantes, invocando la indocilidad y la no acomodación y fundandose en la experiencia de lo desconocido. Sin renunciar a la imaginación, se lanza como propuesta la práctica del materialismo poético, que materialice el ensueño utópico satisfaciéndolo en la vida concreta, entendiendo aquí lo imaginario como no separado de la realidad sino fundado en ella. En definitiva se trata de “no contribuir al proceso de fantasmagorización del mundo sino encontrar la fórmula que le permita hacerse real sin realizarse como espectáculo”. Finis Linguae, texto que abre el volúmen colectivo de poemas Indicios de Salamandra, editado por La Torre Magnética-Zambucho Ediciones (Madrid, 2000), aborda la problemática del lenguaje poético, la palabra en libertad y su naturaleza inabarcable, inconmensurable, incomunicable, desobediente, resistente, inasible a la dominación, rebelde frente a cualquier utilitarismo sin olvidar que esa palabra forma parte del lenguaje como actual mecanismo de dominación, de la comunicación de los dueños, Junto a estas elaboraciones teóricas se inscriben una serie de acciones y experiencias dirigidas a “quebrar el espacio apesadumbrado de la vida cotidiana”. Buena parte de nuestra energía se encamina hacia una crítica de la vida cotidiana, a la que nos impulsa el comprobar cómo el capitalismo ha provacado la separación del hombre de la vida en su conjunto, reduciendo y parcelando sus facultades y extendiendo a todos los campos su ética economicista y productivista. Ante esta situación de miseria vital, vemos necesario llevar a cabo la desacreditación de la realidad tal como nos es dada, mediante la vivencia de la poesía, que atenta y altera la percepción que tenemos de lo cotidiano en su expresión más miserabilista y lo somete a una crítica implacable. A un nivel colectivo se situan una serie de intervenciones callejeras que forman parte del “proyecto político de vida poética” desarrollado en el texto Los días en rojo (Salamandra no.7) y que consiste en llevar los impulsos de la poesía a la vida cotidiana y a la práctica revolucionaria: por ejemplo, pintar en las paredes constelaciones imaginarias, modificar el aspecto de ciertas estatuas, simular una procesión de fantasmas entrando y saliendo de un edificio ruinoso y cuya única huella visible son sus zapatos adheridos al suelo, realizar una deriva colectiva con el pretexto de estampar en las calles frases de contenido poético, etc.Esta introducción de elementos perturbadores en el paisaje cotidiano aspira a producir un desconcierto visual y mental que pueda movilizar el aparato afectivo del viandante; se trataría de estimular y practicar “nuevos comportamientos que anuncien el principio de una realidad en agitación. Comportamientos...que vayan cartografiando el paisaje de una subversión mental a gran escala que procure la posibilidad futura de una insurrección generalizada” (Los días en rojo). No obstante, admitiendo los incontables obstáculos que existen para que esto se produzca, contemplamos estas acciones por su absoluta gratuidad, por el simple placer que nos procura su desarrollo. Además, “al nacer de un impulso de la imaginación creadora” reivindican y apelan a “una forma de diversión inventada y libre que se opone a toda forma de deleite alienado y alienante”. Por último, buscamos en todo momento el anonimato y la clandestinidad de estas acciones para evitar que sean asimiladas o reducidas a un aspecto puramente estético. A un nivel más individual responden un conjunto de experimentaciones de lo poético (experiencias de derivas, de azares y encuentros y, en general, vivencias relacionadas con todo el material inconsciente) en las que se esboza o ensaya la posibilidad de otra vida, y hablamos de esbozos de esa vida diferente, porque somos conscientes de la dificultad de que en la actual situación de dominación se pueda manifestar en toda su plenitud, de que la poseamos efectivamente, en todo momento y circunstancia. En concreto en la revista Salamandra la sección Más Realidad. Emblemas de la magia cotidiana. recoge desde el número 5 experiencias de esta índole. Mención aparte merece la atención que hemos prestado a lo concerniente a la naturaleza y el animal salvaje, abordados desde un plano tanto teórico como poético. En Notas sobre ecología y surrealismo, J. M. Rojo (Salamadra no.5) plantea la necesidad de promover, para superar la actual crisis ecológica, una nueva ecología revolucionaria que forje una nueva sensibilidad hacia la naturaleza y el animal, una sensibilidad que recoja las aspiraciones poéticas, imaginativas e inconscientes latentes en todos los seres humanos y que deben proyectarse en la creación de un nuevo mito colectivo movilizador sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Una aproximación pasional hacia la naturaleza lleva a E. Castro en En la montaña del Torcal. Sésamo multiplicado (Salamandra no.4) a criticar el concepto proteccionista que sobre ella ha forjado la visión antropocéntrica, que reduce, anula y manipula el potencial mágico y recreador que recorre la naturaleza en su totalidad. De el animal, ese “Otro Absoluto, explotado, ignorado o perseguido, que arrastra en la sociedad occidental el doble estigma con el que el hombre moderno trata de defender su razón esclavizada: lo últil-lo dañino” (M.Auladen, Qui-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi. Luz Negra no.2), se ocupa el texto colectivo El Continente Fabuloso. Proyecto para un Bestiario Surrealista, (Salamandra no.6) donde se reconoce su absoluta autonomía, despreciando la actitud que conduce a dotarle de atributos humanos y se insiste en la necesidad de dirigir nuestras relaciones con él hacia un plano de reciprocidad, con el fin de recuperar su carácter de ser fabuloso y “emocionante”.La liberación de la vida salvaje es, en definitiva, imprescindible para la liberación del ser humano. Otro ámbito en que nos hemos dedicado de manera especial es el de la crítica al urbanismo como otro de los instrumentos de dominio sobre el espacio físico, que acota y reglamenta el ámbito urbano, lo limita en función de criterios de rentabilidad econónica y convierte a la ciudad en un lugar domesticado que ha perdido su relieve vital, pasional (El espíritu errante. Una introducción al nomadismo del ser seguido de fragmentos para un dossier psicogeográfico, coordinado por J.M. Rojo,Salamandra no.7; El Lugar revisitado.Textos psicogeográficos del Grupo Surrealista de Estocolmo, coordinado por Lurdes Martínez, Salamandra nº.10). Frente a ello nos prodigamos en explorar nuestro entorno más inmediato, buscando recuperar la magia de los lugares, sus potencialidades y particularidades en oposición a la homogeneización y normalización que impone el capitalismo: en El juego de la isla (incluido en El espíritu errante...e inspirado en un juego del Grupo Surrealista de París) asistimos a la emersión de una isla en pleno centro de Madrid, mediante la exploración de esas zonas de la ciudad que poseen una imantación afectiva indiscutible. O bien en oposición al fomento interesado del olvido: en Ruido de cadenas.El sentimiento gótico de la arqueología industrial, J.M. Rojo (en La experiencia poética de la realidad como crítica del miserabilismo. Edic. La Torre MagnéticaLibrería Asociativa Traficantes de Sueños. Madrid, 1997) analiza el proceso de decadencia de las viejas industrias -que forman hoy parte de las ciudades y cuyo único destino es ser demolidas o convertidas en museos- en la economía posindustrial y el posible reencantamiento de las fábricas vacías que se proponen como sustituto contemporáneo de los castillos, espacios donde lo imaginario puede encontrar un nuevo nido y fortalecer el deseo de rebelión de los movimientos sociales que como los okupas reutilizan sus espacios abandonados. Las experiencias de derivas sobre las que E. Castro reflexiona en El nombre ensoñado. La realidad nombrada (Salamandra no.3) y Sólo las horas.(La deriva como experiencia onírica de la realidad y erotización del tiempo) (La experiencia poética...) atañen a la dimensión temporal -más que espacial-de la vivencia de lo maravilloso en este deambular extraviado hacia ningún sitio, extravío que provoca una nueva disposición sensible y mental que altera la percepción que tenemos del entorno y hace que el fluir del tiempo se antoje como en el sueño- distinto al del tiempo instrumental. Tiempo de “emoción pura”, de desocupación total, tiempo extraviado, de placer mental, de ensoñaciones eróticas... En los últimos tres años hemos intensificado nuestros contactos con el entorno radical/alternativo y fruto de ello ha sido la organización de charlas y debates en ciertos puntos del ámbito radical (C.N.T de Barcelona, C.A.O. de Alicante, la librería Liquiniano de Bilbao, Traficantes de Sueños en Madrid), conferencias que han ido acompañadas de pequeñas exposiciones entendidas como mero complemento de aquéllas; esta decisión responde a nuestra actitud de desconfianza hacia el sistema de exposiciones convencional y se perfilaría como un ejemplo práctico de una actividad de resistencia; confiamos además que se dió una correspondencia unificadora entre el discurso teórico y crítico y las obras. Al dar las charlas sobre todo en espacios políticos más que artísticos y al dar más importancia al discurso teórico que a las obras creemos haber conseguido ciertos resultados en tanto en cuanto que comunicación no espectacular. Por otro lado, con ocasión del ciclo de charlas realizadas en la Traficantes del Sueños surgió el proyecto de editar un libro con el contenido de las mismas, titulado La experiencia poética de la realidad como crítica del miserabilismo, que ha sido mencionado anteriormente. Salamandra Revista del Grupo Surrealista de Madrid lurdjose@teleline.es Ediciones de la Torre Magnética Torrecilla del Leal, 21, 1° izq. 28012 Madrid, España . revistas em destaque .. tropel de luces (venezuela) diálogo entre pedro salima & amigos (antonio guerra, luis aníbal velásquez, mirimarit parada, jesús cedeño y eduardo gasca) - La pregunta reglamentaria, ¿cómo surge la idea de crear una revista literaria? PS - Tropel de luces no tiene una fecha fija de nacimiento, creo que se fue dando en el tiempo, desde antes que nosotros pasáramos a formar parte de la directiva de la Asociación de Escritores. Hubo un grupo interesado en publicar una revista, el centro del grupo en aquel momento fue el poeta José Lira Sosa y creo que ese sueño quedó allí, con la idea de hacerse realidad. Una vez que asumimos la directiva de la Asociación de Escritores empezamos a concretar esta idea y luego varias reuniones en el sótano del Museo Francisco Narváez armamos lo que sería Tropel de luces. Tomamos el nombre de un poemario de Víctor Salazar, poeta que nacido en Barcelona, vivió sus años de infancia en la isla de Coche. Es un homenaje a Víctor. Debido a que somos escritores o escribidores, y con eso no basta para hacer una revista, hacía falta la parte económica, y esta se vio concretar con el nacimiento de la Peña Literaria José Lira Sosa, donde al grupo de la Asociación de Escritores se unieron varias personas vinculadas a la literatura, incluyendo a dos compañeras, Clorinda Fuente e Ima Rosa Rivas, que se empeñaron en convencer a algunos empresarios para que dedicaran parte de sus ganancias a participar en una revista literaria que en ese momento no existía. También a través de la Peña Literaria llegó una persona que se encargó de hacer el diseño de la revista. - ¿Cuál es el equipo que inicia la revista? PS - Tendríamos que mencionarnos a nosotros mismos, Luis Malaver, Luis Emilio Romero, Campito, Antonio Guerra, Eduardo Gasca, Luis Velásquez, Chevige Guayke, Gabriel Bulla, Clorinda Fuentes, Ima Rosa Rivas, Juan Carlos Chaperón, y luego se fue integrando otra gente como Maury Valerio, Mirimarit Parada, Oscar Roca, Oscar Rodríguez, Luis Miguel Patiño, Ekaterina Gameley, Omar Galbiati, Adolfo Golindano. Esto nos da una idea de una revista que, independientemente de que se le conozca como la publicación de la Asociación de Escritores del estado Nueva Esparta, va mas allá de esta institución y de la rigidez tradicional en las asociaciones de escritores, las cuales de por sí son pavosas. Creo que esta forma que le dimos a la Tropel de luces, de participación de otras expresiones culturales, ha logrado que se mantenga. El mismo hecho de que hayan participado o participen gente como Chevige Guaike, que nunca fue de la Asociación de Escritores, Antonio Guerra, un ácrata que no se asocia en estas instituciones, Adolfo Golindano, que es pintor, nos indica el grado de amplitud que hemos intentando dar. - ¿La revista Tropel de luces está por encima de la Asociación de Escritores? PS - Sí, y creo que en parte ha sido intencional. Nuestra mayor dedicación ha sido a Tropel de luces, pero no sólo como revista, sino extendida a la publicación de libros, ampliada a la formación de nuevas gente que se acerca a la literatura y puede convertirse en un nuevo autor que escriba en la revista. Colocamos a Tropel de luces por encima de la Asociación de Escritores, a la cual llegamos no para hacer una institución tradicional, sino que tomamos el nombre de la misma, ofrecido por quienes antes la dirigieron. Y Tropel de luces ha sido el resultado de este trabajo y en un momento determinado hemos tenido la intención de dejar que esta revista sea nuestra marca, nuestra huella a nivel nacional. - ¿ Tropel de luces es una revista elitesca? PS - Sigue siendo una publicación que llega a un grupo de personas, no podemos obviar que en este país la literatura es elitesca, pues no todo el mundo la ha asumido como parte de su cotidianeidad. Quizás en la medida de que el ciudadano común se vaya acostumbrando a leer, existirá un mayor acercamiento entre la revista y ese ciudadano. - ¿Se ha rebasado las expectativas con la revista Tropel de luces? PS - Nacimos sin la intención de llegar a quince números, a lo mejor fuimos pesimistas, pero no es fácil hacer quince ediciones de una revista literaria, de hecho nos son muchas las experiencias similares. En eso, creo, la expectativa se ha superado y también en la forma como ha sido aceptada en el resto del país, pese a no contar con una distribución que haga posible que llegue a todos los rincones o por lo menos a los interesados en la literatura en el país; sólo la hemos conectado con otros escritores a través de los encuentros o por medio del correo, y se nos va un dineral en el pago del servicio postal, pero es una forma de hacerla conocer. Es importante decir que la revista no se queda en lo literario, pues cuando se hace una publicación en provincia es muy difícil que la resumas a un sector, pues no hay otros medios de divulgación en el sector cultural y entonces la revista se te convierte en una expresión de lo que es la actividad o el mundo cultural. - ¿Tropel de luces pudiera ser una referencia de vanguardia en la literatura? PS - Creo que es una referencia literaria del estado Nueva Esparta, no a nivel de lo que fue para el país El techo de la ballena o alguna de esas revistas o grupos que nacieron o vivieron en momentos convulsionados, para nosotros el momento es distinto, nos ha tocado una época donde el mundo de la literatura es apacible. No somos una vanguardia. - ¿Qué opinión te merece el contenido de la revista en este contexto histórico? PS - La revista no puede escapar a lo que sucede en el país, independientemente del carácter neutral que pretendamos darle. En su contenido siempre hay una referencia a lo que está pasando en el mundo. - ¿El desorden y la desorganización es el éxito de la revista Tropel de luces? PS - Organizados no somos. Si logramos organizarnos a lo mejor tuviésemos menos problemas a la hora de editar la revista; pero quizás esa organización nos restaría espontaneidad. - ¿Hay elementos particulares en la revista? PS - Hay ciertos elementos dentro de Tropel de luces que le dan alguna particularidad, por lo menos el modo de presentar a los autores. Hemos intentando disminuir el nivel académico, hemos intentado, incluso, quitarle seriedad a la revista, cuestión que no hemos logrado, la revista todavía sigue siendo muy seria para el gusto de algunos de nosotros. Hay muchas cosas que el lector no sabe; de repente está leyendo un texto y puede creer que el autor es la persona que aparece como tal, pero pudiera ser otro, pues quizás uno de nosotros no cumple presentando su texto a tiempo, a lo mejor está consumando una misión en un burdel, entonces lo escribe otro, aunque aparezca con la firma de quien debería escribirlo originalmente. Otro elemento es la frescura que intentamos darle a la revista, queremos una publicación que se lea, que atrape al lector. No tenemos la idea de entregarle a los lectores una revista pesada. Lo más difícil es convencer a la gente que tenga la revista en sus manos, una vez logrado eso el trabajo es más fácil. - ¿Qué es lo más que te llena de la revista Tropel de luces? PS - El equipo que hemos logrado. El interés de cada uno de nosotros, en principio no fue igual en todos, pero poco a poco ese afán se ha ido consolidando alrededor de la revista, Esa es una de las cosas que mas me satisface, la revista ha logrado que el equipo se consolide. La experiencia vivida en la Feria Internacional del Libro en Caracas es una prueba. Recientemente alguien me comentaba la sensación de unidad del grupo que mostramos durante el evento. Algunos nos consideran un clan, otros una mafia. Somos una peña. - ¿Qué elementos nos hace diferente al resto de las revistas literarias? PS - La amplitud. Repito, no nos centrarnos en lo meramente literario. Además en la variedad del contenido. Para muchas personas es importante la separata. Para otros la crónica es de un valor especial. Para otros es el trabajo con los artistas. También hay sorpresas, por ejemplo hay una revista donde se hizo un trabajo sobre Reina Rada como escultora, pues ese texto causó impacto entre los docentes., muchos profesores no vieron a la artista sino a la educadora. Esas cosas le van dando una amplitud a la revista que permite que mucha gente la busque. Hemos notado es que hay personas pendientes que la revista salga para ir a comprarla, se sienten orgullosos de que en Margarita exista una revista de esta calidad. Para ellos es un producto margariteño para el mundo. No voy a decir que esta es una generalidad ni que son muchas personas, pero si las hay. - ¿Margarita se divide ante y después de Tropel de luces? PS - Eso le va a quedar a los historiadores o investigadores. A lo mejor le toca a Efraín Subero, quien en una oportunidad dijo que la Asociación de Escritores de Nueva Esparta no existía, o algún alumno de Efraín. - ¿Pedro, alguna sugerencia que tú consideres importante para mejorar la revista? PS - Hay algunas ideas que se han ido asomando en reuniones. Que la revista en el futuro vaya siendo una especie de memoria cultural del estado. Hacer un trabajo sobre lo que ha sido la danza en Nueva Esparta, lo que ha sido el teatro o la música o el cine, de manera que vaya quedando un registro para las futuras generaciones, aunque eso también nos puede conducir a fomentar la flojera entre los muchachos, pues si les mandan a hacer un trabajo sobre el cine en Margarita van y copian a Tropel de luces y no investigan nada. Claro, esto podrá pasar si no llegamos a tener un gobierno que sepa lo que hace y queme todas las revistas, acción que le correspondería a un gobierno serio: quemar Tropel de luces. - ¿Pedro, con cuál de las secciones de la revista te identificas más? PS - Una de las secciones que más me preocupa cuando va a salir la revista es “Desde la barra”, porque es quizá el espacio más fresco, el que tiene mayor contenido de humor, y otra preocupación permanente es el ensayo, que es lo contrario “Desde la barra”, más serio. - ¿Tú aplicas aquel criterio político de Bertold Brecht “ordenar el desorden y desordenar el orden”? PS - Esa vaina es muy profunda para mí. El desorden viene como una respuesta al orden que siempre se impuso en mi casa y luego el orden que se impuso en el Partido Comunista de Venezuela, donde milité hasta que me soportaron. Ser desordenado para romper con tanto orden, me suena mejor. Hemos intentado que ese desorden se manifieste un poco en nuestras actividades para no hacerlas demasiado rígidas, demasiado serias, ni formales. Ya el hecho al asumir el nombre de la Asociación de Escritores es un peso fuerte con el cual uno tiene que luchar permanentemente para derrotarlo. - ¿Pedro, qué significación tiene para ti las portadas de la revista? PS - La portada para nosotros es un reto, estamos obligados a que sea atractiva, pero aparte de eso el autor de la misma debe sentirse orgulloso del trabajo final. No es original de nosotros en Margarita lo de una obra de arte en la portada, la revista Ínsula lo hizo antes, quizá la única diferencia que nosotros le dedicamos un trabajo al pintor. No sabemos si los artistas se sentirán mas satisfechos con la recompensa que les daba Ínsula porque era en efectivo, nosotros tratamos de compensarlo con un retrato escrito. Los artistas plásticos se han interesado en ir apareciendo en portadas de Tropel de luces, hasta el punto de que ya es una cola bastante larga que espera. Quizás sea porque a uno de los autores de la portada lo sobornamos para que dijera que el cuadro más costoso de su vida lo había vendido después de la aparición de una obra suya en la portada, y los demás lo han creído. - ¿Qué es el Comité Regional Clandestino del que nos habla Ekaterina Gamaely en el editorial de la número 14? ¿Tú formas parte de ese Comité? PS - No sé en absoluto quién forma parte de ese Comité. No sabemos si quienes lo conforman son escritores o no, o son enemigos de la revista. No sabemos si son terroristas, en algún momento hemos pensado que son miembros de Al Qaeda. Lo cierto es que los textos que envían a la revista con la intención de ser publicados pasan por manos de este terrible Comité, hasta los escritos por directivos de la Asociación de Escritores o por miembros de la Academia de la Lengua. Los textos son devueltos a la revista por el Comité Clandestino destrozados, incluso aquellos que van a ser publicados. Hemos pensado en publicar los textos rechazados por el misterioso organismo para ver si los lectores coinciden o no con este Comité. - ¿De quién es la autoría de las notas que aparecen a pie de página? PS - Eso tampoco se sabe, aparecen allí sin que nadie sepa quién las hace. Un detalle que a lo mejor los lectores desprevenido no captan, y es que a un autor se le puede cambiar su sitio de nacimiento cada vez que un texto suyo aparezca en la revista. Hay autores que ellos mismos ya no saben donde nacieron. - Siendo tú un hombre de números, de finanzas ¿cuándo piensa Tropel de luces pagar a sus colaboradores ? PS - Esa pregunta sólo la puede responder el Comité Regional Clandestino. - ¿A qué dirección se pueden enviar los textos para Tropel de luces? PS - En el primer número dimos a conocer las directrices para poder publicar en Tropel de luces, en especial para los miembros de la Asociación de Escritores; y allí se vio que era más difícil que un integrante de la Asociación publicara a que lo hiciese otro escritor. En aquella oportunidad los textos podían dejarse en el restaurant La Ceiba, ahora andamos sin dirección, pero en todo caso pueden dejar los textos en el kiosko de Evelín, aquí en el Paseo Guaraguao. Los debe dejar en un sobre cerrado, sin identificarse, porque si se identifica a lo mejor el texto ni siquiera pasa por manos del Comité Regional Clandestino. Nosotros recogeremos el sobre y lo dejaremos en un sitio donde sabemos que algún día pasará este terrible Comité Regional Clandestino, el cual cada día es más clandestino, en especial cuando se sospecha que es un grupo terrorista. - ¿Cuáles fueron las razones que llevaron al diseñador a crear el diseño actual de la revista? PS - Yo creo que fue el diseñador que nos llevó hasta allí. Porque en primer lugar él nos impresionó con unas pruebas, y esa situación nos llevó a escoger el papel para la revista. Lo que si le pedimos a Gabriel Bulla, diseñador inicial, fue frescura, aire, blancos, que dieran una sensación de libertad, que la hiciese atractiva a la vista. Por experiencia, en especial por años de una militancia que nos comprometió a leer revistas muy pesadas, sabemos que los textos cuadrados, las páginas llenas de letras, resultan aborrecibles a la hora de ir a leer. - Pedro, hazte una pregunta PS - ¿Qué yo me haga una pregunta? ¿Cuándo se acaba esta güevonada de Tropel de luces? Tropel de luces nació en mayo del año 2000 (segundo trimestre de ese año). Circula trimestralmente, y siempre ha salido dentro de cada trismestre, aunque sea el último día del mismo. Un tiraje de 1000 ejemplares. Lleva 16 números. Empezó con apoyo de la empresa privada, con el cual todavía cuanta, además con el apoyo del CONAC. Cada número es presentado en un acto público. Tropel de Luces Asociación de Escritores del Estado Nueva Esparta y Peña Literaria “José Lira Sosa” tropeldeluces@hotmail.com http://tropeldeluces.tripod.com.ve/