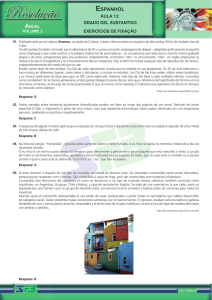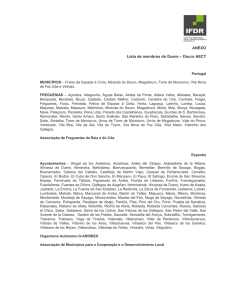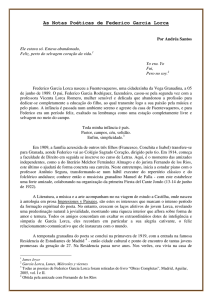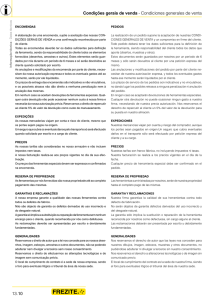CADERNOS DE ESTUDOS CULTURAIS Crítica Biográfica Cadernos de estudos culturais Campo Grande, MS v. 1 n. 4 p. 1 ‐ 204 jul./dez. 2010 Reitora Célia Maria da Silva Oliveira Vice‐Reitor João Ricardo Filgueiras Tognini CADERNOS DE ESTUDOS CULTURAIS Programa de Pós‐Graduação Mestrado em Estudos de Linguagens – Literatura Comparada Câmara Editorial Edgar Cézar Nolasco – UFMS – Presidente André Luis Gomes – UnB Biagio D'Angelo – PUC – São Paulo Claire Varin – Universidade de Montreal, CA Claire Williams – University of Oxford, UK Denilson Lopes Silva – UFRJ Eneida Leal Cunha – UFBA/PUC ‐ Rio Eneida Maria de Souza – UFMG Fernanda Coutinho ‐ UFC Florencia Garramuño ‐ UBA Ivete Walty – UFMG Jaime Ginzburg – USP Luiz Carlos Santos Simon – UEL Maria Adélia Menegazzo – UFMS Maria Antonieta Pereira – UFMG Maria Zilda Ferreira Cury ‐ UFMG Paulo Sérgio Nolasco dos Santos – UFGD Rachel Esteves Lima – UFBA Renato Cordeiro Gomes – PUC ‐ Rio Rosani Ketzer Umbach – UFSM Sílvia Maria Azevedo – UNESP – Assis Silviano Santiago – UFF Vânia Maria Lescano Guerra – UFMS Vera Lúcia Lenz Vianna – UFSM Vera Moraes – UFC Edgar Cézar Nolasco Editor e Presidente da Comissão Organizadora Marcos Antônio Bessa‐Oliveira e José Francisco Ferrari Editores Assistentes Comissão Organizadora Edgar Cézar Nolasco, Marcos Antônio Bessa‐Oliveira, Flávio Adriano Nantes Nunes, Marta Francisco Oliveira, Rony Márcio Cardoso Ferreira, Arnaldo Pinheiro Mont’Alvão Júnior, Daniel Rossi, Quelciane Ferreira Marucci, Giselda Paula Tedesco, José Francisco Ferrari, Leilane Hardoim Simões, Rafael Cardoso‐Ferreira, Jeferson de Moraes Zigart, Luiza de Oliveira, Marcia Maria de Brito, Willian Rolão Borges da Silva, Francine Rojas. Revisão Edgar Cézar Nolasco, Marcos Antônio Bessa‐Oliveira Planejamento Gráfico, Diagramação e capa Marcos Antônio Bessa‐Oliveira Sobre a imagem da Capa Fotografia da folha da Mandioca ‐ Manihot esculenta – manipulada digitalmente. Produção Gráfica e Design Lennon Godoi e Marcelo Brown A reprodução parcial ou total desta obra, por qualquer meio, somente será permitida com a autorização por escrito do autor. (Lei 9.610, de 19.2.1998). CIP‐BRASIL. CATALOGAÇÃO‐NA‐FONTE SNEL – Sindicato Nacional de editores de livros Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Coordenação de Biblioteca Central – UFMS, Campo Grande, MS. Brasil) _________________________________________________________ Cadernos de estudos culturais. – v. 1, n. 4 (2010)‐ . Campo Grande, MS. Ed. UFMS, 2010‐ v. ;XXcm. Semestral ISSN 1984‐7785 1 Literatura. – Periódicos. 2. Literatura Comparada – Periódicos. |. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. CDD (22) 805 CADERNOS DE ESTUDOS CULTURAIS Crítica Biográfica Esta é uma publicação que faz parte de um Projeto maior intitulado Culturas locais que, por sua vez, está preso ao NECC – Núcleo de Estudos Culturais Comparados – UFMS. Apoio: PREAE/UFMS EDITORIAL Os CADERNOS DE ESTUDOS CULTURAIS obtiveram, com apenas três volumes e um ano e meio de existência, avaliação e indexação no Portal de Periódicos da CAPES com “Qualis B1”. Considerando a avaliação significativa, que redobra os CADERNOS em importância Institucional (UFMS) e intelectual, agradeço, de modo especial: À Magª Reitora Profa. Dra. Célia Maria da Silva Oliveira; Ao Ilmo. Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação Prof. Dr. Dercir Pedro de Oliveira; Ao Ilmo. Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis Prof. Dr. Milton Augusto Pasquotto Mariani; A todos os autores que tiveram seus ensaios publicados nos CADERNOS; Aos Editores-Assistentes que não mediram esforços para a realização e publicação dos CADERNOS; À Comissão Organizadora dos CADERNOS, pelo empenho constante; A todos os membros efetivos do NECC – Núcleo de Estudos Culturais Comparados, pela seriedade nos trabalhos executados. Agora com “Qualis B1”, este quarto número dos Cadernos de Estudos Culturais visa a cumprir, mais do que nunca, os objetivos que fazem parte de seu projeto editorial, entre os quais destaco os mais significativos: 1) dar continuidade às discussões realizadas no espaço da disciplina obrigatória Literatura Comparada: fundamentos, do Programa de Pós-graduação – Mestrado em Estudos de Linguagens – UFMS; 2) criar um espaço para o debate crítico, tendo por base os ensaios críticos dos intelectuais convidados para participar dos CADERNOS; 3) oportunizar aos mestrandos, que desenvolvem projetos sobre a cultura local, ou cultura latino-americana, que tornem públicas suas pesquisas acadêmicas; 4) discutir com mais propriedade intelectual a cultura local fronteiriça do Estado de Mato Grosso do Sul (Brasil, Paraguai, Bolívia); 5) incentivar o intercâmbio cultural entre os Estado de Mato Grosso do Sul ( Brasil) e seus dois países lindeiros (Paraguai e Bolívia); repensar em conjunto as divergências e convergências instauradas em torno da diversidade cultural que diferencia a cultural local sul-mato-grossense, assim como em um pseudoconceito de cultura que quase sempre o Estado quer fazer prevalecer. Para melhor atender aos objetivos que originaram a ideia dos CADERNOS, os mesmos são de natureza temática: o primeiro número levou a rubrica de Estudos culturais, justificando, inclusive, o próprio título dos CADERNOS. O segundo denominou-se Literatura comparada hoje, atendendo, por sua vez, a disciplina do Programa de Pós-Graduação mencionada. O terceiro, Crítica contemporânea, deu relevância para a perspectiva transdisciplinar que vem embasando e norteando a proposta política dos próprios CADERNOS. Este quarto, Crítica biográfica, agrupa ensaios em torno de uma visada crítica ainda pouco explorada no país. Com a publicação deste volume, os CADERNOS se consolidam como uma publicação de ponta no Brasil e fora, não apenas por seu caráter nada endógeno, mas especificamente pelo valor incontestável que os trabalhos arrolados propõem. É salutar registrar que os CADERNOS saem na frente, uma vez que este volume é o primeiro periódico brasileiro a dedicar-se, com afinco, ao gênero crítica biográfica. O leitor deste volume terá a oportunidade de estabelecer comparações críticas entre os ensaios (seguidos de uma Resenha crítica) que, ao final, lhe proporão maior lucidez sobre a reflexão crítica que embasa o pensamento deste século que se inicia. Por fim, e o mais importante, agradeço a todos os amigos, professores, críticos, orientandos, intelectuais e neccenses que contribuiram para que o Projeto dos Cadernos se tornasse possível. Edgar Cézar Nolasco SUMÁRIO COM A PALAVRA, O AUTOR – exercícios de crítica biográfica na contemporaneidade Ana Cláudia Viegas ..................................................................................... 9 ‐ 26 ESCRITA, TRADUÇÃO e Psicanálise Betty Bernardo Fuks ................................................................................. 27 ‐ 38 POLÍTICAS DA CRÍTICA biográfica Edgar Cézar Nolasco ................................................................................. 39 ‐ 58 CRÍTICA BIOGRÁFICA, ainda Eneida Maria de Souza ............................................................................. 59 ‐ 66 MATÉRIAS‐PRIMAS: entre autobiografia e autoficção Evando Nascimento.................................................................................. 67 ‐ 86 ANIMAIS BIOGRÁFICOS EM Poliedro, de Murilo Mendes Lyslei Nascimento & Filipe Amaral Rocha de Menezes ............................87 ‐ 106 MÍTICO LORCA: el poeta como simulacro María Ángeles Grande Rosales .............................................................. 107 ‐ 140 Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 7‐8, jul./dez. 2010. A MEMÓRIA EM DERRIDA: uma questão de arquivo e de sobre‐vida Maria José R. F. Coracini ........................................................................ 141 ‐ 154 O DIÁRIO DO CORAÇÃO DESNUDADO: migração de um projeto de Poe a Baudelaire Myriam Ávila ......................................................................................... 155 ‐ 166 GRAFIAS NA PEDRA: traços de João Cabral Roniere Menezes................................................................................... 167 ‐ 184 RETRATOS EM MOVIMENTO NA OBRA contínua de Herberto Helder Sabrina Sedlmayer ................................................................................ 185 ‐ 192 ESPAÇOS DAS SUBJETIVIDADES CONTEMPORÂNEAS: o novo território das biografias – Resenha do livro O espaço biográfico, de Leonor Arfuch Marta Francisco Oliveira ................................ Erro! Indicador não definido. ‐ 202 SOBRE A PRÓXIMA EDIÇÃO Editor, Editores Assistentes & Comissão Organizadora .................................. 203 Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 7‐8, jul./dez. 2010. 8 COM A PALAVRA, O AUTOR – exercícios de crítica biográfica na contemporaneidade Ana Cláudia Viegas1 Uma releitura de dois textos clássicos sobre a figura do autor – O que é um autor, de Michel Foucault (1992), e “A morte do autor”, de Roland Barthes (1988) – nos leva a identificar a noção de autor como “o momento forte da individualização” (FOUCAULT, 1992, p. 33) na história das ideias, dos conhecimentos, das literaturas, da filosofia e das ciências, e a relacionar a “função autor” à emergência do indivíduo moderno. Apesar de a crítica literária moderna já ter posto em questão o caráter absoluto e o papel fundador do sujeito, quando passou a privilegiar a análise interna da obra em detrimento das referências biográficas ou psicológicas do autor, Foucault propõe uma retomada dessa questão, não no sentido de restaurar um sujeito originário, mas para analisá-lo como “uma função variável e complexa do discurso”. Supõe que não seja indispensável a permanência da função autor, imaginando uma cultura em que os discursos circulassem e fossem recebidos sem ela, “no anonimato do murmúrio”. Na contramão desse desejo foucaultiano, a figura do autor nunca deixou de rondar a noção de obra. Pelo menos no campo literário, permanece em nós, leitores, a vontade de encontrar do outro lado da página um ser que nos abrace; o que mantém o fetiche em torno de exposições de objetos pertencentes aos escritores (livros, máquina de escrever, fotos, documentos pessoais, entre outros) ou da oportunidade de ter a presença do autor seja em programas de televisão seja ao vivo, nas tão badaladas “mesas de escritores”. O próprio Barthes, ao mesmo tempo em que assinala a “morte do autor”, reconhece sua permanência “nos 1 Ana Cláudia Viegas e professora da UERJ. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 9‐26, jul./dez. 2010. manuais de história literária, nas biografias de escritores, nas entrevistas dos periódicos, e na própria consciência dos literatos, ciosos por juntar, graças ao seu diário íntimo, a pessoa e a obra” (BARTHES, 1988, p. 66). Assistimos hoje a um “retorno do autor”, não como origem e explicação última da obra, mas como personagem do espaço público midiático. Sabemos que um dos motores da formação do indivíduo moderno foram as diversas manifestações da “escrita de si”, de modo que o questionamento daquele também coloca em questão as formas canônicas do relato autobiográfico. Surgem hoje, no horizonte midiático da cultura contemporânea, expressões concorrentes dos gêneros biográficos consagrados. Para além de biografias, autobiografias, memórias, diários íntimos, correspondências, temos entrevistas, perfis, retratos, testemunhos, histórias de vida, relatos de auto-ajuda, talk-shows, reality-shows, blogs – fazendo do relato de experiências pessoais e da exposição pública da intimidade, um fenômeno característico de nosso tempo. Com o objetivo de ler a articulação dessas ocorrências num “clima de época”, Leonor Arfuch (2010) formula o termo “espaço biográfico”, não como uma enumeração de tipos de relatos, mas como confluência de múltiplas formas, gêneros e horizontes de expectativa. Mais do que uma especificação particular de cada gênero, importaria a interatividade entre eles, tanto quanto à circulação de modelos de vida como a aspectos formais dos discursos. A partir da constatação de que a relevância do biográfico-vivencial nos gêneros discursivos contemporâneos se estende para além do universo da cultura de massa, numa trama de interações, hibridações, contaminações de lógicas midiáticas, literárias e acadêmicas, Arfuch se propõe a investigar como se articulam os gêneros autobiográficos “canônicos” com a proliferação de fórmulas de autenticidade, a obsessão do “vivido”, o mito do “personagem real”. A visibilidade do privado, o voyeurismo, sendo um dos registros prioritários na cena contemporânea, tem levado a considerações críticas acerca da expansão do particular sobre o público. A autora argentina apresenta um outro enfoque da questão, que não considera esses espaços como dissociados, mas numa permanente dinâmica de interação. O biográfico se definiria, assim, justamente como um espaço intermediário, de mediação ou indecidibilidade entre o público e o privado. A noção de “espaço biográfico” nos inspira a ler a formação do sujeito-autor transversalmente nos diferentes “momentos biográficos” dispersos nas entrevistas, Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 9‐26, jul./dez. 2010. 10 nos depoimentos, nos blogs, nas autoficções. Nestas, a presença de uma primeira pessoa autobiográfica num texto que se apresenta como ficcional problematiza a autobiografia canônica e suas distinções em relação à ficção, perturbando a clássica separação entre autor, narrador e escritor empírico. A criação de narrativas que sustentam a ambiguidade entre o espaço da ficção e as referências extratextuais, aproximando-se do conceito de autoficção, é uma das marcas do narrador em 1ª pessoa da atualidade. Essas “ficções de si” constituem-se como narrativas híbridas, ambivalentes, tendo “como referente o autor, mas não como pessoa biográfica, e sim o autor como personagem construído discursivamente”. Na autocriação configurada nos blogs, crônicas, contos e romances contemporâneos o escritor se exibe como personagem, “ao mesmo tempo indagando sobre a subjetividade e posicionando-se de forma crítica perante os seus modos de representação” (KLINGER, 2007, p. 62). Na perspectiva aqui adotada, mais do que tentar distinguir as especificidades de cada uma dessas categorias, importa pensar sua articulação tanto nesse gênero quanto em seu diálogo com as demais atuações “daquele que escreve”. O Autor, como já afirmara Barthes, volta ao seu texto, mas “a título de convidado”, inscrevendo-se nele “como uma das personagens, desenhada no tapete”. No Texto, “sem a inscrição do Pai”, a vida do autor “não é mais a origem das suas fábulas, mas uma fábula concorrente com a obra” (1988, p. 76). No contexto da cultura midiática, entretanto, as performances do escritor não se limitam ao ato de escrever, de modo que, ao lermos um texto, não temos apenas o nome do autor como referência, mas sua voz, seu corpo, sua imagem veiculada nos jornais, na televisão, na internet. A obsessão contemporânea pela presença nos afasta da concepção barthesiana desse autor como um “ser de papel”. Alguns anos depois das reflexões de Walter Benjamin a respeito da perda da autenticidade e da incomunicabilidade da experiência, os contemporâneos parecem afirmar a possibilidade de se narrarem experiências. Mais que a possibilidade, uma certa necessidade e urgência. Em contraposição ao ideal de objetividade buscado pelo realismo oitocentista, os novos realistas se propõem “a reconstituir a textura da vida e a verdade abrigadas na rememoração da experiência”, constituindo uma tendência, tanto acadêmica quanto do mercado de bens culturais, de revalorização da primeira pessoa como ponto de vista. Impõese, nas palavras de Beatriz Sarlo, uma “guinada subjetiva”, “em que a identidade dos sujeitos voltou a tomar o lugar ocupado, nos anos 1960, pelas estruturas”, restaurando-se a “razão do sujeito” (SARLO, 2007, p. 18-19). Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 9‐26, jul./dez. 2010. 11 A leitura crítica da correspondência entre escritores, de seus diários, entrevistas, manuscritos, anotações pessoais, alargando-se o conceito de “obra”, se liga intrinsecamente à “guinada subjetiva” no campo dos estudos literários. A consideração desses textos como objeto de estudo desconstrói princípios valorizados por algumas correntes da teoria da literatura do século XX, pautados na “morte do autor” e na análise imanente da obra. A nova crítica biográfica, sem retornar ao biografismo oitocentista, “ao escolher tanto a produção ficcional quanto a documental do autor – correspondência, depoimentos, ensaios, crítica – desloca o lugar exclusivo da literatura como corpus de análise e expande o feixe de relações culturais” (SOUZA, 2002, p. 111). O autor retorna ao campo dos estudos literários não como origem e explicação última da obra, mas como “ator no cenário discursivo”: “A figura do escritor substitui a do autor, a partir do momento que ele assume uma identidade mitológica, fantasmática e midiática.” (SOUZA, 2002, p. 116). Se a volta da problemática do sujeito nas artes, na crítica, na filosofia, na antropologia pode ser pensada como uma crítica ao recalque modernista do sujeito da escrita, a tendência à revalorização da experiência pessoal e das estratégias autobiográficas não significa uma volta substancialista de um sujeito pleno. Nas práticas contemporâneas de uma “escrita de si”, a primeira pessoa se inscreve de maneira paradoxal num quadro de questionamento da identidade, em que o eu perde sua coerência biográfica e psicológica, e a relação entre as noções de real e ficcional são problematizadas. Dentro dessa perspectiva, nos propomos a delinear a formação de três diferentes figuras autorais no cenário da produção literária brasileira contemporânea: Bernardo Carvalho, Luiz Ruffato e Milton Hatoum. Considerando que as construções da figura autoral na atualidade podem ser pensadas numa trama interdiscursiva tecida pelas diversas performances do escritor, que não se limitam ao ato de escrever, mas se estendem a suas intervenções na mídia, nos eventos literários, num reenvio entre anúncios, notas, entrevistas e resenhas, nosso corpus inclui tanto obras publicadas por esses autores como “momentos biográficos” dispersos em entrevistas, depoimentos, sites e blogs. Leonor Arfuch destaca a entrevista como um gênero predominante na comunicação mediatizada. Cena ideal da narração diante de um outro – que se desdobra no entrevistador e no público –, a dinâmica da entrevista expressa Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 9‐26, jul./dez. 2010. 12 eloquentemente a concepção contemporânea das identidades como posições de sujeito, relações contingentes e transitórias, não suscetíveis de representar uma totalidade essencial nem de fixar-se em uma suma de atributos pré-definidos e diferenciais. A entrevista desfaz a pretensão de toda inscrição autobiográfica de deixar uma marca única. A possível “unicidade” ou singularidade do personagem que fala torna-se, pela voz do outro, propriedade comum, experiência comparável, ilustração do já conhecido. O momento autobiográfico da entrevista se transformará de imediato num elemento a mais da cadeia da interdiscursividade social. Esse gênero dialógico por excelência condensaria e dramatizaria os tons de nossa época: a compulsão de realidade, a autenticidade, a presença, apresentando, auraticamente, a narração da vida (que não representa algo pré-existente, mas configura a própria vida) fazendo-se, em tempo real, sob nossos olhos. Encenando a oralidade na era midiática, a entrevista gera um efeito de espontaneidade, autenticidade e proximidade. Arfuch destaca em seu corpus de análise as entrevistas de escritores, consideradas duplamente emblemáticas pelo mito da “vida e obra” e por tratar-se de sujeitos que também criam relatos diversamente autobiográficos. Selecionamos em entrevistas dos três autores em questão, intervenções a respeito das relações entre literatura e “realidade brasileira”, tema sempre presente em nossa crítica literária, certamente pelo lugar central que a literatura ocupou nos projetos de construção da identidade nacional nos séculos XIX e XX, e que volta hoje como parte das discussões a respeito do “retorno do real” que caracterizaria boa parte da produção cultural da atualidade. A expressão, cunhada por Hal Foster, refere-se a uma demanda de referencialidade não só nas manifestações artísticas, mas na cultura contemporânea em geral. Depois de um cenário de “desaparição do real” em meio à profusão de imagens e simulacros produzidos pelos meios de comunicação, assistiríamos a um “novo realismo”, que se diferenciaria da tradição do realismo histórico do século XIX porque, no lugar de uma proposta mimética, “visa a realizar o aspecto performático e transformador da linguagem literária e da expressão artística” (SCHOLLHAMMER, 2004, p. 226). Dos três autores mencionados, o mais identificado com a estética do “novo realismo” é Ruffato, constantemente citado para caracterizar o “realismo afetivo”, isto é, esse “outro tipo de realismo cuja realidade não está na verossimilhança da Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 9‐26, jul./dez. 2010. 13 descrição representativa, mas no efeito estético da leitura, que visa a envolver o leitor afetivamente na realidade da narrativa” (SCHOLLHAMMER, 2004, p. 224). Situado entre os escritores comprometidos simultaneamente com os temas da realidade social brasileira e a inovação formal e técnica, no texto fragmentado, híbrido, não-linear de Ruffato, “a vontade da literatura de procurar novas formas de experiência estética se une à preocupação do compromisso de testemunhar e denunciar os aspectos inumanos da realidade brasileira contemporânea” (SCHOLLHAMMER, 2004, p. 219). Seu premiado livro Eles eram muitos cavalos compõe-se de “setenta flashes, takes, zoons avançando sobre a sufocante pauliceia”, como afirma Fanny Abramovich, na apresentação. Numa espécie de zapping urbano, os setenta fragmentos, numerados e intitulados, não apresentam nenhuma espécie de continuidade: não há resquício de um enredo como fio condutor, apenas a “montagem efervescente” de closes que se entrecortam e se justapõem. Trata-se de um mosaico de diversos tipos de textos − um cabeçalho, previsões meteorológicas, anúncios classificados, orações, cartas, cardápios, conselhos astrológicos, simpatias, lista de livros, recados de secretária eletrônica, duas páginas com um retângulo preto − dispostos com diferentes diagramações, formatos de letras, sinais tipográficos. Os ecos modernistas nos levam aos fragmentos também numerados e intitulados de Memórias sentimentais de João Miramar, nos quais igualmente se misturam vários gêneros textuais e se ressalta a materialidade gráfica. Parece, no entanto, que os cortes cinematográficos e a escrita telegráfica de Oswald de Andrade se aceleraram ainda mais, desfazendo-se até mesmo a tênue trajetória da personagem que perpassa aquelas memórias descontínuas. A montagem cinematográfica cede lugar ao zapping, imagens que surgem e desaparecem como se pelo comando de um controle remoto. Neste caso, entretanto, diferentemente da linguagem televisiva, nem as imagens têm baixo teor semântico, nem os cortes são aleatórios. A página, ao assimilar um traço característico da estética televisiva, o suplementa: alternando o deboche, a ternura, a violência, a ingenuidade, a esperança, a decepção, expõe feridas, tensões, causando impacto no leitor. Se o ritmo alucinante da cidade contemporânea, expresso num texto em permanente movimento, leva a uma “atenção distraída”, esta, ao focalizar-se instantaneamente, o faz de maneira muito mais intensa. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 9‐26, jul./dez. 2010. 14 Embora Ruffato afirme em entrevistas que tenta caminhar na seara da literatura realista, estabelecendo uma reflexão sobre o real a partir do real, não se trata de um realismo ingênuo em busca da representação fiel da realidade ou da objetividade narrativa. Tanto quanto com a vertente realista, o autor mostra-se engajado com as questões formais: O instrumento romance, com começo-meio-fim, não faz sentido diante da quantidade de informações de hoje, ficou obsoleto. Minha opção pelo fragmentário foi uma provocação mesmo. [...] Quero colocar em xeque essas estruturas. Não quero fazer uma reflexão só sobre a realidade política, mas também questionar por meio do conteúdo a forma. (RUFFATO, 19 mar. 2005). Em encontro com alunos e professores da Uerj em 2005, afirmou ter se inspirado, para o formato de Eles eram muitos cavalos, numa instalação exposta numa Bienal de Artes em São Paulo, feita de diferentes calçados recolhidos na cidade, de modo que esse livro pode ser considerado uma espécie de “instalação literária”. A partir de 2005, Ruffato publicou quatro livros – Mamma, son tanto felice (2005a), O mundo inimigo (2005b), Vista parcial da noite (2006) e O livro das impossibilidades (2008) – que fazem parte de uma série de cinco volumes com o título de Inferno provisório. Através de textos fragmentados, passíveis de serem lidos separadamente, mas, ao mesmo tempo, complementares, esses romances narram a desestruturação da vida rural frente à modernização, e a formação das metrópoles paulista e carioca a partir da migração. O primeiro volume é ambientado em Rodeiro, na década de 1950; o segundo, em Cataguases, nos anos 1960 e 70; o terceiro, também em Cataguases, nas décadas de 1970 e 80; o quarto, em Cataguases, Rio de Janeiro e São Paulo, nos anos 80 e 90; e o último, ainda inédito, em São Paulo, no início do século XXI. Nota-se, portanto, que o espaço e o tempo das narrativas acompanham o processo de migração dessa região de Minas Gerais em direção aos grandes centros urbanos do Sudeste. Os personagens dos primeiros livros, pequenos agricultores, imigrantes italianos pobres da Zona da Mata mineira e da cidade de Cataguases, sofrem as consequências sociais e emocionais do processo de industrialização ocorrido no Brasil a partir dos anos 1950. As histórias de um e de outro volume retomam e entrelaçam personagens e situações, fazendo da leitura e da construção de sentido um efeito da interseção de planos. Passado e presente se misturam em fragmentos de memória, encaixando peças de um “quase-romance desestruturado” (NINA, 2005). Mudanças Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 9‐26, jul./dez. 2010. 15 tipográficas chamam a atenção do leitor para os diferentes tempos e vozes presentes nos textos. Enquanto em Mamma, son tanto felice, predominam o imaginário rural e uma linguagem próxima à oralidade, a partir do segundo volume, no qual alguns personagens começam a migrar para as cidades grandes, o ritmo da narrativa se acelera, avançando em direção à linguagem de Eles eram muitos cavalos, e acompanhando o aumento da velocidade e da intensidade de estímulos, característico da formação das metrópoles. Exemplo de uma referencialidade que se expressa por efeitos sensoriais, o cotidiano de São Paulo, paisagem do romance de 2001 e destino dos personagens da série Inferno provisório, se expressa na própria materialidade do texto. A comparação entre os primeiros volumes da série e o premiado romance também nos leva a perceber que os personagens, que naqueles têm nome e sobrenome, vão se tornando anônimos, de acordo com o processo de desenraizamento que acompanha a migração em direção às metrópoles. Conforme nos lembrou Ruffato, no citado encontro na Uerj, a mulher do interior que escreve a carta ao filho morador de São Paulo, no fragmento 50 de Eles eram muitos cavalos, poderia ser uma personagem do primeiro ou segundo volume do Inferno provisório. Podemos observar, assim, que não só os volumes da série se relacionam entre si, mas também esses com a narrativa do dia 9 de maio de 2000, em São Paulo. O próprio Ruffato se considera um “re-escritor” e seu texto, sempre “provisório”. Reafirma esse traço nas notas ao fim dos volumes Mamma, son tanto felice e O mundo inimigo, nas quais adverte que alguma passagem desses livros pode ser reconhecida, já que aí se encontram, “reembaralhadas”, histórias narradas nas primeiras obras publicadas pelo autor, Histórias de remorsos e rancores (1998) e (os sobreviventes) (2000). De acordo com entrevista concedida em 2001, seu objetivo nesses dois primeiros romances era “traçar um painel da vida proletária sob a ditadura militar, [através de] histórias que se passassem nas décadas de 60 e 70, em Cataguases”, projeto ao qual retorna depois da publicação de Eles eram muitos cavalos. Embora não seja o caso de classificar o autor como um regionalista, seu projeto literário é bem delimitado geograficamente: Não acho piegas, embora seja hoje démodé, assumir como projeto contar a história de um povo. Acho, no entanto, muita pretensão... Na verdade, me daria por satisfeito se conseguisse demarcar meu pequeno território: a história de algumas pessoas nascidas no Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 9‐26, jul./dez. 2010. 16 século XX entre Rodeiro e Cataguases e que migraram para São Paulo e Rio de Janeiro. (RUFFATO, 2005c). O interesse pela cidade natal e pelas migrações se mantém em seu último romance, Estive em Lisboa e lembrei de você (2009), escrito “sob encomenda” dentro do projeto “Amores Expressos”, que enviou dezesseis escritores brasileiros a diferentes cidades do mundo por um mês, para escreverem uma história de amor: “escrever sobre Lisboa, para mim, é escrever sobre um personagem de Cataguases em Lisboa. [...] Então, a minha Lisboa não é a Lisboa de cartão-postal, com certeza.” (RUFFAFO, jan. 2009). Em contraste irônico com o título, que alude aos souvenirs comprados por turistas, o romance narra as experiências de um imigrante pobre que sai de Cataguases para tentar enriquecer trabalhando na capital portuguesa: “interrogou o que então me trazia à Europa, e delatei o desemprego em Cataguases [...] e meu pensamento de trabalhar firme por um tempo, ganhar bastante dinheiro e voltar pro Brasil, comprar uns imóveis, viver de renda, e, esperançoso, quem sabe [...].” (RUFFATO, 2009, p. 40). Por identificar na formação da sociedade brasileira “um histórico de exílios” (“Exilados os primeiros portugueses pobres [...], os negros arrancados à força da África, os imigrantes europeus de fins do século XIX, deslocamentos absurdos de nordestinos e mineiros [...]”. [RUFFATO, 2005d].), Ruffato incorpora nesse último romance a imigração característica da atualidade: das periferias para o centro. Mantém, dessa forma, seu propósito de “fazer uma literatura profundamente engajada na história do Brasil” (RUFFATO, 2005d), confundindo com a História as histórias pessoais. Inclusive a sua, ele mesmo um migrante, e neto de imigrantes portugueses e italianos. Na verdade, “exílio e errância são tomados na obra de Ruffato como a própria condição de existência de uma vasta gama de brasileiros” (DEALTRY, 2009). Definindo-se como um “escritor monotemático”, cujo “tema é imigração, desterritorialização, perda da identidade em função do deslocamento espacial” (RUFFATO, 4 set. 2009), Ruffato reafirma as relações entre todos os seus livros: O Serginho, personagem de Estive em Lisoba e lembrei de você, viveu a vida inteira em Cataguases e provavelmente manteve contato, mesmo que de passagem, com os personagens do Inferno provisório. É possível que a história de Serginho seja conhecida e comentada pelos personagens do Inferno provisório. Portanto, o meu universo ficcional foi totalmente preservado. (RUFFATO, 4 set. 2009). Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 9‐26, jul./dez. 2010. 17 Assim como os romances da série Inferno provisório incorporam a linguagem da população rural de origem italiana, também em Estive em Lisboa, que mantém traços de oralidade como cabe a um “depoimento”, o falar lusitano e o das ex-colônias africanas adentram sua escrita; o que talvez indique que, menos do que um interesse em registrar falares locais, como se poderia esperar numa estética regionalista, a apropriação de termos e da sintaxe de cada região reitera a relação intrínseca entre forma e conteúdo presente no projeto estético de Ruffato. Como eco modernista, podemos ler, na referência final à tabacaria, o diálogo com Fernando Pessoa, poeta da Lisboa do início do século XX, de quem Ruffato organizou a antologia Quando fui outro (2006). O sonho e a desesperança convivem no famoso poema de 1928: “Não sou nada. / Nunca serei nada. / Não posso querer ser nada. / À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.” (PESSOA, 1980, p. 256), assim como no narrador Sérgio: “o desalento imigrante de quem sabe que de nada serve essa vida se a gente não pode nem mesmo aspirar ser enterrado no lugar próprio onde nasceu” (RUFFATO, 2009, p. 73). A divisão do livro em duas partes, “Como parei de fumar” e “Como voltei a fumar”, reafirma a casualidade e a falta de sentido da existência. Também o poeta continua a fumar: “Depois deito-me para trás na cadeira / E continuo fumando. / Enquanto o Destino mo conceder, continuarei fumando.” (PESSOA, 1980, p. 260). Menos ousada formalmente que os livros anteriores, a narrativa joga com o interesse atual pelos testemunhos, atribuindo a história a um depoimento de seu narrador, conforme nota no início do livro, assinada por L. R.: O que se segue é o depoimento, minimamente editado, de Sérgio de Souza Sampaio, nascido em Cataguases (MG) em 7 de agosto de 1969, gravado em quatro sessões, nas tardes de sábado dos dias 9, 16, 23 e 30 de julho de 2005, nas dependências do Solar dos Galegos, localizado no alto das escadinhas da Calçada do Duque, zona histórica de Lisboa. A Paulo Nogueira, que me apresentou a Serginho em Portugal, e a Gilmar Santana, que o conheceu no Brasil, oferto este livro. (RUFFATO, 2009, p. 13). As detalhadas localizações de tempo e espaço funcionam como falsas pistas da veracidade da história narrada. Embora cite, como em suas outras obras, nomes de ruas e de lugares, e os descreva com “precisão de naturalista, nada disso existe de verdade, porque são evocações dos personagens e eles evocam a memória, ou a sensação do lugar, não o lugar” (RUFFATO, 2005c). Também é pelo viés da memória que Milton Hatoum alinhava histórias pessoais, familiares, da cidade de Manaus e do Brasil. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 9‐26, jul./dez. 2010. 18 Memória e imaginação são a matéria da novela Órfãos do Eldorado (2008). Logo nas primeiras páginas, Arminto Cordovil, seu narrador e protagonista, afirma: “Quando olho o Amazonas, a memória dispara, uma voz sai da minha boca, e só paro de falar na hora que a ave graúda canta.” (HATOUM, 2008, p. 14). Narrador oral, próximo, portanto, do narrador tradicional privilegiado por Benjamin, cuja sabedoria se expressa na capacidade de dar conselhos, “tecidos na substância viva da existência” (BENJAMIN, s/d [1936], p. 200). O narrador benjaminiano alimenta a tradição oral, retirando da experiência o que ele conta e incorporando as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes. O narrador oral criado nas páginas escritas por Hatoum não quer dar continuidade ao império construído por seu pai, ignorando a empresa herdada. Assim como o típico narrador de romance, é um indivíduo isolado: “A morte de Florita rompeu os laços com o passado. Eu, sozinho, era o passado e o presente dos Cordovil. E não queria futuro para homens da minha laia. Tudo vai acabar neste corpo de velho.” (HATOUM, 2008, p. 94). Sua história individual, entretanto, está tecida tanto na memória coletiva das tradições orais, como na história social e econômica da região em que vive. Apogeu e declínio do ciclo da borracha permeiam sua história de amor, assim como as lendas ouvidas dos índios e traduzidas por Florita. Tradição oral e escrita se enredam na construção dessa novela, que usa como fonte lendas amazônicas, histórias indígenas. Nesse ato de incorporar lendas e tradições, remete a Mário de Andrade, autor do romance-rapsódia Macunaíma. As frases e os casos do “herói de nossa gente” são preservados do esquecimento pelo papagaio que, depois de ouvi-los do próprio Macunaíma e repeti-los na fala da tribo, os conta ao narrador-autor, apresentado ao leitor no epílogo do livro: “Tudo ele contou pro homem e depois abriu asa rumo de Lisboa. E o homem sou eu, minha gente, e eu fiquei pra vos contar a história.” (ANDRADE, 1980, p. 135). Também numa tapera, o narrador Arminto conta sua história para um homem que entra para descansar na sombra do jatobá, pede água e tem paciência para ouvir um velho. Histórias mais violentas e trágicas que a do herói Macunaíma, narradas na solidão e no silêncio de um ambiente decadente, cujo morador também “olhava o brilho inútil das estrelas” (HATOUM, 2008, p. 95). Diferente do autor de Macunaíma, Hatoum escolhe o foco narrativo em 1ª pessoa, encenando a oralidade do narrador. No posfácio, um outro narrador (o autor?) nos conta sobre uma visita a seu avô num domingo de 1965 em que ele lhe contou uma história ouvida em 1958, numa de suas viagens ao interior do Amazonas. Era uma história de amor, que Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 9‐26, jul./dez. 2010. 19 evocava o mito amazônico da Cidade Encantada, do qual o mito do Eldorado relatado por conquistadores e viajantes europeus sobre a Amazônia pode ser considerado uma variante. Impressionado pela história ouvida, anos depois, numa viagem pelo Médio Amazonas, ele procura o narrador que a contara a seu avô. Este se recusa a lhe contar novamente a história: “Já contei uma vez, para um regatão que passou por aqui e teve a gentileza de me ouvir. Agora minha memória anda apagada, sem força...” (HATOUM, 2008, p. 106). De fragmentos das lendas se compõe a novela que lemos, “traduzindo” em palavra escrita e história mais uma versão do mito do Eldorado. “Quando alguém morre ou desaparece, a palavra escrita é o único alento.” – afirma Estiliano, advogado e amigo de Amando Cordovil, pai de Arminto. A exploração ficcional do Norte brasileiro empreendida por Hatoum em seus vários romances e nos contos de A cidade ilhada (2009) vai recolhendo os estilhaços das tradições locais, misturados às transformações sociais, econômicas e culturais trazidas pela história. Às possíveis histórias ouvidas de seu avô se mistura a tradição literária, aprendida no ofício de professor de literatura. As relações entre tradição/modernidade, identidade/memória são traços comuns a várias obras de Hatoum, assim como um narrador que conta a partir de alguns fatos testemunhados e outros que ouviu contar, numa comunhão de discursos próprios e alheios. Como exemplo, Nael, o narrador de Dois irmãos: “Isso Domingas me contou. Mas muita coisa do que aconteceu eu mesmo vi, porque enxerguei de fora aquele pequeno mundo. Sim, de fora e às vezes distante. Mas fui o observador desse jogo e presenciei muitas cartadas, até o lance final.” (HATOUM, 2000, p. 29). Mesmo que tenha afirmado, em entrevista na época do lançamento da novela de 2008, estar “falando do Brasil” (HATOUM, 29 fev. 2008), sua reinterpretação do histórico pela ficção, com o entrecruzamento de vários planos da memória (individual/familiar/histórica; oral/escrita), da imaginação e do esquecimento, o afasta de um projeto de mimesis da realidade, dando preferência às “versões fantasiadas pelo tempo e suas vozes” (HATOUM, 2000, p. 152). Dos três autores aqui comentados, o mais avesso a ser identificado com uma estética realista parece ser Bernardo Carvalho, que afirma sua posição contrária à “literatura que serve de ilustração de uma teoria sociológica do Brasil” (CARVALHO, 4 jul. 2009). Embora seus livros façam referências a fatos e pessoas reais, faz questão de afirmar que “em última instância, é tudo ficção” Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 9‐26, jul./dez. 2010. 20 (CARVALHO, 23 set. 2002). No romance Nove noites (2002), a narrativa se constrói a partir da tentativa de decifração do suicídio do antropólogo americano Buell Quain, em agosto de 1939, durante uma pesquisa de campo entre os índios krahôs, no Brasil. Este personagem do mundo real é trazido para o mundo da ficção a partir da curiosidade de um dos narradores, que, ao tomar conhecimento de sua estranha morte, casualmente, através de um artigo de jornal, decide vasculhar cartas, depoimentos, jornais e outros documentos, visando à decifração do episódio. As motivações para tal interesse estão ligadas à vida pessoal desse narrador, cujo pai fora proprietário de terras próximas à Ilha do Bananal, propiciando um contato seu com os índios na infância. A complexa e requintada rede tecida entre ficção e realidade apresenta ainda outras sutilezas: o próprio autor, Bernardo Carvalho, bisneto do Marechal Rondon, conviveu com índios durante suas férias na infância, experiência registrada, por exemplo, na foto de um menino ao lado de um indígena que figura na orelha do livro, com a legenda: “O autor, aos seis anos, no Xingu”. Os fragmentos desse relato, em primeira pessoa, se alternam com o testemunho de Manoel Perna, sertanejo, amigo de Quain, deixado para um futuro pesquisador. A advertência inicial – “Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram até aqui.” (CARVALHO, 2002, p. 7) – anuncia o terreno da ambiguidade que o texto habita. Apesar de partir de um fato real, a narrativa joga o tempo todo com a expectativa – tanto do narrador quanto do leitor – de revelação dos segredos em torno do suicídio, mas não para esclarecê-los: “O fato de que nenhum de nós provavelmente jamais conhecerá os fatos torna ainda mais difícil nos desembaraçarmos deles.” (CARVALHO, 2002, p. 88). Desde a primeira página do romance, o narrador sertanejo avisa: “o segredo, sendo o único bem que se leva para o túmulo, é também a única herança que se deixa aos que ficam, como você e eu, à espera de um sentido, nem que seja pela suposição do mistério, para acabar morrendo de curiosidade.” (CARVALHO, 2002, p. 7). Herdeiro da desconfiança do narrador moderno em relação à possibilidade de relatos seguros e objetivos, esse narrador contemporâneo a compartilha com o leitor: Mas não me peça o que nunca me deram, o preto no branco, a hora certa. Terá que contar apenas com o imponderável e a precariedade do que agora lhe conto, assim como tive de contar com o relato dos índios e a incerteza das traduções do professor Pessoa. As histórias dependem antes de tudo da confiança de quem as ouve, e da capacidade de interpretá-las. E quando vier você estará desconfiado. (CARVALHO, 2002, p. 8). Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 9‐26, jul./dez. 2010. 21 Para esse leitor “desconfiado” – que também duvida da sensação reconfortante de alcançar uma verdade única – “a ficção [serve] de mitologia, [sendo] o equivalente dos mitos dos índios” (CARVALHO, 2002, p. 96). Ficção e mitologia têm em comum a suspensão dos critérios de falso e verdadeiro, o que se estende na cultura contemporânea para além do campo literário. Nos sistemas culturais midiáticos, a realidade não pode ser entendida como dados objetivos por trás das imagens, mas como o resultado do cruzamento das múltiplas interpretações e versões distribuídas por essas imagens, de modo que a fronteira rigorosa entre fatos e ficções tenderia a se tornar irrelevante ou a desaparecer. As fontes e documentos usados pelo narrador se apresentam de forma ambígua. Quase no final da narrativa, ficamos sabendo que “Manoel Perna não deixou nenhum testamento” (CARVALHO, 2002, p. 135) e que o narrador imaginou a hipotética oitava carta escrita pelo antropólogo antes de se matar, a qual elucidaria o mistério de seu suicídio a um possível investigador. Mesmo as cartas e depoimentos supostamente reais não garantem o acesso à verdade, já que, ao examiná-los, “cada um verá coisas que ninguém mais poderá ver” (CARVALHO, 2002, p. 48) O valor documental das fotografias também é posto em questão: “Na minha obsessão, cheguei a me flagrar várias vezes com a foto na mão, intrigado, vidrado, tentando em vão arrancar uma resposta dos olhos de Wagley, de dona Heloísa ou de Ruth Landes.” (CARVALHO, 2002, p. 32). A partir de pistas apreendidas da leitura de cartas da família de Quain, o narrador tenta entrar em contato com seus sobrinhos através do envio de correspondência a todos os assinantes das listas telefônicas de Chicago, Seattle ou do estado do Oregon com o sobrenome Kaiser. Essa remessa postal, assim como um possível contato com uma produtora de televisão famosa por desenterrar mistérios que ninguém mais conseguia descobrir, são interrompidos “quando dois aviões de passageiros diante dos olhos atônitos de todo o planeta, atingiram e derrubaram as duas torres do World Trade Center” (CARVALHO, 2002, p. 154155). A inclusão no enredo do romance do evento da destruição das torres gêmeas, vivido como espetáculo e fartamente analisado enquanto paradigmático das reversões entre fato e imagem no mundo contemporâneo, reitera a afirmação de que “a realidade seria sempre muito mais terrível e surpreendente do que [se] podia imaginar” (CARVALHO, 2002, p. 157). Diante do inexplicável, resta ao narrador escrever uma ficção. Este também parece ser o destino de certos “fatos”: A ficção começou no dia em que botei os pés nos Estados Unidos. A edição do The New York Times, de 19 de fevereiro de 2002, que distribuíram a bordo, anunciava as novas Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 9‐26, jul./dez. 2010. 22 estratégias do Pentágono: disseminar notícias – até mesmo falsas, se preciso – pela mídia internacional; usar todos os meios para “influenciar as audiências estrangeiras”. (CARVALHO, 2002, p. 158). Embaralham-se as categorias de ficcionalidade e verdade, reservadas, desde a segunda metade do século XVIII, para caracterizar, respectivamente, os processos comunicativos literários e o contexto referencial dos modelos sociais. As ficções avançam para a esfera pública, assim como os dados referenciais imiscuem-se nas narrativas literárias. Podemos ver na frustrada busca pela verdade por parte do narrador jornalista uma crítica à demanda de realidade característica da contemporaneidade: A diluição da fronteira entre a reportagem realista e o romance, entre documento e ficção não conduz aqui a uma ficcionalização da realidade, mas ao reconhecimento da insuficiência do realismo para dar conta da complexidade e das múltiplas facetas e versões da verdade. (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 128). Segundo o próprio autor, em entrevista ao jornal Rascunho, essa demanda de referencialidade foi o que o motivou a escrever Nove noites: “entendi o que as pessoas queriam: história real, livro baseado em história real. Pensei: ‘se é isso que eles querem, é isso que eu vou fazer’. Mas resolvi fazer algo perverso para enganar o leitor, criar uma armadilha.” (CARVALHO, 2007). Examinando o diálogo desses autores com a demanda de referencialidade característica da cultura contemporânea – seja buscando “novos realismos” ou problematizando a eficácia das narrativas realistas de darem conta do real –, procuramos delinear traços de suas figuras autorais e seus projetos estéticos, tecidos tanto na obra que vão construindo, quanto em suas atuações no cenário discursivo dos diferentes media do presente. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANDRADE, Mário de. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. 17ed. São Paulo: Martins; Belo Horizonte: Itatiaia, 1980. ANDRADE, Oswald de. Memórias sentimentais de João Miramar. 14ed. São Paulo: Globo, 2001. ARFUCH, Leonor. O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea. Trad. Paloma Vidal. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 9‐26, jul./dez. 2010. 23 BARTHES, Roland. A morte do autor. In: –––. O rumor da língua. São Paulo/Campinas: Brasiliense/Ed. da Unicamp, 1988. BENJAMIN, Walter. O narrador. In: –––. Obras escolhidas. vol. 1. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. 4 ed. São Paulo: Brasiliense, s/d, p. 197-221 [1936]. CARVALHO, Bernardo. Nove noites. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. –––––. A trama traiçoeira de Nove noites. Entrevista concedida a Flávio Moura. 23 set. 2002. Disponível em: <http://www.eduquenet.net/novenoites.htm>. –––––. Paiol literário. Rascunho, Curitiba, ago. 2007. Disponível em: <http://rascunho.rpc.com.br/index.php?ras=secao.php&modelo=2&secao=45&list a=0&subsecao=0&ordem=1504&semlimite=todos. 01/09/09>. –––––. Caldeirão literário. Entrevista a Miguel Conde, junto com Cristovão Tezza e Milton Hatoum. O Globo, Rio de Janeiro, 4 jul. 2009. DEALTRY, Giovanna. Uma existência no exílio. O Globo, Rio de Janeiro, 19 set. 2009. FOUCAULT, Michel. O que é um autor. 2ed. Lisboa: Vega, 1992. HATOUM, Milton. Dois irmãos. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. –––––. Órfãos do Eldorado. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. –––––. “Estou falando do Brasil”. Entrevista concedida a Miguel Conde. O Globo, Rio de Janeiro, 29 fev. 2008. –––––. A cidade ilhada. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. KLINGER, Diana. Escritas de si, escritas do outro: o retorno do autor e a virada etnográfica. Rio de Janeiro: 7Letras, 2007. NINA, Cláudia. As fronteiras existenciais de Ruffato. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 9 abr. 2005. PESSOA, Fernando. Tabacaria. In: –––. O Eu profundo e os outros eus. 12ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980, p. 256-261. –––––. Quando fui outro. Organizado por Luiz Ruffato. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 9‐26, jul./dez. 2010. 24 RUFFATO, Luiz. Histórias de remorsos e rancores. São Paulo: Boitempo Editorial, 1998. –––––. (os sobreviventes). São Paulo: Boitempo Editorial, 2000. –––––. Eles eram muitos cavalos. 6ed. Rio de Janeiro: Record, 2007 [1ªed.: 2001]. –––––. Entrevista concedida a Luiz Maklouf e Valdir Sanches. 1 mar. 2001. Disponível em: <http://prof.reporter.sites.uol.com.br/rufaentrevista.html>. –––––. Após Eles eram muito cavalos, escritor lança dois romances. Folha de São Paulo, 19 mar. 2005. –––––. Mamma, son tanto felice. Rio de Janeiro: Record, 2005a [Inferno provisório, v. I]. –––––. O mundo inimigo. Rio de Janeiro: Record, 2005b [Inferno provisório, v. II]. –––––. Entrevista. 2005c. Disponível <http://www.record.com.br/entrevista.asp?entrevista=53>. em: –––––. Luiz Ruffato e seu inferno provisório. Entrevista concedida a Ronise Aline. 2005d. Disponível em: <http://www.paralelos.org/out03/000684.html>. –––––. Vista parcial da noite. Rio de Janeiro: Record, 2006 [Inferno provisório, v. III]. –––––. O livro das impossibilidades. Rio de Janeiro: Record, 2008 [Inferno provisório, v. IV]. –––––. Estive em Lisboa e lembrei de você. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. –––––. Luiz Ruffato no Paiol Literário: “Eu não escrevo com a cabeça. Sou um escritor de corpo inteiro”. Rascunho, Curitiba, jan. 2009. Disponível em: <http://rascunho.rpc.com.br>. –––––. Luiz Ruffato e o Amores Expressos. Entrevista concedida a Leandro Oliveira. 4 set. 2009. Disponível em: <http://odisseialiteraria.com>. SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo: Companhia das Letras; Belo Horizonte: UFMG, 2007. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 9‐26, jul./dez. 2010. 25 SCHOLLHAMMER, Karl Erik. Os novos realismos na arte e na cultura contemporânea. In: PEREIRA, Miguel; GOMES, Renato Cordeiro; FIGUEIREDO, Vera Follain de (org.). Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2004, p. 219-229. –––––. Ficção brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. SOUZA, Eneida Maria de. Notas sobre a crítica biográfica. In: –––. Crítica cult. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002, p. 111-120. 26 Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 9‐26, jul./dez. 2010. ESCRITA, TRADUÇÃO e Psicanálise1 Betty Bernardo Fuks2 Para dar início à apresentação da experiência do processo de escrita do livro Freud e a judeidade, a vocação do exílio (Fuks, 2000) e da tradução para o inglês, gostaria de começar contando de que modo foi possível construir uma resposta à espinhosa e recorrente questão das marcas da cultura judaica sobre a psicanálise sem cair no vício, tão comum na literatura especializada, de judeizar a psicanálise, psicanalisar o judaísmo ou erigir uma psicobiografia do pai da psicanálise. Em primeiro lugar, a escolha de permanecer fiel à escuta analítica me levou a ler Freud com Freud, isto é, ler-escutar o que disse e escreveu sobre o tema e acatar seus silêncios foi fundamental aos meus propósitos. Somou-se a este procedimento o fato de ter encontrado no conceito de judeidade, introduzido nos estudos sobre a cultura judaica pelo escritor Albert Memmi (1975), uma ferramenta de trabalho precisa. Diferentemente do termo judaísmo - o conjunto das tradições culturais e religiosas; judeidade (judéité) diz respeito exclusivamente ao fato de sentir-se judeu, ao “modo como cada judeu o é, subjetiva e objetivamente. Trata-se de algo a ser definido e construído, jamais terminado, mesmo que o judaísmo enquanto religião não conte mais para o sujeito. Portanto um devir 1 Este texto tem por base as palestras proferidas na Universidade da Califórnia (UCLA), na New School of Arts (New York) em outubro de 2009 e na associação Speaking of Lacan Psychoanalytic Group (Toronto) em setembro de 2010 por ocasião dos lançamentos do livro Freud and Jewishness, nos Estados Unidos e no Canadá. 2 Betty Bernardo Fuks é professora da Universidade Veiga de Almeida – RJ. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 27‐38, jul./dez. 2010. Devir, de acordo com G. Deleuze ao longo de sua obra, designa uma realidade processual e não simplesmente o processo de transformação de alguma coisa em outra que alcança uma realidade estática um ser final. Portanto, um projeto subjetivo que transgride a simples observância dos modelos do passado, escapa às contingências relativas ao mero nascimento e determina a inserção do sujeito no futuro. Por exemplo, o devir-mulher implica a noção da impossibilidade de um ser final, pois não há A Mulher na qual o sujeito possa se transformar de uma vez por todas, mesmo quando se é mulher. No devir-judeu, o que se coloca é a impossibilidade do ser judeu; isto é, na expressão devir-judeu é preciso colocar a ênfase sobre o devir e não sobre o judeu. Essa não-identidade consigo mesmo evidentemente não é exclusiva da feminilidade ou da judeidade. Mas quem ousará dizer que estas figuras não são paradigmáticas do processo subjetivo de tornar-se outro? Conjeturar sobre o devir judeu de Freud e o que este movimento pode ter trazido à teoria e a prática clínica que inventou me levou, ao final da pesquisa, aquilo que penso ter sido a única via de acesso que moveu a questão inicial: uma arqueologia da cultura do judaísmo na psicanálise só pode aparecer quando e no que esta cultura tenha sido transformada pelo próprio Freud, ao melhor estilo goethiano, segundo a máxima do poeta citada por Freud em Totem e tabu: “Aquilo que herdaste de teus pais, conquista-o, para fazê-lo teu” (Goethe, apud Freud, 1976). O verbo conquistar usado pelo poeta me dirigiu ao cerne da hipótese: O devir judeu de Freud encontrou na psicanálise sua expressão maior como a última expressão da prática do não-idêntico, de desidentificação e do desejo de diferença. Considero que a própria construção da judeidade de Freud afetou diretamente a invenção da psicanálise, quer seja sob o aspecto da marginalidade social de seu inventor, de onde sustentou as resistências à psicanálise, quer sob a forma de um devir-judeu Duas observações feitas pelo próprio Freud que envolvem significativamente a circunstância de ter sido ele, um judeu ateu, quem inventou a psicanálise foram decisiva na minha escolha de ingressar no estudo que resultou na escrita de “Freud e a judeidade.....”. A primeira diz respeito à influência da absorção precoce da história bíblica em sua formação intelectual (Freud, 1976 [1925a]). O fato de pertencer à minoria judaica e ter apreendido com isso a resistir no isolamento, revelou-se também extremamente positivo e fortalecedor em sua luta contra as resistências internas e externas à psicanálise (Freud, 1976 [1925b]). Esta observação adquiriu relevo maior quando me deparei com as inúmeras Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 27‐38, jul./dez. 2010. 28 desterritorializações, êxodos e exílios sofridos pela família paterna de Freud, ao longo de várias gerações, até se fixar na Áustria (Freud, 1976 [1925a]). Tais experiências, que num certo sentido reafirmavam a perspectiva de errância e nomadismo inscrita na historia do povo judeu, atravessam também a história da psicanálise desde antes de sua fundação em Viena até o exílio de seu fundador em Londres. Fazer das dificuldades uma vantagem, um meio de triunfar sobre o sofrimento que, historicamente, o outro impõe ao judeu, foi a recomendação que Freud deu a Max Graff, o pai do Pequeno Hans, na ocasião em que este lhe perguntou sobre a possibilidade de batizar o filho para protegê-lo do antisemitismo. Freud recomenda ao amigo que deixasse o filho crescer como judeu, que não o privasse de aprender a combater como um judeu, e desenvolver a energia necessária para enfrentar o antissemitismo. Não é difícil acompanhar o modo como o próprio inventor da psicanálise desenvolveu esta energia, a partir da experiência que chamou de “splendid isolation: as vantagens e encantos da solidão. Lutar pelo reconhecimento da psicanálise e por um modo de ser judeu que ele inventa significava − nas palavras de que Freud fez uso para dar seu conselho ao pai do pequeno Hans − ter de suportar resistências, buscar “fontes de energias” internas para lhes dar “combate”, aprender a encarar a resistência como “vantagem”, ou melhor, aprender a tirar vantagem ao invés de deixar-se por ela abater. O caso dos judeus como minoria à parte de uma sociedade de iguais remonta ao exílio multimilenar − babilônico no século VI a.C., romano, e finalmente, pós-romano −, que lançou o judeu na experiência da Diáspora. Diáspora significa dispersão: “estar disperso entre os povos, “estar fora de”, ou melhor, “não pertencer a”. Na própria palavra está a ideia da experiência de ruptura que toca os fundamentos da existência do povo judeu. Desde seus primórdios, a posição da psicanálise freudiana na cultura encontra-e muito próxima à do povo judeu: estar sempre em movimento, fora do espaço da maioria, em muitos outros espaços. A invenção freudiana vive no “entre e dois”, frequenta o pais da ciência, arte, da filosofia, da literatura, da religião e do mito. Como homem da diáspora, Freud praticou a estratégia política do entre-dois (in between). Reforçou “alianças espirituais” com colegas judeus e, ao mesmo tempo, exerceu uma política antichauvinista, evitando o perigo de tornar o inconsciente um assunto nacional judaico. Por um lado queria eleger Jung, cristão Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 27‐38, jul./dez. 2010. 29 e filho do pastor, para dirigir o movimento. Por outro, seguiu os impasses do destino judaico frente os paradoxos de um processo social que obrigava a si mesmo e a cada um dos colegas, ter que se pensar como judeu, positiva ou negativamente. O fato é que quando indagavam sobre sua identidade judaica, Freud sempre optou por responder pela retórica do incontido na significação. Embora ele se reconhecesse como judeu no fato de estar constantemente disposto e travar uma luta perpétua com a “maioria maciça” e “homogeneizada,” fosse ela externa ou interna ao próprio judaísmo, paradoxalmente sustentava ser da ordem do impossível definir tal identidade. Mesmo porque defini-la, envolveria negar suas próprias percepções sobre o logro de qualquer identidade. E neste sentido antecipa pensadores como J. Derrida para quem os desconfortos da errância judaica são uma alegoria do próprio movimento da escrita impondo-se como um vir-a ser. Diz o filósofo que na “a identidade do Judeu consigo mesmo talvez não exista. Judeu seria o outro nome da impossibilidade dele ser ele próprio” (Derrida, 1971, p.55). Não é difícil de encontrar as raízes dessa incoerência no Antigo Testamento, um dos arquivos da psicanálise. Algumas narrativas bíblicas dão a impressão de que o nomadismo, tão característico da sociologia e da ética da Tora, não é outra coisa senão a expressão de um êxito sempre refeito. Por exemplo: a história de Abraão, o patriarca do povo judeu, inaugura uma nova noção de exílio que é partida do “ser diante de si mesmo”, uma aprendizagem de Alteridade, isto é, uma experiência de diferença. Para o hebreu, termo cuja significação etimológica é ser de passagem, de ruptura, de transgressão e de transmissão, o existir é devir: no hebraico a ausência do verbo ser no presente, rebate a ideia de transitoriedade embutida na própria raiz da palavra que diz o hebreu. Sabe-se que a psicanálise cria, a rigor, condições para que o sujeito venha a experimentar o que lhe é estranho; dito de outro modo: a invenção freudiana opera uma separação radical do sujeito com relação ao idêntico, a qual termina por conduzi-lo a uma experiência que podemos chamar de “exílio”. Esse exílio consiste em fazer o sujeito buscar − nos desconfortos da repetição e na desconstrução paulatina da própria idolatria (narcisismo do eu e mandatos do supereu) − o encontro com o que há de mais estranho a ele próprio, o face à face com o desconhecido, que envolve o risco de encontro com o impessoal da força pulsional sempre errante, força de todos os tempos e de todos os homens. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 27‐38, jul./dez. 2010. 30 Aproximadamente um ano depois ter seus textos queimados nas fogueiras de Berlin, Freud começa escrever Moisés e o monoteísmo (1939[1934-1939]) um hipertexto, cuja escrita não se presta à captura: múltiplos sentidos — mas não arbitrários — borbulham em suas páginas. Como um enigma, ele se abre para vários níveis de entendimento. Trata-se de um escrito em que Freud reescreve a metapsicologia e o mito do assassinato do pai introduzido em Totem e Tabu em base ao mito de Édipo, a escuta clínica e aos trabalhos de antropólogos e historiadores. O leitor de Moisés pode também ter acesso ao pensamento freudiano sobre a segregação, em especial às reflexões sobre a estrutura religiosa do nazismo que, sob o signo do ódio, fomentava uma cultura de hostilidade mortal ao outro em nome do fortalecimento da identidade nacional. Este é um dos motivos pelo quais Freud insiste, logo no primeiro capítulo, em “destituir um povo do homem que ele celebra como o maior de seus filhos.” (1939 [1934-1939]), p. 29). Pode-se dizer que desconstruindo a figura do profeta Freud, afirmava que o judaísmo é produto de uma construção que se faz através da experiência de estrangeiredade e que se marca pela incompletude. Mas é impossível deixar de reconhecer que trata-se, também, de uma desconstrução que remete à ferida que a psicanálise causou à humanidade, ao anunciar que o eu não é senhor de sua própria casa. Qualquer identidade é efeito da multiplicidade de identificações inconscientes. Moises, o egípcio, inventa o Judeu, então, todo o judeu é um egípcio, isto é, está para alem da raça, da língua e da identidade nacional. Moisés o egípcio introduz uma concepção de Deus cuja presença se define por uma ausência radical e absoluta. Com efeito, o Texto encerra a estranha ideia de um Deus feito de nada, pura ausência: sem nome nem rosto, sem imagem nem essência. A proibição de representar Deus mergulhou a doutrina mosaica numa exigência iconoclasta irreversível, a ética de superação da idolatria. Não é difícil reconhecer a presença desta iconoclastia no pensamento de Freud, quando denuncia os efeitos fetichistas de um mundo gerado pela idolatria do eu fixado no espelho. A construção de Moisés, responde, também, à questão que Freud perseguiu desde Totem e Tabu (1913) , “Como se transmite, de geração em geração uma Herança arcaica” - os traços de memória arrastados pelo fluxo caudaloso do tempo. No texto de 1939, o autor se orienta pela nova concepção de trauma que introduziu a partir do conceito de pulsão de morte e da noção de compulsão a repetição. O monoteísmo judaico e a situação histórica da diáspora ligados por Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 27‐38, jul./dez. 2010. 31 uma cadeia de cortes e de perdas traumáticas impuseram ao judeu uma série de lutos que os obrigaram a traduzir na linguagem da razão o não metabolizável. A transmissão implica nela mesma a impossibilidade de uma continuidade, da imposição de conteúdos. Sua força reside de maneira assombrosamente indireta (1976 [1934-39], p. 119), em sua verdade histórica - relação singular que cada cultura e/ou sujeito é chamada a viver em relação à herança recebida das civilizações/ gerações anteriores -. Neste ponto observa-se que Freud está totalmente implicado na leitura do texto bíblico. Lê o Êxodos como lê o Inconsciente. Sua escrita envolve a responsabilidade de narrar a saga do outro excluído, ampliar e garantir a transmissão dos conceitos teóricos da psicanálise. Como escreveu Michel de Certau (1982, p. 305) pela metáfora, recurso da retórica, varias coisas funcionam no mesmo lugar: não há como separar o Judeu, a Psicanálise e o homem Freud quando se analisa a produção da escrita de Moisés. E com isto, passo ao cerne da argumentação que sustentou minha escrita: os traços de exílio e de êxodo inscritos na história do povo judeu e a prática de leitura-escritura infinita do Antigo Testamento, desempenham papel essencial na descoberta freudiana. Nômade, como as letras hebraicas que se aglomeram no branco de um pergaminho ancestral, os doutores da Lei e os comentadores do Texto ousaram dizer sempre mais do que no Livro aparecia manifesto, tornando-o, desde tempos imemoriais, um território que se prestou ao amplo acolhimento das subjetividades emergentes. Assim, vagando pelo mundo através dos séculos e das gerações com letras e palavras transbordantes de sentidos, o povo judeu soube fazer da interpretação uma prática de deixar às letras a possibilidade de serem letras e de aproveitar os brancos do Texto como uma reserva de sentido sempre disponível para o leitor/intérprete. Esta incessantemente reencetada missão de ler as letras, multiplicar as combinações entre elas, reescrevendo-as num movimento contínuo de construções significantes singulares acerca da origem, do valor e do sentido da vida e da morte, fez com que tanto Freud quanto Lacan designa-se o judeu como aquele que sabe ler. A leitura à letra aproxima a psicanálise do método ancestral de leitura talmúdica. A leitura à letra garante a lei antiidolátrica do segundo mandamento e o ateísmo da escritura. Na transmissão da psicanálise, a pratica de leitura à letra é a guardiã do ateísmo da escrita freudiana garantia de sua reinvenção Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 27‐38, jul./dez. 2010. 32 infinita. E disso, com certeza já sabia Freud, melhor do que ninguém. Basta lembrar que as vésperas de seu êxodo a Londres, dando continuidade à construção de sua judeidade declara aos colegas a intenção de no exílio fazer como o Rabino bem Zakkai que por ocasião da expulsão de Jerusalém pediu licença, em terra estrangeira, para prosseguir a transmissão de uma tradição que não se baseia apenas em obediência cega mas sim na reivindicação de fazer valer um dizer sobre o dito. Sem dúvidas, o desejo explicito de Freud nesta passagem da historia da psicanálise era o de afiançar a transmissão da teoria e prática psicanalítica pelos séculos. Três anos haviam se passado desde o lançamento da edição brasileira do meu livro, quando colegas da Associação Psicanalítica Apré-Coup (Nova York), demonstraram interesse de publicá-lo em inglês. Naquele momento , não poderia imaginar que tamanha hospitalidade imporia a árdua tarefa de aprender a suportar a alteridade do meu texto em terra estrangeira. De fato, a recepção dada à obra pelo leitor brasileiro provocara forte sentimento de estranheza no interior de minha própria língua, o que me obrigava a retornar às hipóteses iniciais, para dizer melhor o que havia escrito e/ou enunciar o que até então não havia enunciado. Quando da edição do livro nos Estados Unidos, juntou-se a estes movimentos o questionamento incessante em torno da tradução e estilos de edição. Reconheço que durante todo o processo de tradução pude apreender melhor o que Derrida descreveu como relações de endividamento recíproco entre o escritor e o tradutor. Minha dívida para com o tradutor, o poeta Paulo Brito, é enorme. Ler e reler o texto, impondo-se o trabalho de traduzi-lo e retraduzí-lo para além dos parâmetros de um simples transporte de significado estáveis, parte integrante da responsabilidade do que este poeta assumiu em transmitir, com absoluta liberdade, o indecidível de minha escrita. A tradução como escritura, inevitavelmente deixa restos. Paulo Ottoni, citando Derrida, comenta que restos são impurezas de cada língua, o que faz com que traduzir seja a um só tempo possível e impossível. “Uma boa tradução nos diz simplesmente isto: há língua, é por isso que se pode traduzir e que não se pode traduzir porque há alguma coisa como língua” (Derrida apud Ottoni 2008, p. 4). Derrida (2002) usou a história bíblica de Babel para ilustrar o double bind da tradução – possibilidade e impossibilidade da escritura como leitura tradutora. Conta o Gênese que a tribo de Shem (palavra que significa nome em hebraico) quis impor uma única língua a todas as tribos da terra, edificando uma torre para Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 27‐38, jul./dez. 2010. 33 atingir os céus. Gritando seu nome Bavel ou Babel, confusamente parecido com a palavra hebraica que significa “confusão”, Deus destrói a torre, estabelece a diferenciação entre as línguas, a dispersão dos povos sobre a terra e condena todos os homens à confusão e à impossibilidade de tradução. Esta maldição impediria, para sempre, o homem de alcançar a tradução perfeita; o que significa a impossibilidade de uma língua única. Em meio às múltiplas interpretações que se pode fazer desta história bíblica sobressai a ideia de que ao enunciar confusamente o tetragrama impronunciável – IHVH – que deu seu nome, Deus deixou o homem condenado à incompletude do trabalho de tradução. Portanto, não será preciso justificar porque os restos produzidos pela tradução do livro do português para o inglês exigiram dos editores americanos, imediata tradução suplementar. Os editores e psicanalistas Paola Mieli e Mark Stafford, não pouparam esforços em retraduzir a tradução-escritura de Britto. Aos poucos ratificaram em ato a ideia de que toda tradução deflagra a existência de diferentes línguas, numa língua. Todo o empenho dos colegas girou em torno do fazer com que a ideia original pudesse ser dita, mais ainda, na edição de língua inglesa. Neste sentido, o titulo da obra em inglês Freud and the Invention of Jewishness (Fuks, 2008), é exemplar: nomeia a ideia que estava latente em minha Tese de Doutorado, mas que só pôde ser formulada após várias retraduções produtivas. Durante todo o processo de edição foi possível manter com os editores o princípio de fidelidade à insuperável diferença e complementaridade das línguas e culturas. Atribuo esse ganho à forte transferência de trabalho sustentada pelo desejo de todos em transmitir a hipótese freudiana da escritura psíquica - o inconsciente. Efetivada, agora, as edições do livro em inglês e espanhol (Editora Siglo XXI, 2005) posso dizer, a posteriori, que uma das razões do êxito do livro, está ligada ao modo como emprego o conceito de judeidade. Como resultado e contra tudo o que se costuma designar, a psicanálise não é uma metáfora do judaísmo e sim o oposto: a judeidade pode ser uma metáfora da psicanálise. Bem diz da experiência de diferença que leva o sujeito em análise, buscar, através da palavra uma designação para aquilo que vindo de fora, está nele mesmo, embora lhe seja estranho. Mas atenção: toda metáfora é parcial, isto é, produz um resto de significação, a judeidade não pode esgotar a função e o campo analítico, embora seja uma belíssima e privilegiada representante. Estimula o analista a pensar, como inseparáveis, a origem e o devir da psicanálise e, com isso, assegurar sua transmissão de modo criativo e original. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 27‐38, jul./dez. 2010. 34 Judeidade e psicanálise e, também, judeidade e tradução. Porque no devir outro da judeidade e no próprio devir da psicanálise encarnam-se certas ideias fundamentais expressadas no conceito de tradução como ato de produção e transformação de significados. Com efeito, a psicanálise como prática de diferença não pode conceber a tradução como transporte de significados de um sistema para outro de maneira estável e consciente. Freud insistia em que o inconsciente apresenta uma pluralidade de sentidos e de vozes que testemunham a sobredeterminação de suas formações. Na verdade esta é a tese defendida em A interpretação dos sonhos, onde o autor faz uma severa critica ao colega W. Stekel pelo fato de pretender reduzir a interpretação psicanalítica a um trabalho meramente exegético, limitando-a à tradução de símbolos oníricos em detrimento das associações do sonhador (Freud, 1900/1976, p. 356). De extrema relevância à reflexão sobre o dispositivo da interpretação no processo analítico, essa critica envolve a linguagem como tradução; o que faz com que justamente muitos autores considerem Freud um dos mais importantes teóricos da tradução (Cf. Ottoni, 2002, p. 2). Minha emoção maior ao viver esta experiência de ter um livro publicado em terra estrangeira, é a de poder afirmar que minha confiança na transmissão da psicanálise, isto é, no futuro da psicanálise, consiste em saber que a crítica do analista, com seus meios específicos, à cultura faz parte da arte de reiventar a prática e a teoria psicanalítica. O analista não pode ignorar que seu ofício estabelece um laço social com o outro, o que significa manter em seu horizonte a subjetividade de sua época e conhecer bem, como proferiu Lacan, “a função de intérprete da discórdia das línguas” (1998, p. 332), a terceira fonte do desconforto humano. Nada poderia ilustrar melhor esta ideia do que evocar uma pequena história de Kafka - O cavaleiro do balde (1917) - escrita na primeira pessoa do presente, cujo ponto de partida uma situação bastante real: a falta de carvão no inverno austríaco assolado pela guerra. O narrador está prestes a morrer congelado. Pega um balde ao pé da “estufa impiedosa” e sai cavalgando neste objeto vazio que chega a erguê-lo à altura do primeiro andar das casas. Sua intenção era a de obter do carvoeiro uma pá cheia de carvão. A carvoaria fica no subsolo e o cavaleiro do balde voa alto demais, tem dificuldades em fazer-se compreender pelo carvoeiro que, em princípio, parecia estar disposto a atendê-lo. No banco da estufa da casa, a carvoeira a tricotar, chega a ouvir o apelo sem se sensibilizar, em nenhum momento pelo sofrimento do outro. Convence o marido de que não há ninguém lá Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 27‐38, jul./dez. 2010. 35 fora e sobe sozinha para o andar de onde vinha a voz suplicante. A mulher tira o avental e espanta o intruso como se estivesse a enxotar uma mosca. Afugentado o cavaleiro kafkiano ascende às montanhas geladas, até se perder para nunca mais. Não seria exagero afirmar que esta narrativa, por si só, garante a seu escritor um lugar privilegiado na fileira dos escritores que melhor disseram poeticamente, o inexprimível da parcela indomável da constituição do psiquismo: a crueldade humana. Numa análise primorosa deste conto, Ítalo Calvino (1988) defende a ideia de que talvez o escritor de Praga, quisesse apenas dizer que sair à procura de um pouco de carvão, numa fria noite em tempo de guerra, se transforma em busca de cavaleiro errante, travessia de cavaleiro nômade pelo deserto. O escritor italiano chama atenção para o fato de que a ideia do balde vazio que eleva o sujeito acima do nível onde se encontra a ajuda alheia, o vazio como “signo de privação, de desejo e de busca, que nos eleva a ponto de nossa humilde oração já não poder ser atendida” (1988, p. 41) é, também, uma figura exemplar para se enfrentar a crise contemporânea da linguagem: sendo o balde vazio signo de uma virtude, a leveza, propõe, que a entrada do terceiro milênio que estava por vir, quando da escrevia estas considerações, pudesse ser feita a cavalo no balde vazio, “sem esperar encontrar neste século nada além daquilo que seremos capazes de levar” (idem). Qual a lição que o analista pode retirar do conto kafkiano e da interpretação que dele fez Calvino? Antes de mais nada, quero dizer a vocês que o Cavaleiro do balde é virtuosamente semelhante ao cavaleiro do cavalo errante do chiste citado por Freud em carta a Fliess, para explicar do que se tratava o Inconsciente. Discorrendo sobre o estado no qual se encontrava A interpretação dos sonhos, Freud escreve: “Meu trabalho foi inteiramente ditado pelo inconsciente, segundo o famoso princípio de Itzig, o cavaleiro dominical: -Para onde estás indo, Itzig? – E eu sei? Não tenho a menor ideia. Pergunte a meu cavalo!” (Masson 1986, p. 320) Ditado pelo inconsciente. Freud apresenta ao dileto amigo, o inconsciente como um cavaleiro que se deixa levar pela força do cavalo errante. Errante, à procura do carvão necessário à escrita do inconsciente, o analista sem esperar encontrar neste século nada além daquilo que pode escutar, encontra na atualidade as mesmas resistências à psicanálise que Freud encontrou em seu tempo, apesar do que a cultura já pôde dela assimilar e banalizar. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 27‐38, jul./dez. 2010. 36 Seria o caso de perguntar mais claramente: o que significa a psicanálise? Por que isto existe? Entre as múltiplas respostas, escolho a que diz que isto existe para que exista a ideia do particular que dá conta do universal. A experiência é o viveiro de nossas descobertas, o balde vazio de Kafka, signo do desejo, de busca pelo outro. E mesmo sendo verdade que depois de Freud, a experiência psicanalítica só pode acontecer se estiver em intima consonância com os conceitos fundamentais da psicanálise, isto não invalida o fato de que os analistas tenham de sempre inventar novos procedimentos para proteger a verdade do sujeito do inconsciente e minorar os avanços da pulsão. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CALVINO, Ítalo. Seis propostas para o próximo milênio. São Paulo. Companhia das letras. 1988. CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro. Forense Universitária, 1982. DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. São Paulo. Perspectiva, 1971. _____. Torres de Babel. Belo Horizonte. UFMG. 2002 FREUD, Sigmund. Interpretación de los sueños. In Obras Completas. Trad. José Luiz Etchverry, Amorrortu Editores, 1976. V. 4 _____. Presentación autobiográfica” (1925a). Op. Cit. V. 10 _____. “Las resistências contra el psicoanálisis” (1925b). Op. Cit. V. 10. _____. “Moisés e o monoteísmo” (1939[1934-1939]). Op Cit. V. 23. FUKS, B.B. Freud e a judeidade: a vocação do exílio. Rio de Janeiro, Zahar. 2000 _____. Freud and the Invention of Jewshness. Nova York. Agincourt Press. 2008. KAFKA, F. O cavaleiro do balde. www.biblioteca.folha.com.br MASSON, J. M. A correspondência completa de S. Freud para W. Fliess, 18871904, trad.Vera Ribeiro. Rio de Janeiro, Imago. 1986. MEMMI, Albert. O homem dominado. Lisboa. Seara Nova. 1975 Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 27‐38, jul./dez. 2010. 37 OTTONI, Paulo. Tradução: reflexões sobre desconstrução e psicanálise. Pulsional Revista de Psicanálise. N. 158. Disponível em HTTP:/www.editoraescuta.com.br/pulsional. 38 Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 27‐38, jul./dez. 2010. POLÍTICAS DA CRÍTICA biográfica Edgar Cézar Nolasco1 Para Eneida, sempre. Para os mestrandos da disciplina Memória e narrativa de 2010. A vida de um homem, única assim como sua morte, sempre será mais do que um paradigma e outra coisa que não um símbolo. E é isto mesmo que um nome próprio sempre deveria nomear. DERRIDA. Espectros de Marx, p. 7. A maior quebra de paradigma da crítica biográfica nessa virada de século foi a inserção da figura do intelectual no ensaio crítico, a presença mesma de sua persona, a ponto de poder-se propor a réplica existo, logo penso ao cogito cartesiano. Discussões de natureza vária saíram das ciências humanas que contribuiram para a guinada que será privilegiada pela crítica do bios, a exemplo do que disse Jacques Derrida em Políticas da amizade (1994), O monolinguismo do outro: ou a prótese de origem (1996) e Da hospitalidade (2003); Michel Foucault, em O uso dos prazeres (1984), O cuidado de si (1984) e Ditos e escritos (2006); e Gilles Deleuze, com Conversações (1992). Já no Brasil as leituras pioneiras sobre a crítica biográfica são de autoria de Eneida Maria de Souza, principalmente com os livros O século de Borges (1999), Pedro Nava: o risco da memória (2004), Tempo de pós-crítica (2007) e o ensaio “Notas sobre a crítica biográfica”, do livro Crítica cult (2002). No rol de autores por mim elencados, merece destaque a trilogia do espanhol Francisco Ortega: Amizade e estética da existência em Foucault (1999), Para uma política da amizade: Arendt, Derrida, Foucault (2000) e Genealogias da amizade (2002). Por fim, quero mencionar o 1 Edgar Cézar Nolasco é professor da UFMS. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 39‐58, jul./dez. 2010. escritor e crítico argentino Ricardo Piglia, por contribuições significativas que se encontram em livros, como O laboratório do escritor (1994), Formas breves (2004) e O último leitor (2006). O campo do bios, ou melhor, da crítica biográfica, é regido por um saber biográfico resultante da inter-relação entre vida, obra e cultura, tanto do sujeito analisando (escritor, artista, intelectual) quanto do analista (crítico, intelectual). Endossa nossa reflexão a afirmativa de Eneida Maria de Souza de que a crítica biográfica é de natureza compósita.2 Tendo por base essa natureza híbrida, rizomática e heterogênea que mina e alicerça o campo variegado da crítica biográfica, este ensaio, para melhor aferir o campo aqui em discussão, propõe duas razões que se complementam, posto que ambas permitem juntas uma leitura circunscrita ao campo da crítica biográfica: razões de princípio e razões do coração. Os termos são de Derrida, mas aqui serão empregados num sentido um pouco diferente. Tais razões são sempre da ordem da lei, do direito, da ética, do compromisso e do amor, e estão sempre relacionadas ao papel e lugar do crítico biográfico. Condenadas que estão, numa primeira instância, a burlar toda ordem de direito e de justiça, essas razões, que sofrem duma ausência de regra, de norma e de critério, pelo menos aparentemente, e que se encontram, por conseguinte, numa situação de fora da lei, unem-se, por uma força de lei,3na tarefa que consiste em inter-relacionar o que é da seara de ambas as razões. Queremos entender que a “irredutibilidade” da justiça ao direito proposta por Derrida em Força de lei pode ser correlata ao que é da ordem de princípio e da ordem do coração. Do campo das razões de princípio, podemos elencar a literatura, o ensaio, a crítica, o valor, a lei, o direito, o documento, a obra, o arquivo, a biografia etc; já do campo das razões do coração, destacamos a escolha pessoal, as imagens, as amizades pessoais, a escolha, a dívida, a transferência, a herança, a recepção, a vida, as paixões, o arquivo, a morte, a experiência, as leituras, a biblioteca, as viagens, os familiares, as fotografias, os depoimentos etc. Talvez reste-nos dizer que se estamos separando as razões, tal separação é somente para contemplar uma 2 SOUZA. Notas sobre a crítica biográfica, p. 111. 3 Faço, aqui, uma alusão direta ao título do livro Força de Lei, de Jacques Derrida, cuja leitura norteia minha reflexão neste ensaio sobre crítica biográfica. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 39‐58, jul./dez. 2010. 40 proposição do próprio ensaio, já que, na elaboração de uma leitura crítica biográfica, essa separação esboroa-se na articulação demandada por esse tipo de crítica. Entre os vários tópicos encontrados nas razões mencionadas, ou que podem a elas serem agregados, mencionaremos de agora em diante aqueles que, de nosso ponto de vista, mais presentes se fazem no campo minado do bios, ou que mais ajudam-nos a elaborar o campo compósito (SOUZA) atinente à crítica biográfica. NUNCA FALO do que não admiro Jacques Derrida faz essa afirmação no momento em que discute “a escolha de sua herança”, ou seja, sua relação com seus amigos, seus precursores, sua dívida com uma tradição. Sobre sua herança, Derrida diz que sempre agiu de forma fiel e infiel ao mesmo tempo. Chega a afirmar que “me vejo passar fugazmente diante do espelho da vida como a silhueta de um louco (ao mesmo tempo cômico e trágico) que se mata para ser infiel por espírito de fidelidade”.4 Postula o filósofo que, apesar de o passado permanecer inapropriável, é preciso fazer de tudo para se apropriar dele. Aproximamos aqui essa apropriação de uma filiação, de uma plêiade de amigos, de uma cultura a serem escolhidos e, por conseguinte, herdados. Não se trata somente de aceitar tal herança escolhida, mas de mantê-la viva no presente. Não escolhemos essa ou aquela herança; antes é ela que nos escolhe, sobrando-nos, apenas, escolher preservá-la viva. Derrida chega ao ponto de amarrar, definir a vida, o ser-em-vida, a uma tensão interna da própria herança. Mantém-se viva a herança por meio de uma filiação, que se assemelha a uma eleição, uma seleção, ou uma decisão. O crítico biográfico escolhe, elege e toma decisão ao mesmo tempo em que é escolhido pelo outro. Nesse contexto, a vida, ou melhor, a palavra “vida”, deve vir sempre entre aspas, alertando-nos de que todo cuidado é pouco. E também porque a vida não seria mais própria, nem mais de um único sujeito, mas uma herança que se herda no presente. “Seria preciso pensar a vida a partir da herança, e não o contrário”, alerta-nos Derrida.5 4 DERRIDA; ROUDINESCO. De que amanhã: diálogo, p. 12. 5 DERRIDA; ROUDINESCO. De que amanhã: diálogo, p. 13. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 39‐58, jul./dez. 2010. 41 Na esteira das proposições do filósofo, des/construir a vida de alguém, tratar dessa vida demoradamente, viver essa vida, não deixa de ser uma declaração amorosa do crítico, onde se inscreve uma admiração, uma dívida impagável, um reconhecimento. Essa relação dá-se atravessada por uma fidelidade à herança, visando sua reinterpretação e reafirmação, as quais não se dão sem uma infidelidade. Se a herança impõe ao crítico biográfico, por exemplo, tarefas contraditórias (como a receber e a escolher a vida de um outro que veio antes e ao mesmo tempo reinterpretar essa vida), isso mostra que ela atesta a finitude do próprio crítico (nossa finitude). Por sermos finitos, estamos condenados, obrigados a herdar, a falar do outro, isto é, a tratar discursivamente daquilo que independe de viver ou de morrer. Nesse sentido, o campo compósito da sobrevida prepara o terreno para o discurso da crítica biográfica. A própria crítica biográfica, enquanto uma responsabilidade designada a falar, ou responder pelo outro, inscreve-se como uma herança, antes mesmo de se ver como responsável por uma herança. O crítico biográfico encontra-se numa condição de duplamente endividado: é responsável pela vida que veio antes de si (pela vida de outrem), da mesma forma que é responsável pela vida que está por vir. Tomar a figura do crítico biográfico como um herdeiro é querer entender que ele não é apenas alguém que recebe, mas é alguém que escolhe, e que se empenha em decidir sobre o outro, sobre a vida do outro e sobre a sua própria vida. A herança, atravessada pela crítica biográfica, demanda a presença de uma fidelidade infiel (Derrida). A figura de um amigo, ou melhor, qualquer amizade, demanda, desde o princípio, uma aliança, um compromisso sem status institucional, reservando o espaço necessário à crítica. Esse espaço já é o lugar onde o crítico habita, trabalha, escreve e ensina, por exemplo. O crítico encontrase nesse espaço e dele demanda a presença do amigo. Um espaço político, por excelência, para fazer alusão ao livro Políticas da amizade, de Derrida, no qual o crítico herda uma herança e o direito de justiça de falar infinitamente dessa herança recebida e escolhida ao mesmo tempo. Por tudo isso, o crítico biográfico padece de uma fidelidade infiel: a fidelidade me prescreve ao mesmo tempo a necessidade e a impossibilidade do luto. Insta-me assumir o outro em mim, a fazê-lo viver em mim, a idealizá-lo, a interiorizá-lo, mas também a não consumar o trabalho de luto: o outro deve permanecer o outro. Ele está efetivamente, atualmente, inegavelmente morto, mas, se o assumo em mim como Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 39‐58, jul./dez. 2010. 42 uma parte de mim e se, por conseguinte, “narcisizo” essa morte do outro por um trabalho de luto consumado, aniquilo o outro, amenizo ou denego sua morte. A infidelidade começa aí, a menos que assim continue e se agrave mais.6 Qualquer discussão, em torno dessa fidelidade infiel, dessa herança, dessa escolha, dessa amizade fiel e infiel, dá-se atravessada por razões de princípio e do coração ao mesmo tempo, pela lei e sua recusa, pela justiça e sua ausência. O mundo semovente e compósito do bios, em parte, estrutura-se aí. O crítico biográfico precisa saber disso. Sendo infiel, mesmo que movido por um espírito de fidelidade, o exercício da herança é uma experiência de uma desconstrução que nunca acontece “sem amor” (Derrida), e essa experiência, por sua vez, começa naquele momento em que se rende uma homenagem àquele a quem a própria experiência (herança) está presa. Nunca falar do que não admira e a herança nunca acontecer sem amor mostram que as relações humanas afetivas (e críticas) são determinadas por uma transferência entre os sujeitos imbricados nessa relação. Nesse sentido, podemos dizer que a política da crítica biográfica resume-se, pelo menos em parte, na tarefa de propor, ou estabelecer, relações transferenciais entre a produção do sujeito analisando, sua vida e a vida do próprio crítico. Em uma abordagem psicanalítica, Susan R. Suleiman assim conceituou transferência: Emaranhamentos entre pessoas, personagens, textos, discursos, comentários e contracomentários, traduções e notas de rodapé e outras notas de rodapé de histórias reais e imaginadas, cenas vistas e contadas, reconstruídas, revistas, negadas; emaranhamentos entre o desejo e a frustração, o domínio e a perda, a loucura e a razão [...] Resumindo numa palavra, amor. Que alguns chamam de transferência. Que alguns chamam de leitura. Que alguns chamam de escritura. Que alguns chamam de écriture. Que alguns chamam de deslocamento [displacement], deslizamento [slippage], fenda [gap]. Que alguns chamam de inconsciente.7 Essa relação amorosa entre pessoas pontuada por Suleiman, na qual histórias vividas e imaginadas se misturam e se fundem, atravessadas ambas pelo desejo, encontra endosso na conceituação que Lacan faz do que entende por transferência. Para ele, segundo Arrojo, “transferência e amor são indistinguíveis”: 6 DERRIDA; ROUDINESCO. De que amanhã: diálogo, p. 192. 7 Apud ARROJO. Tradução, desconstrução e psicanálise, p. 38. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 39‐58, jul./dez. 2010. 43 Considerei necessário defender a ideia da transferência como algo indistinguível do amor, com a fórmula do sujeito suposto saber. Não posso deixar de sublinhar a nova ressonância que essa noção de conhecimento recebe. A pessoa em quem presumo existir conhecimento adquire meu amor [...] Transferência é amor [...] Insisto: é amor dirigido, dedicado ao conhecimento.8 Dessa relação transferencial amorosa instaurada entre eu e o outro, interessa-nos aqui pensar na condição necessária entre o crítico biográfico e o objeto escolhido ou o outro e a vida desse outro. Como aquilo que o crítico biográfico deseja saber da vida do outro analisando está neste outro, e seu trabalho é buscar esse conhecimento, ou seja, aquilo que ele, enquanto analista, não sabe sobre a vida desse outro, então resta ao crítico biográfico pôr-se na condição de sujeito suposto saber: deste lugar, ou condição, ele imagina saber os segredos da vida do outro, inclusive aquilo que o outro mesmo não sabe sobre sua vida. A questão que se impõe nessa relação dá-se em querer saber como separar aquilo que o crítico biográfico “descobre” da vida do outro do que ele ”inventa”, acresce de sua própria vida. Apropriando-nos do que diz Arrojo, mas num sentido meio inverso, diríamos que a descoberta e a interpretação que o crítico biográfico faz da vida do outro sempre trarão algo que precisa ser analisado naquilo que o crítico atribui a essa vida “alheia”, porque o que ele descobre e interpreta na vida do outro é, em última instância, algo que o crítico dessa natureza quer e precisa dizer. É nesse sentido que tratar criticamente sobre a vida de um outro é também uma forma de se encontrar em análise, submetido que está às seduções desse outro, seus caprichos e desejos. Nesse sentido, a materialização do trabalho crítico é o tornar público as consequências dessa relação amorosa envolta a amor e ódio. Mas depois voltaremos à figura do crítico biográfico como aquele que ocupa o lugar do “sujeito suposto saber”. Esse emaranhamento que prende o crítico biográfico à vida de um outro, na tentativa de “descobrir” como se arquiteta a vida alheia, encontra respaldo também no que Derrida entende por desconstrução: Desconstruir um texto [acrescentaríamos uma vida] é revelar como ele funciona como desejo, como uma procura de presença e satisfação que é eternamente adiada. Não se pode ler sem se abrir para o desejo da linguagem, para a busca daquilo que permanece ausente e alheio a si mesmo. Sem um certo amor pelo texto [pela vida], nenhuma leitura 8 Apud ARROJO. Tradução, desconstrução e psicanálise, p. 158-159. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 39‐58, jul./dez. 2010. 44 seria possível. Em toda leitura, há um corps-à-corps entre leitor e texto, uma incorporação do desejo do leitor ao desejo do texto.9 Desconstruir, no contexto aqui usado, não pode ter o sentido de decifrar a vida do outro, mas, antes, revelar a forma como essa vida alheia funciona como um jogo, um desejo do outro (e agora do sujeito crítico envolvido na relação), enfim, a vida como uma procura de algo jamais encontrado e que, ao mesmo tempo, satisfaz o sujeito crítico nessa busca sem objeto definido. O trabalho do crítico biográfico não se resume apenas a um desejo preso à linguagem ensaística, mas também àqueles princípios que são tanto da ordem do coração como da razão, quando se trata da vida de outrem, e, mesmo assim, sempre ficará algo dessa vida que permanecerá ausente do conhecimento do crítico e alheio ao seu domínio enquanto crítico. Com base na passagem mencionada de Lacan, podemos dizer que o outro, o analisando, o biografado, enfim, aquele que se presume existir o conhecimento sobre sua própria vida, adquire o amor do crítico biográfico, permitindo, por conseguinte, que este descubra, “invente” e narre a vida do outro como se fosse, em certo sentido, sua própria vida. Nesse caso, é pelo conhecimento da vida do outro ser sempre “aquilo que desejo no outro”10, ou melhor, por ele ser o que já existe, mas sempre no Outro11, que o crítico biográfico ocupa, sempre, o lugar do “sujeito suposto saber”: aquele que não sabe sobre a vida do outro mas precisa fingir que sabe, para que aí se instaure a descoberta daquilo que nenhum dos dois sujeitos envolvidos na situação críticoanalítica sabiam aprioristicamente. Enfim, é somente ocupando o lugar do “sujeito suposto saber” que está facultado ao crítico biográfico saber o que ele quer e precisa saber sobre a vida do outro (amigo). Na esteira da leitura esclarecedora que Arrojo faz de Derrida, diríamos que não pode haver nenhuma relação entre o crítico biográfico e o sujeito biografado sem a inscrição da imprevisibilidade inerente a um relacionamento de natureza biográfica, “sempre motivado e determinado pelo desejo ─ esse atributo essencialmente humano que marca todas as nossas produções com o desenho de 9 Apud ARROJO. Tradução, desconstrução e psicanálise, p. 157. 10 ARROJO. Tradução, desconstrução e psicanálise, p. 159. 11 Ver ARROJO. Tradução, desconstrução e psicanálise, p. 144. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 39‐58, jul./dez. 2010. 45 nossa própria história”.12 Mais do que o desenho, diríamos que vai se esboçando, em pano de fundo, a história mesma do sujeito crítico. Nessa relação de amizade, recheada de amor e ódio e atravessada por desejos pessoais, ocorre uma ação parricida e protetora ao mesmo tempo: o crítico biográfico deseja tomar posse do lugar e da vida do biografado ao mesmo tempo em que visa a mantê-lo sobrevivo em outro momento histórico (o da recepção crítica). A cada relação proposta pelo crítico biográfico, uma história pessoal alheia é invadida pelo “decifrador de vidas alheias” e, por conseguinte, um “romance familiar” é estabelecido por meio do “intrujão” que usurpa o lugar, o desejo e, às vezes, a vida do outro. É nesse sentido que entendemos que qualquer produção de natureza crítica biográfica é, em algum sentido, a escritura de uma autobiografia (do próprio crítico). Escrever sobre a vida de um outro, se, por um lado, mostra a problemática inerente a esse tipo de crítica do bios, por outro, põe em cena uma briga restrita à questão autoral sobre quem tem direito de e sobre a vida do outro. Nesse campo minado por relações sempre perigosas, onde se demandam e se dramatizam as relações imbricadas, a presença do crítico biográfico torna-se uma exigência mais do que necessária, posto que é ele quem “assina o que eu [o analisando biografado] digo e o que escrevo” (Derrida), uma vez que a assinatura somente pode ocorrer “no lado do destinatário”: A assinatura de Nietzsche não ocorre quando ele escreve. Ele diz claramente que ela ocorrerá postumamente, em consequência da linha de crédito infinita, que ele abriu para ele mesmo, quando o outro vem assinar com ele, se aliar a ele e, para que possa fazer isso, escutá-lo e compreendê-lo. Para escutá-lo, tem que se ter um ouvido aguçado. Em outras palavras, [...] é o ouvido do outro que assina. O ouvido do outro fala de mim para mim e constitui o autor de minha autobiografia. Quando, muito mais tarde, o outro terá percebido com um ouvido suficientemente aguçado o que eu terei dirigido ou destinado a ele ou a ela, aí minha assinatura terá ocorrido.13 O que Derrida afirma sobre a autobiografia de Nietzsche vale para pensar o lugar do crítico biográfico enquanto o outro, o destinatário, aquele, enfim, que assina pelo biografado. Na esteira do que diz o filósofo, podemos afirmar que a assinatura do biografado somente acontece quanto o crítico biográfico escreve sobre a vida desse outro, num gesto sempre a posteriori. Nesse sentido, a escrita 12 ARROJO. Tradução, desconstrução e psicanálise, p. 129. 13 Apud ARROJO. Tradução, desconstrução e psicanálise, p. 67. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 39‐58, jul./dez. 2010. 46 biográfica é, em certa medida, sempre póstuma e epitáfica: como póstuma, seria aquela que nasceu depois da morte do pai, do autor (biografado), justificando, por conseguinte, a briga autoral que se instaura entre o crítico biográfico e o outro. Como inscrição do epitáfio, está-se sempre, de algum modo, tecendo elogios breves mas ininterruptos a um corpo morto, uma vida consignada que se exuma. Quase sempre notada de uma intenção poética, presta homenagem a um morto como se estivesse vivo, podendo ocorrer também o contrário: trata de um vivo como se estivesse morto. Póstuma ou epitáfica, em ambos os casos o que retira a escrita biográfica dessa condição de post mortem é o fato de ela ser sempre da ordem da sobrevida. Nem pós-morte, nem pós-vida, a escrita biográfica deixa sempre a ideia de uma escrita póstera, que ainda vai acontecer, da ordem de um post-scriptum. A linha de crédito infinita, que o escritor, que o artista de um modo geral, deixa aberta para si mesmo, é a porta de entrada pela qual passa, mais tarde, o crítico biográfico para, depois de escutar e compreender a vida desse outro, assinar a vida alheia. Já sua vida, como crítico biográfico, será assinada somente muito mais tarde por um outro. Mais do que um bom entendedor, o crítico biográfico precisa ser um bom escutador, porque é por meio de sua escuta que ele assina a biografia do outro. Quer seja no caso do biógrafo, quer seja no caso do sujeito biografado, sempre “é o ouvido do outro que assina”. Como explica Derrida, “o ouvido do outro fala de mim para mim e constitui o autos de minha autobiografia.” Na direção do que afirma o filósofo, podemos dizer que à medida que o crítico biográfico escreve a biografia do outro, constrói-se, simultaneamente, sua própria autobiografia. É por meio dessa textualidade entre vidas própria e alheia, entre textos de si, entre desejos comuns, é por meio do ouvido sempre afiado que o crítico biográfico deve ter que, à medida que ele escuta e escreve sobre a vida do outro, esse mesmo ouvido denuncia o “parentesco indissolúvel” entre as vozes e as vidas diferentes dos amigos que se encontram atravessados por essa relação transferencial e desejante. Não é por acaso que, para Derrida, todo texto [e aqui acrescentaríamos toda vida] responde a essa estrutura. É a estrutura da textualidade em geral. Um texto é assinado apenas muito mais tarde pelo outro. E essa estrutura testamentária não acontece a um texto como que por acidente, mas o constrói. É assim que um texto acontece.14 14 Apud ARROJO. Tradução, desconstrução e psicanálise, p. 67. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 39‐58, jul./dez. 2010. 47 Queremos postular a ideia de que a escrita de e sobre uma vida acontece devido a essa textualidade feita da sobreposição de vidas e de assinaturas, interesses e desejos comuns, onde papéis autorais são trocados por conta de brigas nem sempre declaradas. Nessa relação onde se instaura um “parentesco indissolúvel”, onde há uma linha de crédito infinita, bem como uma história de um débito nunca quitado, onde remetentes e destinatários oscilam de papéis, um “empréstimo” liga o devedor (o crítico biográfico) àquele de quem tomou emprestado (o biografado). Aliás, como afirma Derrida, “o empréstimo é a lei”: Sem tomar emprestado, nada começa, não há fundos adequados. Tudo começa com a transferência de fundos e há juros ao se tomar emprestado [...] Tomar emprestado lhe dá um retorno, produz mais-valia, é o principal agente de todo investimento. Sempre se começa, portanto, com uma especulação, apostando-se num valor para se produzir como se fosse a partir do nada. E todas essas metáforas confirmam, como metáforas, a necessidade do que dizem.15 A relação transferencial na qual se encontra o crítico biográfico permite a ele tomar emprestado tudo o que lhe interessa da vida do biografado. Se tomar emprestado da vida do outro, por um lado, gera um juro impagável, por outro, permite a instauração de um fundo sólido textual e culturalmente falando que, depois de tornado público, resulta na produção intelectual do crítico biográfico, o que equivale ao retorno, à mais-valia, enfim, ao resultado final de um investimento iniciado por uma mera especulação. Na verdade, o que a crítica biográfica faz é especular, no sentido derridaiano do termo, sobre a “história interminável” da construção de um nome, sobre uma vida por vir, na tentativa de “recontar um contar impossível, a história de um débito e de uma culpa inevitáveis”.16 Nesse recontar crítico, o crítico biográfico aposta no que não sabe, no que não conhece sobre a vida do outro, mas que precisa supor saber para, assim, construir narrativamente a vida desse outro. Parodiando o final da passagem derridaiana acima, diríamos que é somente metaforicamente que o crítico biográfico aproxima-se e apropria-se da vida do outro: o crítico biográfico, como um “especulador”, especular e metaforicamente ocupa o lugar do 15 Apud ARROJO. Tradução, desconstrução e psicanálise, p. 110. 16 DERRIDA. Cartão-postal, p. 416. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 39‐58, jul./dez. 2010. 48 “legatário” e de forma especular ─ sobrevida17 narra essa vida para além da morte da vida. Como se vê, o que fascina o crítico biográfico enquanto especulador da vida do outro é o que essa vida tem de inconcebível: essa vida alheia se impõe ao crítico biográfico no momento de escrever (e nesse momento ela é “questão da vida da morte, de prazer-desprazer e de repetição”), obrigando-o que ele elabore para si e para o outro essa vida/conceito inconcebíveis. Uma vida alheia, um conceito inconcebível, uma produção biográfica da ordem do indecidível. Sobrevida. VIVER É APRENDER a morrer O conceito de sobrevida de Derrida é sumamente necessário para a articulação proposta pela crítica biográfica, sobretudo porque propõe uma discussão que se dá para além da dualidade hierárquica vida e morte. Na direção do que defende o filósofo, podemos afirmar que a escrita ensaístico-ficcional, que ancora a crítica biográfica, não seria, pois, “nem a vida nem a morte” do texto da vida/morte do biografado, mas, antes, sua “sobrevivência, sua vida após a vida, sua vida após a morte”.18 Em entrevista concedida, intitulada “Estou em guerra contra mim mesmo”, Derrida diz que sempre se interessou pela temática da sobrevida, “cujo sentido não se acresce ao fato de viver e ao de morrer. Ela é originária: a vida é sobrevida. Sobreviver no sentido corrente quer dizer continuar a viver, mas também viver depois da morte”.19 Nessa direção proposta pelo 17 Faço aqui referência ao título do livro de Derrida Especular - sobre “Freud.” “O especulador deve assim sobreviver ao legarário, e essa possibilidade está inscrita na estrutura do legado e até mesmo nesse limite da auto-análise, cujo sistema sustenta a escritura um pouco como um caderno quadriculado. A morte precoce e, logo, o mutismo do legatário que nada pode contra isso, eis uma das possibilidades do que dita e faz escrever” (DERRIDA. O cartão-postal, p. 339). Sobre o conceito e a palavra “especulação”, Derrida é levado a se perguntar: “O que fazer com esse conceito inconcebível? Como especular com essa especulação? Por que ela fascina Freud, sem dúvida de modo ambíguo, porém irresistível? O que é que fascina sob essa palavra? E por que ela se impõe no momento em que é questão da vida da morte, de prazer-desprazer e de repetição?” (DERRIDA. O cartão-postal, p. 306). 18 Apud ARROJO. Tradução, desconstrução e psicanálise, p. 78. 19 DERRIDA. Estou em guerra contra mim mesmo. In: MÁRGENS/MARGENES, p. 13. (Grifos do autor) Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 39‐58, jul./dez. 2010. 49 filósofo, podemos dizer que o biografado continua a sobreviver, mesmo depois de morto, na biografia crítica que se esboça no trabalho da crítica biográfica. Com base no que diz Derrida, podemos dizer também que o biografado sobrevive não só à sua morte, mas à sua obra, assim como um livro sobrevive à morte de seu autor. Depois de afirmar que a sobrevida não deriva nem de viver nem de morrer, conclui Derrida que “todos os conceitos que me ajudaram a trabalhar, sobretudo o de rastro ou de espectral, estavam ligados a ‘sobreviver’ como dimensão estrutural”.20 A sobrevida, em Derrida, está muito presa à herança e, por sua vez, à uma plêiade de amigos que, de uma forma bastante única, marcou a vida do sujeito para sempre. É nesse sentido que um ethos da sobrevida se inscreve no rol das razões, antes mencionadas, que, de alguma forma, estruturam a reflexão na qual se assenta o campo da crítica biográfica. Toda a política da amizade que se desenha em torno da vida de um sujeito parece advir (devir) dessa condição de sobrevida. Mais adiante nos deteremos especificamente nessa questão em torno da amizade. “Estou em guerra contra mim mesmo”, se, por um lado, mostra uma condição pessoal na qual se encontra o homem Jacques Derrida, por outro, também reforça a ideia de que, para todo o projeto da desconstrução do filósofo, a sobrevida não é simplesmente o que resta, é a vida mais intensa possível.21 Também em Torres de babel Derrida detém-se na questão da sobrevida. Ali, o autor centra-se na tarefa do tradutor, via Benjamin. Aqui, podemos dizer que a figura do crítico biográfico é correlata à do tradutor, na medida em que ambos encontram-se na condição de “sujeito endividado, obrigado por um dever, já em situação de herdeiro, inscrito como sobrevivente dentro de uma genealogia, como sobrevivente ou agente de sobrevida”.22 A condição de herdeiro endividado do crítico biográfico o obriga a ter que tratar das obras e da vida do outro, inclusive, e aqui diferente da tarefa do tradutor, da condição autoral do outro. Ao discutir a tarefa do tradutor, Derrida transcreve esta passagem de Benjamin: Da mesma forma que as manifestações da vida, sem nada significar para o vivo, estão com ele na mais íntima correlação, também a tradução procede do original. Certamente menos de sua vida que da sua ‘sobrevida’ (‘Uberleben’). Pois a tradução vem depois do 20 DERRIDA. Estou em guerra contra mim mesmo. In: MÁRGENS/MARGENES, p. 13. 21 Cf DERRIDA. Estou em guerra contra mim mesmo. In: MÁRGENS/MARGENES, p. 17. 22 DERRIDA. Torres de babel, p. 33. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 39‐58, jul./dez. 2010. 50 original e, para as obras importantes, que não encontram jamais seu tradutor predestinado, no tempo de seu nascimento, ela caracteriza o estado de sua sobrevida [Fortleben, desta vez, a sobrevida como continuação da vida mais que como vida post mortem]. Ora, é na sua simples realidade, sem metáfora alguma [in vollig unmetaphorischer Sachlichkeit], que é preciso conceber para as obras de arte as ideias de vida e de sobrevida (Forleben).23 Na esteira do que propõe Benjamin, compete, entre as tarefas que são da responsabilidade do crítico biográfico, saber que as manifestações da vida do biografado se, por um lado, em nada possam interessar ao biografado, apesar da íntima correlação entre as manifestações e sua vida, por outro lado, podemos dizer que tais manifestações interessam sobremaneira ao crítico biográfico, sobretudo porque quase tudo que é do estofo dessa crítica advém de um “original”, mesmo que alheio/não comprovável em sua essência, denominado vida. Como a (na) tradução, interessa mais à crítica biográfica aquilo que advém mais do campo da sobrevida que da vida mesma. Como a uma tradução, a leitura crítica biográfica vem depois da vida original, e essa sua condição de a posteriori, uma vez que a figura de um crítico biográfico predestinado e ideal não existe, permite que ela seja, ou ocupe o lugar de “sobrevida” daquela vida original. Mais nesse sentido, mas pensamos em todos os sentidos, o que propõe a crítica biográfica é sempre uma continuação daquela vida (que volta). Quando Benjamin diz que é preciso tomar as ideias de vida e de sobrevida sem metáfora alguma, queremos entender que o que é da ordem da “sobrevida” excede a vida e esbarra no espírito e sobretudo no histórico. Nesse sentido, Derrida reitera que Benjamin “convoca a pensar a vida a partir do espírito ou da história e não a partir apenas da ‘corporalidade orgânica’”: É reconhecendo mais a vida em tudo aquilo que tenha história, e que não seja apenas teatro, que se faz justiça a esse conceito de vida. Pois é a partir da história, não da natureza [...] que é preciso finalmente circunscrever o domínio da vida. Assim nasce para o filósofo a tarefa (Aufgabe) de compreender toda vida natural a partir dessa vida, de mais vasta extensão, que é aquela da história.24 Pensar, compreender a vida do outro a partir do espírito ou da história, é tomar a sobrevida como aquele momento no qual a “vida” existe para além da 23 Apud DERRIDA. Torres de babel, p. 32. 24 Apud DERRIDA. Torres de babel, p. 32. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 39‐58, jul./dez. 2010. 51 vida ou da morte. É com base nesse mundo da sobrevida, que se circunscreve tendo em pano de fundo a história, o espírito e as obras, que se desenha o único conceito de vida que interessa à crítica biográfica. Nesse sentido, qualquer domínio que o crítico biográfico venha a ter da vida do outro (do biografado) passa pela compreensão histórica dessa vida. Como a um tradutor de vidas alheias, aí reside a tarefa de todo crítico biográfico. Há pouco falávamos do crítico biográfico como um sujeito endividado. Tal endividamento dá-se, não entre textos, como na tradução, mas entre vidas: a vida original do biografado e a vida do biógrafo. “O original é o primeiro devedor, o primeiro demandador, ele começa por faltar”, adverte-nos Derrida. Por trás desse endividamento está a lei estrutural da transferência, um “duplo bind” que liga as duas vidas pelos nomes (assinatura), que permite que a vida original de um sobreviva e se transforme na do outro. Viver é aprender a morrer dialoga com a velha injunção filosófica platônica “filosofar é aprender a morrer”, mencionada por Derrida em “Estou em guerra contra mim mesmo”. O filósofo diz acreditar nessa verdade sem a ela se entregar inteiramente. Sobre o aprender a viver, confessa que nunca aprendeu a viver, e que “aprender a viver deveria significar aprender a morrer, a levar em conta, para aceitá-la, a mortalidade absoluta”.25 Estou em guerra contra mim mesmo pode ser o lugar, ou melhor, a condição na qual o sujeito (Derrida) se encontra entre o sobreviver à morte e o continuar a viver. Derrida abre seu livro Espectros de Marx exatamente se perguntando sobre quem sabe, quem pode dar lição sobre o aprender a viver: “aprender a viver, aprender por si mesmo, sozinho, ensinar a si mesmo a viver (‘eu queria aprender a viver enfim’) não é, para quem vive, o impossível?”26 Uma política da vida, da memória, dos fantasmas e dos espectros, da herança e das gerações ronda “o mundo fora dos eixos” que constitui o campo da sobrevida perseguido pela filosofia de Derrida. Talvez seja atravessada por essa política da vida que, em Derrida, a amizade (philía) começa pela possibilidade de sobreviver: “sobreviver é então ao mesmo tempo a origem e a 25 DERRIDA. Estou em guerra contra mim mesmo. In: MÁRGENS/MARGENES, p. 13. 26 DERRIDA. Espectros de Marx, p. 10. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 39‐58, jul./dez. 2010. 52 possibilidade, a condição de possibilidade da amizade, é o acto enlutado do amar. Este tempo do sobreviver dá assim o tempo da amizade”.27 POLÍTICAS DA CRÍTICA biográfica Não se pode amar sem se estar vivo e sem saber que se ama, mas pode amarse o morto ou o inanimado que assim nunca o saberão. É mesmo pela possibilidade de amar o morto que uma certa amância vem a decidir-se. DERRIDA. Políticas da amizade, p. 24. Chegamos, assim, ao livro Políticas da amizade, cujo título serviu-nos para pensar, desde o começo, as políticas que se armam no entorno das discussões sobre a crítica biográfica. Não é demais lembrar que esse livro de Derrida, que a história da filosofia nos legou no século XX, é o que temos de melhor não somente sobre a história da amizade no Ocidente, como também a reflexão mais cabal sobre a política no mundo moderno dito democrático. Não nos convêm, aqui, arrolar todos os adjetivos que qualificam o livro como tal, obrigando, inclusive, que qualquer crítico, seja o da crítica biográfica ou não, o insira no rol de suas leituras políticas contemporâneas. Da perspectiva da crítica biográfica, sobressaem, de nosso ponto de vista, duas considerações que se impõem quando a discussão se pauta nas relações de amizade: uma dá-se sobre a conceituação da fraternização e as relações nela imbricadas, com a democracia, família, irmão etc. Ao se perguntar por que seria o amigo como um irmão, Derrida diz que “sonhamos, nós, com uma amizade que se eleva para além desta proximidade do duplo congênere. Para além do parentesco, tanto do mais como do menos natural, quando ele deixa a sua assinatura, desde a origem, tanto no nome como no duplo espelho de um tal par. Perguntemo-nos então o que seria a política de um tal ‘para além do princípio de fraternidade’”.28 Resumindo, de forma brevíssima a questão, o amigo não estaria para o irmão, justificando, por conseguinte, que a crítica biográfica que leva em conta a questão fraternal pode estar propondo um engodo no livre-arbítrio das relações (humanas) intelectuais que ela estabelece na cultura. Nesse sentido, a política da crítica biográfica teria muito a aprender com as 27 DERRIDA. Políticas da amizade, p. 28. 28 DERRIDA. Políticas da amizade, p. 10. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 39‐58, jul./dez. 2010. 53 políticas da amizade propostas pelo filósofo, sobretudo no tocante às relações fraternais demais que, quase sempre, escamoteiam o político que subjaz em toda amizade e em toda crítica de natureza biográfica. Francisco Ortega, ao discutir a política da amizade proposta por Derrida, mostra a diferença entre a amizade e a fraternidade: “a amizade exprime mais a humanidade do que a fraternidade, precisamente por estar voltada para o público. Ela é um fenômeno político, enquanto a fraternidade suprime a distância dos homens, transformando a diversidade em singularidade e anulando a pluralidade”.29 A outra consideração que interessa sobremaneira à crítica biográfica referese à “boa amizade” que, segundo Derrida, supõe a desproporção: exige uma certa ruptura de reciprocidade ou de igualdade, e também a interrupção de toda a fusão ou confusão entre tu e eu. [...] A ‘boa amizade’ não se distingue da má senão ao escapar a tudo quanto se acreditou reconhecer sob o mesmo nome de amizade. [...] A boa amizade nasce da desproporção: quando se estima ou respeita o outro mais do que a si mesmo. O que não quer dizer, precisa Nietzsche, que se o ame mais do que a si mesmo [...]. A ‘boa amizade’ supõe, claro, um certo ar, um certo toque de ‘intimidade’, mas uma intimidade sem ‘intimidade propriamente dita’.30 A “boa amizade” proposta por Derrida demanda uma política da amizade da “boa distância”. Na verdade, é essa política da “boa distância” que vai permitir à crítica biográfica estabelecer relações de fundo metafóricas entre autores e obras, por exemplo. Por todo o decorrer deste ensaio, falamos das relações transferenciais (amorosas), mas, por nenhum momento, sequer mencionamos a palavra “intimidade”. No caso específico da crítica biográfica, o crítico precisa saber manter uma “boa distância” dupla: uma, quando estabelece comparações ou aproximações entre os objetos estudados e/ou autores. A outra, manter a devida distância entre o sujeito biografado e o próprio crítico. As vidas se complementam na diferença. O que diz Ortega é esclarecedor para pontuar a relação entre o crítico biográfico e o biografado: “é preciso aprender a cultivar uma ‘boa distância’ nas relações afetivas, um excesso de proximidade e intimidade leva à confusão, e somente a distância permite respeitar o outro e promover a sensibilidade e a delicadeza necessárias para perceber sua alteridade e 29 ORTEGA. Para uma política da amizade: Arendt, Derrida, Foucault, p. 31. 30 DERRIDA. Políticas da amizade, p. 74. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 39‐58, jul./dez. 2010. 54 singularidade”.31 Nietzsche, em Humano, demasiado humano, já advertia que “a boa amizade surge quando nos abstemos prudentemente (weislich) da intimidade propriamente dita e da confusão do eu com o tu”.32 Na esteira do que postula Ortega, diríamos que compete ao crítico biográfico, sobretudo na cultura contemporânea dominada pela “tirania da intimidade”, preservar um ethos da boadistância quando põe sub judice a vida do outro. Da desconstrução da amizade fraternal e clássica, como faz Derrida por todo o livro, emerge um novo tipo de amizade que é da ordem do impossível, por constituir a experiência mesma do impossível. Três elementos conceituariam essa amizade: a inconstância, a imprevisibilidade e a instabilidade.33 Tais adjetivos seriam da ordem das relações, mas devem ser também da parte do próprio crítico biográfico, isto é, seu trabalho estrutura-se nesse campo atravessado pelo inconstante, pelo imprevisível e pelo instável. Como a amizade, a crítica biográfica assim articulada está aberta para o acontecimento, para o novo, para a invenção e para a experimentação. A crítica biográfica como um exercício do político constitui uma nova forma de ler as relações pessoais, sociais e culturais de modo crítico diferente. Sobretudo por estar baseada no cuidado e na preservação da boa-distância que precisa ser mantida. Em vista disso, o crítico biográfico aceita o desafio de pensar as relações de amizade para além das amizades propriamente ditas, do bios para além do bios, mesmo que esteja condenado a passar, primeiro, por esse bios, pouco importando que esse seja seu ou do outro. Para fechar a discussão, pelo menos por enquanto, valemo-nos de uma pergunta conclusiva da qual Derrida se faz, quase ao final de Políticas da amizade: “a pergunta ‘O que é a amizade?’, mas também ‘quem é o(a) amigo(a)? não é outra que a questão ‘O que é a filosofia?”34, para nos perguntar: O que é a crítica biográfica? A resposta pode ser da ordem do impossível. Mas qualquer 31 ORTEGA. Para uma política da amizade: Arendt, Derrida, Foucault, p. 82. 32 Apud ORTEGA. Para uma política da amizade: Arendt, Derrida, Foucault, p. 82. 33 Ver ORTEGA. Para uma política da amizade: Arendt, Derrida, Foucault, p. 83. 34 DERRIDA. Políticas da amizade, p. 245. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 39‐58, jul./dez. 2010. 55 reflexão crítica de natureza biográfica passa por razões que são da ordem de princípio e do coração, como dissemos logo de início. REFERÊNCIAS ARROJO, Rosemary. Tradução, desconstrução e psicanálise. Rio de janeiro: imago Ed., 1993. DERRIDA, Jacques. Espectros de Marx: o estado da dívida, o trabalho do luto e a nova internacional. Trad. de Anamaria Skiner. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. DERRIDA, Jacques. Torres de babel. Trad. de Junia Barreto. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002. DERRIDA, Jacques. Políticas da amizade. Trad. de Fernanda Bernardo. Porto: Campo das letras, 2003. DERRIDA, Jacques. O Cartão-postal: de Sócrates a Freud e além. Trad. de Simone Perelson e Ana Valéria Lessa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. DERRIDA, Jacques. In: Revista de Cultura Margens/Márgenes, n.5, jul.-dez., 2004, p. 12-17: “Estou em guerra contra mim mesmo” DERRIDA, Jacques, ROUDINESCO, Elisabeth. De que amanhã: diálogo. Trad. de André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004. NOLASCO, Edgar Cézar. Restos de ficção: a criação biográfico-literária de Clarice Lispector. São Paulo: Annablume Editora, 2004. NOLASCO, Edgar Cézar; BESSA-OLIVEIRA, Marcos Antônio (Org.). A reinvenção do arquivo da memória cultural da América Latina. São Carlos: Pedro & João Editores, 2010. ORTEGA, Francisco. Para uma política da amizade: Arendt, Derrida e Foucault. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000. RODRIGUES, Valéria Aparecida, NOLASCO, Edgar Cézar. In: GUERRA, Vânia Maria Lescano, NOLASCO, Edgar Cézar (org.) Formas, espaços, tempos: Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 39‐58, jul./dez. 2010. 56 reflexões linguísticas e literárias. Campo Grande: Editora UFMS, 2010, p. 41-64: O bios nas fábulas de Clarice Lispector. SOUZA, Eneida Maria de. Notas sobre a crítica biográfica. In: Crítica cult. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002, p. 111-121. 57 Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 39‐58, jul./dez. 2010. 58 Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 39‐58, jul./dez. 2010. CRÍTICA BIOGRÁFICA, ainda1 Eneida Maria de Souza2 A estreita e bem humorada relação entre obra e vida, teoria e ficção se deve ao depoimento de Richard Rorty, filósofo pragmático americano, falecido em 2007. Confessou, em texto publicado na Folha de S. Paulo, que sofria do mesmo mal de Jacques Derrida, o câncer no pâncreas. Segundo Rorty, a coincidência era tributária da excessiva leitura que ambos faziam de Hegel, o vício intelectual visto como a causa do mal. A doença é diagnosticada, no entender do filósofo, pela escolha profissional do paciente e pela leitura de determinado autor, não havendo, portanto, separação entre vida e trabalho. A justificativa se apóia na inversão da causa física da doença pela profissional, pela criação do mal pelo próprio indivíduo, graças à sua formação e desejo intelectual. Rorty, filósofo pragmático e um dos seguidores da difícil obra de Hegel, morre, como Derrida, daquilo que viveu, de sua paixão pelo conhecimento e por uma particular forma de saber. A declaração de Rorty, à primeira vista dotada de efeito humorístico, é capaz de suscitar reflexões que iluminam a questão biográfica e a aproxima do livro de Michel Schneider, Mortes imaginárias.3 São aí escritos e encenados os últimos momentos e as prováveis frases pronunciadas por alguns escritores, assim como a situação, o lugar ou as condições de sua morte. Esse exercício teórico/ficcional remete ao fascínio biográfico motivado pela vida literária e a sensível aproximação entre teoria e ficção. 1 Cf. artigo de minha autoria, “Notas sobre a crítica biográfica”. In: Crítica cult. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. Este ensaio dá continuidade à reflexão ali iniciada. 2 Eneida Maria de Souza é professora Emérita da UFMG. 3 SCHNEIDER, Michel. Morts imaginaires. Paris: Grasset, 2003. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 59‐66, jul./dez. 2010. É digna de nota a pesquisa pioneira de Susan Sontag a respeito das doenças e suas metáforas, como a tuberculose, o câncer e a Aids. Descrevendo as moléstias entre as que eram aceitas e as excluídas pela sociedade, estabelecendo a relação entre arte e vida, contribui do ponto de vista social, cultural e político para o avanço das discussões sobre a crítica biográfica. A utilização da metáfora para a discriminação das doenças na sociedade funciona de forma negativa, ao servir como reforço ao preconceito e à exclusão. Reelabora, assim, conceitos arraigados e como resultado de crenças e superstições, como a culpa, a vitimização e a irresponsabilidade social atribuídas aos pacientes.4 A metáfora literária, utilizada como mediação por escritores para justificar a vocação pela vida intelectual, tem em Roland Barthes um dos exemplos mais bem sucedidos. Em Roland Barthes por Roland Barthes, a legenda que registra a foto do escritor ainda criança, “Contemporâneos?”, enlaça seu destino ao de Proust, pela relação entre seus primeiros passos e o término da Busca. A contemporaneidade é construída no presente, ao ser conferida à criança um passado literário: “Contemporâneos?/Eu começava a andar, / Proust ainda vivia e/terminava a Busca.”5 Silviano Santiago se vale igualmente dessa metáfora para construir relatos pseudo-autobiográficos, utilizando-se da data de seu nascimento, 1936, para apontar aí coincidências entre eventos vividos por escritores de sua predileção, como Graciliano Ramos e Antonin Artaud.6 O destino literário é marcado por injunções biográficas, pela escolha de precursores que garantam a entrada do escritor no cânone. Entende-se, portanto, a concepção de biografia intelectual como resultado de experiências do escritor não só no âmbito familiar e pessoal, mas na condensação entre privado e público. As datas recebem tratamento alegórico e a história pessoal se converte em ficção, pela intromissão do outro na narrativa. 4 Cf. SONTAG, Susan. A doença e suas metáforas. São Paulo: Graal, 1984; A aids e suas metáforas. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 5 BARTHES, Roland. Roland Barthes por Roland Barthes. Tradução de Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Estação Liberdade, 2003, p. 35. 6 SANTIAGO, Silviano. Em liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.; Viagem ao México. Rio de Janeiro: Rocco, 1995. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 59‐66, jul./dez. 2010. 60 É importante, enfim, assinalar a contribuição de teóricos latino-americanos para a leitura pós-colonial do gênero autobiográfico, na qual são introduzidas cenas que remetem ao ato de leitura dos escritores. O livro, a leitura, a pose do leitor assumem significado semelhante à iniciação do sujeito na escrita, gesto não apenas individual e particular, mas cultural. Nesse sentido, os relatos autobiográficos giram em torno da experiência do leitor latino-americano em relação ao arquivo europeu, promovendo distorções e leituras desencontradas, com o objetivo de desconstruir o mito da escrita como controle da barbárie. As incursões de Ricardo Piglia no universo da leitura; de Sylvia Molloy na escrita autobiográfica; de Walter Mignolo na revisão dos conceitos de local e global nos textos pós-coloniais; e de Julio Ramos na relação entre escrita e modernização na constituição de saberes descontextualizados e, por esta razão, inaugurais, autorizam a vertente cultural e comparada de minhas leituras. No que diz respeito à abordagem mais pontual da crítica biográfica, é preciso distinguir e condensar os pólos da arte e da vida, por meio do emprego do raciocínio substitutivo e metafórico, com vistas a não naturalizar e a reduzir os acontecimentos vivenciados pelo escritor. Não se deve argumentar que a vida esteja refletida na obra de maneira direta ou imediata ou que a arte imita a vida, constituindo seu espelho. A natureza artificial da arte recebeu do dandy e decadentista Oscar Wilde a definição primorosa: a vida imita a arte. A presença de mediações, de terceiras pessoas, da relação oblíqua entre arte e vida é passível de intervenções entre as duas instâncias, sem que o lastro biográfico se defina pela empiria e pela interpretação textual baseada em soluções fáceis e superficiais. A preservação da liberdade poética da obra na reconstrução de perfis dos escritores reside no procedimento de mão dupla, ou seja, reunir o material poético ao biográfico, transformando a linguagem do cotidiano em ato literário. Ainda que determinada cena recriada na ficção remeta a um fato vivenciado pelo autor, devese distinguir entre a busca de provas e a confirmação de verdades atribuídas ao acontecimento, do modo como a situação foi metaforizada e deslocada pela ficção. O nome próprio de uma personagem, mesmo que faça referência a pessoas conhecidas do escritor, não impede que sua encenação embaralhe os dados e coloque a verdade biográfica em suspenso. Pelo fato de a crítica literária se expandir em várias e múltiplas vertentes, incluindo-se aí a critica comparada, a cultural, a biográfica, a genética, a textual – sem que os preconceitos e as hierarquias sejam prioritárias no tratamento das mesmas – torna-se às vezes difícil impor limites para sua prática. Diante do Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 59‐66, jul./dez. 2010. 61 aspecto abrangente das disciplinas e de sua abertura transdisciplinar, revela-se inoperante e retrógrada a separação entre domínios específicos, embora deva ser exigida a definição de pressupostos teóricos e de metodologias na realização de um trabalho crítico. A crítica biográfica se apropria da metodologia comparativa ao processar a relação entre obra e vida dos escritores pela mediação de temas comuns, como a morte, a doença, o amor, o suicídio, a traição, o ódio, relações familiares, como o tema dos irmãos inimigos, da busca do pai, da bastardia, do filho pródigo, e assim por diante. Reunidos por um fio temático e enunciativo, independente de intenções ou da época em que viveram, escritores e pensadores constituem matéria biográfica a ser explorada no nível teórico e ficcional. A comparação conta, portanto, com a ajuda de critérios biográficos, ao promover encontros entre escritores e incentivar a criação de diálogos muitas vezes inesperados. Esse procedimento é dotado de liberdade criativa, por conceder ao crítico certa flexibilidade ficcional sobre o objeto em análise, não se prendendo à palavra do autor, mas indo além dela. Por essa razão, o elemento factual da vida/obra do escritor adquire sentido se for transformado e filtrado pelo olhar do crítico, se passar por um processo de desrealização e dessubjetivação. Essa crítica não se concentra, contudo, apenas em obras de teor biográfico ou memorialista, por entender que a construção de perfis biográficos se faz independentemente do gênero. Nas entrelinhas dos textos consegue-se encontrar indícios biográficos que independem da vontade ou propósito do autor. Por essa razão, o referencial é deslocado, por não se impor como verdade factual. A diferença quanto à crítica biográfica praticada durante esses últimos anos consiste na possibilidade de reunir teoria e ficção, considerando que os laços biográficos são criados a partir da relação metafórica existente entre obra e vida. O importante nessa relação é considerar os acontecimentos como moeda de troca da ficção, uma vez que não se trata de converter o ficcional em real, mas em considerá-los como cara e coroa dessa moeda ficcional. Consiste ainda na liberdade de montar perfis literários que envolvem relações entre escritores, encontros ainda não realizados, mas passíveis de aproximação, afinidades eletivas resultantes das associações Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 59‐66, jul./dez. 2010. 62 inventadas pelo crítico ou escritor. Esses perfis exercem, em geral, papel importante na elucidação de propostas literárias, questões teóricas e contextuais.7 Se considerarmos que a realidade e a ficção não se opõem de forma radical para a criação do ensaio biográfico, não é prudente checar, no caso de autobiografias ou de biografias, se o acontecimento narrado é verídico ou não. O que se propõe é considerar o acontecimento – se ele é recriado na ficção – desvinculado de critérios de julgamento quanto à veracidade ou não dos fatos. A interpretação do fato ficcional como repetição do vivido carece de formalização e reduplica os erros cometidos pela crítica biográfica praticada pelos antigos defensores do método positivista e psicológico, reinante no século 19 e princípios do 20. O próprio acontecimento vivido pelo autor – ou lembrado, imaginado – é incapaz de atingir o nível de escrita se não são processados o mínimo distanciamento e o máximo de invenção. A crítica biográfica não pretende reduzir a obra à experiência do autor, nem demonstrar ser a ficção produto de sua vivência pessoal e intransferível. As relações teórico-ficcionais entre obra e vida resultam no desejo de melhor entender e demonstrar o nível de leitura do crítico, ao ampliar o pólo literário para o biográfico e daí para o alegórico. A retomada de conceitos referentes à autobiografia, como o de autoficção, inaugurada por Serge Doubrovsky em 1977, teve o mérito não só de rever a relação complexa entre ficção e realidade, como de reforçar a incapacidade do sujeito de se manter íntegro e onipotente. Considerada pela crítica como “aventura teórica”, a autoficção, longe de se impor como chave que abre todos os enigmas da autobiografia – e se contrapõe a ela –, guarda, segundo Jean- Louis Jeannelle, o conhecido estatuto conferido ao sujeito pelas teorias psicanalíticas, foucaultianas e barthesianas, da ficcionalização de si, da encenação de subjetividades no ato da escrita e do discurso. Essa aventura foi proclamada por Roland Barthes em Roland Barthes por Roland Barthes, de 1975, ao admitir na sua “autobiografia”, que 7 Cf. meu livro Pedro Nava – o risco da memória, especialmente o capítulo inicial sobre sua morte. Sem me preocupar com a razão do suicídio do escritor, analiso o acontecimento segundo critérios ligados à elucidação da modernização urbana do final do século, do lugar deslocado do sujeito diante das mudanças operadas pelo tempo. De flâneur o escritor passa a voyeur, além de se integrar ao patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, no momento em que comete suicídio em pleno espaço público, lugar que soube tão bem lutar por sua preservação. SOUZA, Eneida Maria de. Pedro Nava-o risco da memória. Juiz de Fora: Funalfa, 2004. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 59‐66, jul./dez. 2010. 63 “com as coisas intelectuais, nós fazemos ao mesmo tempo da teoria, do combate critico e do prazer.”8 Para Serge Doubrovsky, a autoficção é a forma pósmoderna, quer dizer, pós-holocauto, da autobiografia, pois, “ mesmo que todos os detalhes sejam exatos, o relato é sempre reinvenção do vivido. (...) ou mais à frente, “Não se lê uma vida, lê-se um texto.” Ou: “Mais uma vez, alguma autobiografia nem alguma autoficção não pode ser a fotografia, a reprodução de uma vida. Não é possível. A vida se vive no corpo; a outra, é um texto. (…) A autoficção, é o meio de ensaiar, de retomar, de recriar, de remodelar num texto, numa escrita, experiências vividas, de sua própria vida que não são de nenhuma maneira uma reprodução, uma fotografia... É literalmente e literariamente uma invenção.”9 A autoficção, pela sua defesa da narrativa a meio caminho entre o testemunho e a ficção, se declara uma narrativa pós-holocausto, por ter sido a narrativa do holocausto sempre pautada pela obediência às normas de fidelidade aos acontecimentos vividos, embora tal exigência se revelasse equivocada. Não resta dúvida de que a publicação, em 1998, (e em português, em 2008), do livro de Giorgio Agamben, O que resta de Auschwitz, evidencia o avanço teórico das narrativas do holocausto, ao afirmar, com a ajuda de outros pensadores, como Primo Levi, que todo testemunho contém necessariamente uma lacuna, pois quem teria mais condições de se expressar com mais autoridade sobre o fato, os considerados “muçulmanos”, não o fizeram. Como testemunhos integrais, não puderam expressar sua experiência, por se encontrarem na condição de nãohumanos, entregando sua vida ao destino, sem vontade nem para sofrer, à semelhança do “muslim”, o suposto fatalismo islâmico. Eram denominados 8 JEANNELLE, Jean-Louis. Où en est la réflexion sur l ´autofiction? In: JEANNELLE, JeanLouis; VOLLET, Catherine. (dir.). Genèse et autofiction. Louvain-la Neuve, Bruylant- Academia, 2007, p. 17. 9 DOUBROVISKY, Serge. Les points sur les “i”. In: JEANNELLE, Jean-Louis; VOLLET, Catherine. (dir.). Genèse et autofiction. Op. cit., p. 63-64. “ Encore une fois, aucune autobiographie ni aucune autofiction ne peut être la photographie, la reproduction d´une vie. Ce n´est pas possible. La vie se vit dans le corps; l´autre, c´est un texte. (…) L´autofiction, c´est le moyen d´essayer de rattraper, de recréer, de refaçonner dans un texte, dans une écriture, des expériences vécues, de sa propre vie qui ne sont en aucune manière une reproduction, une photographie…C´est littéralement et littérairement une reinvention.” Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 59‐66, jul./dez. 2010. 64 figuras, manequins, por se situarem, como sobreviventes, na zona intermediária entre a vida e a morte, o humano e o inumano. 10 Outras indagações referentes à autoficção conduzem à desestabilização do referencial, ao seu deslocamento, assim como aos deslocamentos espaçotemporais, considerando serem os protocolos enunciativos mais livres. O autor tem a liberdade de utilizar o mesmo nome para sua personagem ou narrador, sem que tal gesto interfira no grau de fidelidade/infidelidade narrativa, em posição distinta daquela defendida por Philippe Lejeune quanto ao pacto autobiográfico. Essa estratégia referencial às avessas reveste-se ainda da antiga poética narrativa, marcada pelo gesto de “mentir-vrai”, “mentir- verdadeiramente”, operação que reúne princípios enunciativos ligados ao teatro e ao romance, construindo uma cenografia da enunciação. A desestabilização do referencial produz, com efeito, a invenção e a estetização da memória, esta não mais subordinada à prova de veracidade. Trata-se da ação deliberadamente ficcional por parte do sujeito, do gesto de dessubjetivação que o insere no jogo fabular da narrativa. Estar ao mesmo tempo no interior da linguagem e fora dela consiste na operação paradoxal da presença/ausência do sujeito na complexa cena enunciativa. Essa premissa ficcional é ainda assumida por muitos dos autores modernos – e pós-modernos. Entre eles, a figura de Louis Aragon, na literatura francesa, e a de Silviano Santiago, na brasileira, com o Falso mentiroso, de 2004 e Histórias mal contadas. (2005) 11 O artigo de Silviano Santiago, “Meditação sobre o oficio de criar”, 10 “Soit le paradoxe de Levi: ´Le musulman est le témoin intégral.´Il implique deux propositions contradictoires: 1.´Le musulman est le non-homme, celui qui ne peut en aucun cas témoigner.´ 2. ´Celui qui ne peut témoigner est le vrai témoin, le témoin absolu.´” AGAMBEN, Giorgio. Ce qui reste d ´Auschwitz. Traduit de l´italien para Pierre Alferi. Paris: Rivages Poche, 2003. p. 164. 11 O artigo de Maryse Vassevière, “ Autofiction et mentir-vrai chez Aragon: les aveux de la génétique”, define com clareza esta proposta teórico/poética do escritor: “ Porque em Aragon, o discurso autobiográfico tem sempre anseio do necessário desvio pela ficção. É o que ele teorizou sob o nome de mentir-verdadeiramente e que se pode considerar seja como uma pura teoria do romance se o acento é colocado sobre o mentir, seja como um território no vasto continente da autoficção se se coloca o acento sobre o verdadeiro.” (Tradução da autora). “Car chez Aragon, le discours autobiographique a toujours besoin du nécessaire détour par la fiction. C´est ce qu´il a théorisé sous le nom de mentir-vrai et que l´on peut considérer soit comme une pure théorie du roman si l´on met l´accent sur le mentir, soit comme un territoire dans le vaste continent de l´autofiction si l´on met l´accent sur le vrai...”. VASSEVIÈRE, Maryse. “Autofiction et mentir- Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 59‐66, jul./dez. 2010. 65 recém-publicado pela Revista Aletria, n. 18, esclarece sobre o conceito de autoficção, além de ilustrar uma das tendências mais controvertidas e, mesmo assim, mais presentes na literatura e nas artes contemporâneas: Um dos grandes temas que dramatizo em meus escritos, com o gosto e o prazer da obsessão, é o da verdade poética. Ou seja, o tema da verdade na ficção, da experiência vital humana metamorfoseada pela mentira que é a ficção. Trata-se do óbvio paradoxo, cuja raiz esta entre os gregos antigos. Recentemente, encontrei a forma moderna do paradoxo num desenho de Jean Cocteau, da série grega. Está datado de novembro de 1936. No desenho vemos um perfil nitidamente grego, o do poeta Orfeu. De sua boca, como numa história em quadrinho, sai uma bolha onde está escrito: “Je suis un mensonge qui dit toujours la verité”. (Sou uma mentira que diz sempre a verdade). Esse jogo entre o narrador da ficção que é mentiroso e se diz portador da palavra da verdade poética, esse jogo entre a autobiografia e a invenção ficcional, é que possibilitou que eu pudesse levar até as últimas consequências a verdade no discurso híbrido. De um lado, a preocupação nitidamente autobiográfica (relatar minha própria vida, sentimentos, emoções, modo de encarar as coisas e as pessoas, etc), do outro, adequá-la à tradição canônica da ficção ocidental.12 66 vrai chez Aragon: les aveux de la génétique”. In: JEANNELLE, Jean-Louis; VOLLET, Catherine. (dir.). Genèse et autofiction. Op. cit., p. 90. 12 SANTIAGO, Silviano. Meditação sobre o ofício de criar. Revista Aletria. Belo Horizonte, n. 18, jul/dez. 2008, p. 178. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 59‐66, jul./dez. 2010. MATÉRIAS‐PRIMAS: entre autobiografia e autoficção1 Evando Nascimento2 L'autobiographie est toujours, en fait, une autofiction. [Na verdade, a autobiografia é sempre uma autoficção.] Serge Droubovsky Farei inicialmente alguns esclarecimentos, como introdução ao tema das relações entre autobiografia e o que atualmente se chama de autoficção. A primeira vez que ouvi falar de autoficção foi numa palestra de Régine Robin, organizada por Eurídice Figueiredo, na Universidade Federal Fluminense, em 1997. Tive na ocasião a possibilidade de conversar com a conferencista, que só viria a reencontrar textualmente mais de dez anos depois, por meio de seu último livro publicado na França, Mégapolis (2009), obra que discorre sobre megacidades como Nova York, Buenos Aires, Tókio, São Paulo e Rio de Janeiro. Francesa radicada no Canadá, Robin é não só uma das teóricas e críticas mais relevantes do que hoje usualmente se chama de autoficção, como também a pratica. Seu sítio da Internet, Page des papiers perdus, comporta duas entradas, uma para a professora e crítica literária e a outra para a escritora de origem judaica.3 1 Texto lido numa mesa-redonda sobre “Autobiografia e Autoficção”, na Universidade Federal de Juiz de Fora, em 26 de maio de 2010. Participaram também da mesa Eneida Maria de Souza (UFMG), Diana Klinger (UFF) e Jovita Noronha (UFJF). 2 Evando Nascimento é professor da UFJF. 3 Cf. http://www.er.uqam.ca/nobel/r24136/ (consulta realizada em 20/04/2010). Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 67‐86, jul./dez. 2010. Aquele primeiro encontro foi decisivo para tudo o que faria a partir daí. Antes disso, o tema da autobiografia e da confissão já entrara em minha vida, no momento em que escrevendo a tese sobre Derrida, me senti na obrigação de ler uma de suas muitas referências, as Confissões de Rousseau.4 Esse livro, que é um verdadeiro fetiche para o teórico da autobiografia, Philippe Lejeune, causou forte impacto. Nunca consegui lê-lo pelo viés do “pacto autobiográfico”, ou seja, como definiu e redefiniu recentemente o próprio Lejeune, por um compromisso com a verdade. Certamente já contaminado por Derrida, tomei cada uma das palavras de Rousseau como uma vasta ficção, por assim dizer um romance filosófico. Cada linha desse belíssimo volume me dizia, “Não creia literalmente no que digo, pois a vida só é possível reinventada” – enxertei aqui de propósito os versos célebres de Cecília Meireles, que já citei em outras ocasiões, como um mote para qualquer vida que se queira minimamente literária.5 Lembro de passagem que Derrida faz parte daquela categoria de pensadores que, como Rousseau, Nietzsche e Benjamin, ousaram filosofar na primeira pessoa. O livro de Rousseau e as leituras de Derrida me prepararam o espírito não para o “pacto autobiográfico” de Lejeune, autor que só viria a ler depois, mas para a autoficção de Serge Doubrovsky, escritor francês que criou esse termo até certo ponto como provocação à teoria, em muitos aspectos limitada, de Lejeune, o qual viria também a lhe dar a réplica, num ciclo de provocações sem fim. Assinalo que toda a questão da classificação de um texto como “autobiografia” seria quanto a saber o limite entre o autobiográfico e o nãoautobiográfico, e isso é fundamental para compreender a invenção de Doubrovsky, a “autoficção”. A definição do gênero autobiográfico foi feita em meados dos anos 19706 e mantida por Lejeune na revisão que fez de seu percurso em 2001, em “Le Pacte autobriographique, vingt-cinq ans après” [O Pacto autobiográfico, vinte e cinco anos depois],7 baseando-se essencialmente no 4 Rousseau, Jean-Jacques. Les confessions. Paris: Gallimard, 1996. 5 Cf. Meireles, Cecília. Reinvenção. In: Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985, p. 195. 6 Lejeune, Philippe. Le pacte autobiographique. Paris: Seuil, 1975. 7 Lejeune, Philippe. Le Pacte autobiographique, vingt-cinq ans après. In: Signes de vie: le pacte autobiographique 2. Paris: Seuil, 2005, p. 11-35. (Salvo indicação contrária, todas as traduções são minhas.) Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 67‐86, jul./dez. 2010. 68 imperativo do pacto. É preciso que um texto se inscreva num “pacto de verdade” com seu leitor, por meio de um performativo que prometa e garanta estar dizendo a verdade, não mais do que a verdade. Eis como ele define os critérios que regem a Associação, por ele fundada, em prol da autobiografia e do patrimônio autobiográfico: “Aceitamos para depósito e leitura todos os textos de vida inéditos que nos propõem: autobiografias, relatos de infância, de guerra, de doença, de viagens, diários pessoais, cartas – mas solicitamos que sejam regidos por um pacto de verdade. Descartamos as ficções e as coletâneas de poemas. Evidentemente às vezes acontece de hesitar em estabelecer a fronteira. Mas há uma fronteira. A coerência e o valor de uso do acervo [fonds d’archives] que constituímos depende disso”.8 Curiosamente, nesse texto que faz um balanço de seu percurso tem-se também uma confissão autobiográfica: Lejeune fala da relação de amor e de distanciamento para com o diário e outras “escritas do eu”. A certa altura, cita Paul Valéry: “Na verdade, não existe teoria que não seja um fragmento, cuidadosamente preparado, de alguma autobiografia”. Em seguida, comenta: “Meu próprio desejo autobiográfico explica, portanto, ao mesmo tempo o lado normativo de L’Autobiographie en France, a escolha do projeto rousseauista e minha cegueira em relação ao diário”.9 Esse texto é precioso para se ver o lado autobiográfico de toda teoria; os interesses nunca são neutros, mas resultantes de “frustrações e desejos” do teórico e crítico, como o próprio Lejeune sublinha. Já a proposta de Doubrovsky viria para completar o quadro traçado por Lejeune em seu famoso estudo dos anos 1970. Na quarta-capa de seu livro Fils (1977),10 Doubrovsky propõe o termo de autoficção para o tipo de narrativa em que os nomes do autor, do narrador e do protagonista coincidem. Assim, no romance Fils, mais do que simples autobiografia, tem-se a encenação da vida privada do autor Serge Doubrovsky sob forma de (auto)ficção. Feita essa anotação conceitual, retomo o curso da pequena anamnese acima esboçada. A atitude diante da autoficção, que me chegava pela palavra falada e 8 Ibid., p. 27, grifos meus. 9 Ibid., p. 27-28. 10 Doubrovsky, Serge. Fils. Paris: Grasset, 1977. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 67‐86, jul./dez. 2010. 69 impressa de Robin – pois li seu livro fundamental Le Golem de l’écriture11 –, era tanto de absoluto fascínio quanto da maior desconfiança. Também por meio de Derrida, aprendi a desconfiar de tudo o que leva o prefixo “auto”, de toda carga excessiva colocada no “eu”, no “me” e no “mim”, além, é claro, do nome dito próprio. Tal como desenvolvi num dos capítulos de Derrida e a literatura,12 tudo o que leva a marca do que chamamos de “eu” tanto me sidera quanto me põe em guarda, atento aos riscos do narcisismo exacerbado. Antes de tudo, porque tanto Derrida quanto Lévinas, aquele como leitor deste, tornaram patente a precedência do outro sobre o eu.13 Tudo o que sou, tudo o que somos, vem dos outros e das outras que nos conceberam, deram um nome, cuidaram e até hoje nos chamam. Antes da consciência do próprio nome, há o chamado (Clarice Lispector), o apelo à convivência e ao compartilhamento da experiência, a qual jamais é inteiramente solipsista. Estou convencido de que toda experiência do eu passa pelo encontro com a alteridade, de forma estrutural e irredutível. “Eu” só existe porque o outra/a outra (que pode ter inúmeros nomes: mundo, universo, natureza, Deus, pai, mãe, família, sociedade, acaso, lei, norma etc.) lhe deu existência. É nesse sentido que se deveria ler a famosa frase de Rimbaud no contexto original da carta em que se inscreve: eu é um outro14 porque é esse outro e essa-outra que me fundam, desde antes do nascimento, quando ainda não passo de uma ideia na mente e no corpo de meus pais. “Eu” é e sempre será outro, igual e diferente de si: esse diferimento vem da alteridade que nos habita. Tal é o primado ético da existência: antes de mim o outro ou a outra que me deram vez e lugar. Na verdade, parafraseando a epígrafe acima de Doubrovsky, diria que o eu não passa de uma ficção do outro. Pois o outro é que me inventa, a meu desconhecimento e até a minha revelia. Desde a certidão de nascimento até o atestado de óbito, quem cuida sempre de nossas vidas são os outros, sem os quais nada seríamos, nada somos. 11 Robin, Régine. Le Golem de l’écriture: de l’autofiction au cybersoi. Montréal: Ed. XYZ, 1997. 12 Nascimento, Evando. Derrida e a literatura. 2ª. ed. Niterói: EdUFF, 2001, p. 306-311. 13 Cf. Derrida, Jacques. Psyché: inventions de l’autre. Paris: Galilée, 1987. Lévinas, Emmanuel. Totalité et infini: essai sur l’exteriorité. Paris: Kluwer Academic, 1994. Lévinas, Emmanuel. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. Paris: Kluwer Acdemic, 1996. 14 Rimbaud, Arthur. Lettres de la vie littéraire. Paris: Gallimard, 1990. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 67‐86, jul./dez. 2010. 70 Por esse motivo sempre preferi, em vez do neologismo autoficção, um outro, um pouco mais estranho, o de alterficção ou ainda o de heteroficção, para marcar que tudo vem do outro e a ele-ela retorna, malgrado a passagem necessária pelo eu. Todavia, deixo de lado a heteroficção, em proveito da alterficção, pois a primeira corre o risco de se confundir com a heterossexualidade, reduzindo-se a um novo sexismo. Alterficção é uma autêntica “ficção do interlúdio” (para citar Pessoa), lugar intervalar onde o eu se constitui entre dois outros, um que o antecede e outro que o sucede. Será preciso, num outro momento, pensar juntos a heteronímia pessoana e a auto/alterficção, com e além de Serge Doubrovsky. Se neste texto recorrero a maior parte do tempo à autoficção, deixo desde logo claro que esse operador textual se encontra de ponta a ponta modulado pela alterficção. Alterficção: ficção de si como outro, francamente alterado, e do outro como uma parte essencial de mim. Retorno novamente ao contexto de meus esclarecimentos (mas não de minhas confissões). Além da autoficção, surgiu no texto de Robin o termo bioficção, que vim a utilizar em mais de um momento, em particular num artigo publicado na Cult, sobre o poeta e amigo Waly Salomão, “Os Favos da (quase) poesia”.15 O maior efeito do encontro com essa categoria foi a decisão tomada a partir de então de considerar tudo o que viesse a escrever como fragmento de um grande diário, pouco importando se se tratava de ensaio universitário ou de ficção pura e simples. Mas no ano seguinte ao daquele luminoso encontro, em 1998, me veio o desejo imenso de escrever de fato um diário ficcional, que teria a forma de um romance reinventado. Fazia parte do projeto datar qualquer coisa que viesse a escrever, mesmo a simples anotação à margem de um livro ou numa caderneta que passei a utilizar. Datar e assinar embaixo, circunstanciar a escrita, dando-lhe uma materialidade temporal, eis todo o paradoxo da ficção auto ou alterbiográfica. Em 1998, portanto, comecei a escrever um livro que foi aos poucos se configurando como “diário fictício”, oximoro absolutamente voluntário. De modo que me vi envolvido num projeto dentro do projeto: se tudo para mim virara diário então por que não escrever um romance-diário, contando uma história que outra não fosse senão a de minha própria e minúscula vida? A referência é sem dúvida Vidas 15 Nascimento, Evando. Os favos da (quase) poesia. Cult, ano V, nº 51. SP: outubro, 2001, p. 1013. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 67‐86, jul./dez. 2010. 71 minúsculas, de Pierre Michon.16 Por razões que não caberia explicar aqui, esse primeiro romance ficou arquivado. Acabei por publicar um outro, escrito entre 2004 e 2007, o Retrato desnatural.17 Cabe lembrar que a ideia do diário, para além da influência ou da confluência da autoficção de Doubrovsky e de Robin, foi marcada por três outras referências. A primeira delas foi uma passagem de um belo ensaio de Barthes, em que ele diz não suportar o gênero diário porque nele se diz “eu” o tempo todo.18 Mas o próprio Barthes propõe uma saída para esse solipsismo, ao reconsiderar que o diário é possível, sim, como escritura, desde que reinventado, ou seja, como forma de reescrita literária.19 Esse texto ressoou por um longuíssimo período, e decerto jamais se apagou; como tantas coisas de Barthes, a marca escritural ficou e surtiu efeito. Muito do que fiz e faço vem desse outro professor universitário, duplo de scriptor. A segunda referência foram os filmes de Woody Allen, a meu ver, todos de cunho autoficcional, mesmo os mais impessoais – como pode se comprovar com o derradeiro e belo Whatever works (Tudo pode dar certo). A última referência foram os dois filmes de Nanni Moretti Caro diário e Abril, que vi quando já estava em pleno curso. Esse último caso foi mais de reconhecimento do que de alumbramento, como quem diz “eu também quero”. Esse desejo de mímica, de mímesis ou de emulação me parece decisivo para todo gesto escritural: emular para imitar e rivalizar (como já diz o termo latino emulatio) é tudo o que interessa hoje, mais do que nunca. Enquanto isso, do final dos anos 1990 para cá, o termo autoficção ganhou mundo, deixando as fronteiras da francofilia. Não por acaso, uma das grandes 16 Michon, Pierre. Vies minuscules. Paris: Gallimard, 1984. 17 Nascimento, Evando. Retrato desnatural (Diários 2004-2007). Rio de Janeiro: Record, 2008. 18 Barthes, Roland. Délibération. In: Oeuvres completes: (1974-1980), t. 3. Paris: Seuil, 1995, p. 1004-1014. “Como escrever um Diário sem egotismo? Eis a questão que me impede de fazê-lo (pois estou um tanto farto do egotismo)”. 19 “[...] provavelmente seria preciso concluir que posso salvar o Diário, com a única condição de trabalhá-lo até a morte, até ao ponto extremo da exaustão, como um texto quase impossível: trabalho ao fim do qual talvez o Diário assim mantido em nada se pareça com um Diário” (p. 1014). Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 67‐86, jul./dez. 2010. 72 estrelas do ano da França no Brasil foi a artista Sophie Calle, arrolada por Robin como um dos grandes exemplos da prática.20 Destacaria ainda outros incômodos em face da autoficção, além do já mencionado. Primeiro, é o temor de que se converta em definitivo em novo gênero, reduzindo-se a clichês e ideias fixas. A graça e o frescor da invenção doubrovskyana é ter sido uma provocação literária ao papa do sacrossanto gênero da autobiografia, Lejeune. Converter autoficção num gênero com características definidas e repetidas à saciedade, parece-me uma traição ao impulso inventivo original. Ao nomear o aparentemente inexistente, mas paradoxalmente já aí (segundo uma noção cara a Heidegger), Doubrovsky provocou um abalo no existente e consagrado. Como ele próprio veio a descobrir, não foi a decisão consciente de nomear o que propunha na quarta-capa de seu livro Fils, que gerou o termo autoficção; como pesquisas de crítica genética comprovaram, isso ocorreu na própria invenção do livro. A palavra já se inscrevia nos originais do romance autoficcional, que somavam cerca de três mil páginas, reduzidas para seiscentas na versão publicada.21 A ficção e não a consciência autoral a respeito da obra foi que engendrou a autoficção. Segundo Derrida em Gêneses, genealogia, gêneros, e o gênio, desde o momento em que um texto se inscreve nas paragens da literatura, de imediato se torna difícil e por vezes impossível discernir a fronteira entre o verdadeiro e o ficcional.22 Muito da ficção atual brinca com esses limites, pois em diversos casos a atestação só depende daquele que fala e empenha sua palavra. Tal é o caso do francês Pierre Michon, do catalão Enrique Vila-Matas, do chileno Roberto Bolaño, da francesa Hélène Cixous, do norte-americano Paul Auster, do alemão G. W. Sebald, do sul-africano J. M. Coetzee e do brasileiro João Gilberto Noll, 20 Cf. Robin, Régine. Être sans trace: Sophie Calle. In: Le Golem de l’écriture, op. cit., p. 217-229. Calle, Robin. Histórias, reais. Trad. Hortencia Santos Lencastre. Rio de Janeiro: Agir, 2009. 21 Para essas questões, cf. Grell, Isabelle. Pourquoi Serge Doubrovsky n’a pu éviter le terme d’autofiction. In: Jeanelle, Jean-Louis; Viollet, Catherine (Dir.). Genèse et autofiction. Bruxelles: Academia Bruylant, 2007, p. 40-51. Toda a coletânea dispõe de excelentes ensaios e depoimentos de escritores sobre autoficção, entre os quais Doubrovsky e Lejeune. Devo a Eneida de Souza a recomendação desse volume. 22 Derrida, Jacques. Genèses, généalogies, genres et le génie: les secrets de l’archive. Paris: Galilée, 2003. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 67‐86, jul./dez. 2010. 73 entre muitos outros. Em todos esses autores comparece algum grau de autoficção. A força da autoficção é que ela não tem mais compromisso algum nem com a autobiografia estrito senso (que ela não promete), nem com a ficção igualmente estrito senso (com que rompe). Ao fazer coincidir, na maior parte das vezes, os nomes e as biografias do autor, do narrador e do protagonista, o valor operatório da autoficção cria um impasse entre o sentido literal (a referência real da narrativa) e o sentido literário (a referência imaginária). O literal e o literário se contaminam simultaneamente, impedindo uma decisão simples por um dos pólos, com a ultrapassagem da fronteira. É essa ausência de compromisso com a verdade factual, por um lado, e a simultânea ruptura com a convenção ficcional, por outro, que tornam a chamada autoficção tão fascinante, e por isso mesmo defendo que não seja redutível a um novo gênero. O interesse da auto ou da alterficção é romper as comportas, as eclusas, os compartimentos dos gêneros com que aparentemente se limita, sem pertencer legitimamente a nenhum deles. Ela participa sem pertencer nem ao real nem ao imaginário, transitando de um a outro, embaralhando as cartas e confundindo o leitor por meio dessas instâncias da letra. Diferentemente do romance autobiográfico ou de memórias, que ainda quer pertencer a um gênero tradicional, a autoficção põe em causa a generalidade do gênero, sua convencionalidade, correndo decerto o risco de cair em novas armadilhas. Daí ser necessário multiplicar as suspeitas, duvidar dos acertos, contestar as vitórias fáceis do eu. Pode-se então dizer acerca dessa espécie sui generis de discurso que se o termo servir apenas para designar um novo gênero, nenhum interesse especial terá. Porque a modernidade viveu e vive ainda de inventar e destruir gêneros, e foi sobre essa pulsão classificatória que se debruçou a obra inicial de Foucault, especialmente As Palavras e as coisas e a Arqueologia do saber. Não podemos viver sem os gêneros (sexuais, discursivos, literários), mas o aprisionamento a gêneros engendra a asfixia do pensamento. Ademais, não há gênero que não dependa daquilo que se faz dele, das palavras que engendram coisas e das coisas que engendram efeitos. Essa seria uma nova versão de “como fazer coisas com palavras”, para lembrar o magnífico título de Austin. Desse aspecto performativo e performático de qualquer discurso, ou seja, de sua pragmática, a autoficção tira um máximo proveito. Pois toda sua força pensante está em desafiar as definições, as regras genéricas e generalizantes, em suma, em fundar uma “ciência” do particular e do intransferível, ali onde manda o bom método basear-se o Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 67‐86, jul./dez. 2010. 74 conhecimento na generalidade e na universalidade previamente concebidas. Talvez autoficção não passe disso, o que não é pouca coisa: um saber singular, francamente indefinível, perturbador ao mostrar a ficcionalidade de todo discurso, mesmo ou sobretudo aqueles que se querem rigorosamente científicos. Como diz Barthes: “Com efeito, a Ficção não se opõe de modo simplista à verdade; somente diz que a verdade deve levar em conta o desejo, e, se posso dizer assim, carregando-o na garupa, senão corre o risco de se reduzir à fantasia da castração”.23 Dizer que todo relato, e mesmo que todo discurso é uma ficção não implica dizer que todas as ficções se equivalem, ao contrário, o interesse repousa em que modalidades de ficção se está falando quando se passa do jornal ao romance, das memórias à correspondência, do ensaio ao poema, até chegar à monografia acadêmica. A ficcionalidade define menos um gênero do que o estatuto híbrido de qualquer discurso. Por um lado, todo documento, mesmo o mais verídico, detém traços de ficcionalização; por outro, todo romance, todo poema detém valor documental. Ficção ou verdade, imaginação ou documento deixam de ser, por si mesmos, critérios de definição do gênero, pois a distinção é de grau e não de natureza. Já os gêneros se definem menos por uma essência que os teria gerado do que pela história de seus usos e significações, de suas perfomances históricas, se quiserem. Outra grande diferença entre o dispositivo de autoficção e a autobiografia ou o romance autobiográfico tradicionais é que estes tendem a ser autolaudatórios. As memórias ou confissões visam a enaltecer e/ou desculpar o autor-narradorprotagonista (caso prototípico de Rousseau), enquanto os autoficcionistas partem do inacabamento e da fragilidade de suas vidas. Não pode haver épica na autoficção, com o risco de empobrecimento da experiência vital e literária. Epopeia, quando ocorre, é por meio da micronarrativa, pois como diz Doubrovsky, seguindo voluntariamente os passos de Lyotard, os grandes relatos e as grandes autobiografias se não estão mortos pelo menos se tornaram problemáticos. Isso ocorre pela constatação mesma da precariedade de todo relato, de toda narrativa, de toda história com h maiúsculo ou minúsculo. Pois a história, gênero científico, tanto quanto a literatura, gênero artístico, perderam o caráter 23 Barthes, Roland. Il n’existe aucun discours qui ne soit une Fiction. In: Oeuvres completes: (1974-1980), t. 3. Paris: Seuil, 1995, p. 385-386. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 67‐86, jul./dez. 2010. 75 redencionista que muitas vezes assumiram, sobretudo a primeira. Não há mais sentido redentor nem figura soterológica, encarnada num narrador neutro de terceira pessoa. Restou o lugar vazio da dúvida, da imprecisão. Nesse sentido, toda narrativa não é mais do que o rastro, o vestígio ou a ruína (Benjamin) de um acontecimento que nunca se apresentou de todo em sua identidade pontual. A ficção literária é um segundo evento em relação ao primeiro e disperso evento do real. Assim, o único pacto hoje possível é com a incerteza, jamais com a verdade factual e terminante, tantas vezes contestada por Nietzsche. O pacto que os narradores podem fazer com seus leitores é quanto à força e à legitimidade de seu relato, fundado numa experiência instável, dividida, estilhaçada, como se fosse verdade, no fundo marcadamente estética. Mesmo o de-verdade da história virou interpretação, sem abrir mão do estatuto da verdade, que apenas se tornou infinitamente mais problemática, todavia nem de longe inócua. Diria, ao contrário, que a verdade hoje é o que mais importa, sobretudo sob as vestes da imaginação. A verdade em literatura, eis do que não gostaria nunca de desistir, embora essa verdade esteja sempre por construir, refazer, desconstruir... Eu são sempre vários, era o que dizia, como vimos, o multicitado trecho da carta de Rimbaud. Talvez seja isso o que tenha descoberto Riobaldo-Tatarana na invenção de si como outro que é o Grande sertão. “Aqui a estória se acabou./ Aqui, a estória acabada./ Aqui a estória acaba”,24 ou depois: “E me cerro aqui, mire e veja. Isto não é o de um relatar passagens de sua vida, em toda admiração. Conto o que fui e vi, no levantar do dia. Auroras”25 – diz Riobaldo a seu silencioso e muito paciente interlocutor. Aqui começa a vida, diremos nós, repercutindo o pacto dessa suposta ficção autobiográfica, dessa vera autoficção como tanatografia, pois no centro da vida está a morte do outro ou da outra, Reinaldo-Diadorim-Deodorina. Tudo acaba e recomeça justamente neste ponto instável para onde convergem ficção e realidade, numa linha demarcatória que sempre se afasta, quando cremos tangenciá-la. Indecidível, como tanto defendeu Derrida. Ali onde os pastos se veem des-marcados, para citar outro famoso trecho 24 Rosa, João Guimarães. Grande sertão: veredas. 19ª. ed., edição especial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 616. 25 Ibid., p. 623, grifos meus. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 67‐86, jul./dez. 2010. 76 do Grande sertão, é que começa a verdadeira e indecidível história, entre literatura e realidade, arte e vida, ficção e testemunho, imaginação e seus supostos contrários. No grande sertão literário, nem tudo é verdade, mas o pouco de verdade que se alcança basta para fazer funcionar o maquinário literário e literal. O que há de verdadeiramente ficcional num romance ou num conto é menos a definição do gênero ficção como oposto à realidade, como mera ilusão, portanto, do que como impossibilidade de discernir os limites entre ficção e realidade. O fictício do ficcional reside na impossibilidade do limite absoluto, e não na natureza dos territórios demarcados (ficção x realidade). A ficção está no limite e não nos territórios discursivos, nos gêneros. Essa é a instável novidade da autoficção, e não a identificação simplista entre narrador e autor. Quando na “Dedicatória do Autor” de A Hora da estrela vem escrito entre parênteses “na verdade Clarice Lispector”, a ficção começa nisso que na dissertação de mestrado sobre A Hora da estrela chamei de intertroca de papéis. Intertroca e não identificação: Rodrigo S.M. é e não é Clarice Lispector. Nessa indecidibilidade entre um gênero (masculino) e outro (feminino) surge a ficção de Macabea e tudo o que dá vez à Hora da estrela. O narrador Marcel, nomeado assim de forma rara ao longo de Em busca do tempo perdido, é e não é Marcel Proust. Nessa tensão entre narrador, autor e personagem, é que se insere a verdadeira ficção para Barthes: a do leitor, 26 que quase nunca é mencionado nas discussões sobre autoficção, exceto pelo próprio Doubrovsky. O leitor é convocado a intertrocar papéis com todas essas máscaras ficcionais, atribuindo também algo de sua própria vida, sem o que a literatura permanece letra morta. A vida de toda ficção depende do bios leitoral, sem o qual nada acontece. Pois a autoficção só existe de fato como efeito e não como um novo dogma de criação. A autobiografia depende mais do autor e do crítico especializado; já a autoficção se vincula pragmaticamente ao leitor, constituindo esse efeito de estranhamento (obtido em graus diferenciados por cada receptor, de acordo com suas próprias experiências) que ocorre quando se percebe uma confusão mais ou menos intencional entre autor empírico e autor-narrador ficcional. O mal-estar ou o prazer derivam dessa dificuldade de discernimento, daí os processos legais que alguns autoficcionistas 26 Barthes, Roland. La mort de l’auteur. In: Oeuvres completes: (1966-1975) t. 2. Paris: Seuil, 1994, p. 491-495. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 67‐86, jul./dez. 2010. 77 sofrem por parte de parentes e conhecidos, que alegam ter tido sua intimidade exposta em público.27 Um verdadeiro escândalo ficcional... Autoficção é, pois, um termo que veio para pôr em evidência que todo discurso, mesmo o mais neutro e anônimo, guarda as marcas do sujeito que o enunciou, marcas estas ambiguamente verdadeiras e fictícias; mas também, em contrapartida, alguns textos levam essa hibridização ao extremo, ao fazerem dos fatos documentais a matéria mesma da ficção, ou seja, ao se utilizarem da capa ficcional do real como matéria romanesca. O mais perturbador não é ver a vida convertida em romance, poesia, drama ou ensaio (isso a literatura sempre fez, com os mais diversos recursos), mas perceber que o próprio tecido vital está infestado de ficcionalidade. Se posso autoficcionalizar minha vida é porque ela mesma, como a de todos, dá um ótimo romance, a depender é claro do talento do narrador. Mesmo a mais medíocre das vidas, a mais miserável, sob certo ângulo pode receber um enfoque inaudito, a partir de sua própria mesquinhez e não a despeito dela. Lembremos de Félicité (personagem de Flaubert), de Macabéa (de Clarice) e de Bartleby (de Mellville), todas vidas minúsculas. O que mais fascina e estranha na autoficção, quando bem realizada, é a dimensão ficcional do real, e não tanto a referencialidade imediata da literatura, como em princípio se poderia supor. A autoficção só pode ser então efetivamente compreendida dentro de uma pragmática discursiva, e não numa ontologia tradicional dos gêneros. Importa menos o que é a autoficção, do que o que podemos fazer com ela, seja como autores de romances, peças de teatro ou obras de artes plásticas (como Sophie Calle e Hélio Oiticica), seja como escritores de textos dissertativos. Tal é a dimensão ensaística da autoficção: as tentativas de realizar a passagem da vida à obra, não por esteticismo, mas para fazer re-verter a matéria-prima de volta à própria vida. Isso não se dá por uma metafísica da transgressão, mas sim pela passagem necessária entre as esferas da vida e da arte, como vasos intercomunicantes, e não mais como compartimentos estanques. A referida expressão Minha vida daria um romance é potencialmente válida para todos e para ninguém (como falava o Zaratustra de Nietzsche). Para todos, por tudo o que já disse; para ninguém, porque é indispensável ser dotado da força capaz de 27 Nesse sentido, cf. os testemunhos dos escritores Philippe Vilain, Catherine Cusset, Philippe Forest e Camille Laurens. In: Jeanelle, Jean-Louis; Violet, Catherine (Dir.). Genèse et autofiction, op. cit. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 67‐86, jul./dez. 2010. 78 escrita, de reinvenção. Em estado bruto, a vida de qualquer um é só um romance em potencial ou, se quiserem, um romance virtual. Para vir a ser de fato romance, carece de técnica narrativa, de seleção, recorte, investimento na linguagem, reflexão, política de citação (omitir certas fontes, explicitar outras, deturpar intencionalmente etc.), endereçamento (prefácios, notas, quartas-capas), e o mais que faz de um romance romance. Sinalizaria igualmente que Jean-Louis Jeanelle identificou muito bem outro aspecto estranhamente familiar no aparente neologismo autoficção. Esse procedimento aponta para mais um fenômeno de hibridização no próprio real. Trata-se de um dispositivo capaz de congregar modalidades que sempre se ignoraram e até mesmo se hostilizaram: a instituição literária, a instituição universitária e a mídia. A autoficção comparece com grande intensidade nessas três instâncias, não sem muitos conflitos. E mais, do ponto de vista da produção, ela pode e frequentemente reúne num mesmo sujeito diversas “funções” ou, antes, diversas máscaras profissionais: o escritor, o professor, o ensaísta, o pensador: “A autoficção só se tornou esse formidável catalisador teórico em razão da indefinição [flou] de que se cerca: escritores, críticos e universitários nela encontram um terreno de entendimento [entente], ou antes de desentendimento [mésentente], mas de um desentendimento produtivo”.28 Autoficção não será jamais um gênero literário e consensual, mas sempre um dispositivo que nos libera a reinventar a mediocridade de nossas vidas, segundo a modulação que eventual e momentaneamente interessa: ora na pele do poeta, do romancista ou do dramaturgo, ora na pele do crítico, universitário ou não, ora na pele do jornalista. Etc. Mais uma vez, não há equivalência entre essas designações, mas todas são modos da heteronomia criativa, fazendo com que sejamos sempre mais de um, mesmo ou sobretudo quando ostentamos um mesmo rosto, aparentemente uma única feição. Um último e maior desconforto com o velho-novo termo vai também muito além das fronteiras do mundo acadêmico. Sem dúvida nos últimos tempos, o “eu” passou a ocupar obsessivamente o espaço da mídia, fenômeno que foi muito bem 28 Jeanelle, Jean-Louis. Où en est la réflexion sur l’autofiction? In: Jeanelle, Jean-Louis; Violet, Catherine (Dir.). Genèse et autofiction, op. cit., p. 36. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 67‐86, jul./dez. 2010. 79 descrito no inteligente livro de Paula Sibilia, O Show do eu.29 Indagaria qual o interesse de se falar em nome do eu, no momento em que os egos se converteram em mil celebridades por segundo. Se no final dos anos 1990 o uso e o abuso do “auto” incomodava, agora se tornou quase intolerável ouvir e ler um discurso que só sabe dizer “eu”. Talvez hoje o maior prazer seja também o de poder dizer ele ou ela, como defende Beatriz Sarlo, em seu belo Tempo passado.30 Quando se tornou imperativo afirmar eu (penso, existo, falo...), dizer ele seria um bom modo de escapar ao espírito da época – deslocando-o. Quando tudo virou escrita do eu, dos romances aos contos, das teses aos ensaios, dos documentários às correspondências virtuais, quem sabe o grande interesse seria voltar a falar na terceira pessoa. Não mais, todavia, como a narrativa clássica, acreditando numa hipotética neutralidade, não mais como o plural de majestade de um pretenso nós, mas sim o romanesco ele, que Roland Barthes, contradizendo a si mesmo, enuncia quando despudoradamente aceita falar de si por meio de biografemas, em Roland Barthes por Roland Barthes.31 E o faz ficcionalmente, como personagem de romance. A maior audácia estaria em fazer uma autoficção na terceira pessoa, espécie inquietante e estranha de “três em um”: ele, ela em “mim”. E é isso que arrisca a desconcertante narrativa de O Filho eterno, romance que se tornou um filho pródigo, de Cristóvão Tezza.32 Resisti muito tempo a ler O Filho eterno, desconfiando de uma ficção que explorasse os estigmas de uma criança com síndrome de Down. Sinalizaria que ainda guardo certa dúvida, embora considere que a leitura do livro tenha dissipado parte da desconfiança. Mas não de todo. Fui convencido a ler por amigos que me anteciparam alguns desdobramentos da trama, a qual levaria o roteiro além do previsível, ou seja, os sofrimentos de um pai, tendo que aprender a lidar com um 29 Sibilia, Paula. O show do eu: a intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. 30 Sarlo, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. Trad. Rosa Freire d’Aguiar. S. Paulo: Companhia das Letras; Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2007. 31 Barthes, Roland. Roland Barthes par Roland Barthes. In: Oeuvres completes: t. 3, op. cit., p. 79249. 32 Tezza, Cristóvão. O filho eterno. 9ª. ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 67‐86, jul./dez. 2010. 80 filho portador da síndrome no começo dos anos 80, momento em que as terapias para o caso estavam bem pouco desenvolvidas e em que a deficiência ainda era chamada preconceituosamente como “mongolismo”. Duas coisas redobraram as dificuldades em dissipar o viés de autoajuda e de autocomiseração a posteriori que o livro contém. Por um lado, a obsessão do narrador-autor com a noção de “normalidade” e o equivalente adjetivo “normal”, palavras que se repetem dezenas de vezes ao longo da narrativa, sem que a inserção dentro de uma norma seja devidamente questionada mas apenas tangenciada como problema. Por outro lado, o assinalado recurso da terceira pessoa, um ele repetido estilisticamente à exaustão – tal recurso mal disfarça a presença obsessiva do eu. Egocentrismo escandalosamente evidente nos poucos comentários relativos ao sofrimento da esposa-mãe e menos ainda aos sentimentos da irmã, e mesmo da empregada. Como sublinhava Silviano Santiago ao caderno Mais!, numa resenha publicada bem antes que o livro se tornasse o sucesso de crítica e de público que veio a ser, a ausência já não diria da voz mas do ponto de vista feminino, empobrecendo a narrativa.33 Todo o universo das dúvidas se concentrava nesse “eu-falo” logo existo, sob os disfarces do “ele”. Como se nada mais existisse do que esse projeto de escritor que é o retrato do narrador quando jovem. Finalmente, e em terceiro lugar, apenas com exceção de um momento, a narrativa jamais assume o ponto de vista do maior interessado, o filho autista, este olhar da fronteira, que daria ficcionalmente toda uma coloratura diferencial à voz narrativa. Cito o trecho em que isso ocorre de modo pontual, com alguns desdobramentos até o final: “Quando o filho se vê nas gagues filmadas, o pai pensa – o que ele está vendo? Em que dimensão percebe a si mesmo?”34 Aqui o ele-narrador é outro mesmo, e não um simples avatar do eu. O Filho eterno é um romance de formação e de deformação. Formação de um escritor durante muitos anos fracassado todavia conhecido, e que só terá pleno reconhecimento justamente com esse livro em que a deformação constitutiva do filho – causada pela trissomia genética – trouxe enfim o ambicionado sucesso. A “falha” ou o “defeito de fabricação” constitutivos do outro ironicamente trazem a sonhada vitória de um escritor que acumulará com essa ficção seis prêmios de 33 Cf. Santiago, Silviano. Caminhos tortuosos. Mais!, Folha de S. Paulo, 2 set. 2007. 34 Tezza, Cristóvão. O filho eterno, op. cit., p. 189 (o livro tem 222 pp.). Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 67‐86, jul./dez. 2010. 81 primeira categoria em concursos nacionais. A autoficção se faz, portanto, em dupla clave, entre um tempo “presente”, mas na verdade já muito passado, pois decorre nos anos 1980, e outro anterior, os anos 1970 da ditadura em que viveu na Europa como estudante e trabalhador clandestino (mas há também um episódio mais antigo, da adolescência no interior do Paraná). O nome do autor não é repetido dentro da obra, porém o atestado de autoficção é dado pela coincidência dos livros que o personagem, futuro escritor reconhecido, publica e aqueles que de fato o escritor Cristóvão Tezza publicou. Assim, a formação do escritor será inelutavelmente marcada pelo sofrimento do pai com a “deformação” genética do filho. Como se nesse caso não fosse possível a afirmação do ditado, mas apenas a incerteza quanto a tal pai, qual filho. Porque para ser filho é preciso ter algo do pai no próprio queixo, nas expressões faciais, no jeito, ainda que de um modo totalmente outro, conforme uma das epígrafes do volume – a de Kierkegaard. Dentro do código da dita normalidade, um filho com coordenação motora reduzida e incapaz de plena autonomia, ainda que em tudo o mais detenha as características de um ser humano considerado normal, não é exatamente um filho. Para ser filho, é preciso parecer, sem maiores deformidades – a semelhança da prole confirma a identidade dos pais, mas sobretudo do Pai, no regime falocêntrico em que ainda vivemos e que determina o curso da narração. Apesar da delicadeza de algumas passagens, O Filho eterno desperdiça uma maravilhosa oportunidade de expor, sob diversos ângulos, as aflições por que passam todos os atores envolvidos nesse caso-limite de suposto desvio da normalidade. Ao se centrar nas angústias do autor-escritor-narrador-protagonista, o livro encerra a autoficção nos limites da afirmação às avessas do eu, numa relação especular com o autismo do filho, como aliás vem tematizado. O fato de também por em evidência o “autismo” de quem fala infelizmente não basta para abrir a narrativa em direção às paragens improváveis do outro, a não ser por alguns reflexos de memória. Se a dor persiste, é como um aguilhão que confirma a existência de quem sofre (o pai), muito aquém da quase inexistência social daquele (o filho) que está do outro lado de uma invisível fronteira: o assim batizado Felipe, o filho eterno. Os momentos mais belos, a meu ver, são exatamente aqueles (poucos) em que se sublinha a teatralidade das relações sociais. Destacam-se, pois, as microperformances, os teatros do eu em suas dificuldades com o outro, sobretudo quando esse outro – Felipe – tende a reinterpretar a seu modo a teatralidade do mundo. A performance é o discurso verbal e corporal que assume esse teatroCadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 67‐86, jul./dez. 2010. 82 mundo em relação ao qual o escritor nem de longe está isento. O escritor de autoficção seria, por definição, aquele que, ao fazer coisas com palavras, performa sua vida como o teatro em que o outro (ou a outra) tem vez e voz, e em que o protagonista pode ser destronado pelos supostos coadjuvantes. Para que finalmente, despojado de seus atavios, o monarca deposto (o autor) sirva a quem deve tudo – o leitor. Para concluir, citaria ainda um exemplo mais antigo de autoficcionalidade, por assim dizer antes da letra. Cioso da necessidade de deixar um testemunho acerca de sua formação literária para a posteridade, José de Alencar escreveu aquilo que seria o primeiro capítulo de um livro por vir. “Seria esse o livro de meus livros”,35 diz e grifa o autor de Iracema. Como e porque sou romancista acabou sendo o único capítulo escrito, sob forma de carta dirigida a um amigo, dentro de um dos raros e mais interessantes testamentos da literatura dita brasileira. Inscrevendo-se explicitamente no gênero da “autobiografia literária” (a expressão é de Alencar, com toda sua ambivalência, sem que se saiba o que pesa mais, se o adjetivo ou o substantivo), o texto contém diversos elementos de autoficção. De forma que pode ser lido de modo dúbio: tanto como a autobiografia “verídica” de um autêntico homem de letras, quanto como sua autoficção, um pequeno romance sob forma de ensaio. Nesse pequeno e inacabado romance ensaístico, cujo tema principal é justamente a forma-romance, em especial o romance romântico, em que Alencar se formou e que desenvolveu ao longo de sua vida – nesse romance à revelia, autor empírico, narrador e protagonista trocam os papéis. A intertroca se torna possível pela ampla ficcionalização dos fatos reais, ainda que pagando tributo a uma autoglorificação própria ao gênero autobiográfico. Declara Alencar: “Estes fatos jornaleiros [cotidianos], que à própria pessoa muitas vezes passam despercebidos sob a monotonia do presente, formam na biografia do escritor a urdidura da tela, que o mundo somente vê pela face do matiz e dos recamos [ornatos]”.36 Todavia, mais do que simples testemunho, o denso texto de Alencar é uma avaliação, em sentido nietzschiano, da instituição literária no Brasil do século XIX. Está ali registrado basicamente o gesto de ficção que é assumir uma carreira 35 Alencar, José de. Como e porque sou romancista. 2ª. ed. Campinas: Pontes, 2005, p. 12. 36 Ibid., p. 12, grifos meus. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 67‐86, jul./dez. 2010. 83 de escritor, desde os primeiros escritos da adolescência até as publicações da maturidade. A ficção começa aí: querer ser escritor. Ressalta a pobreza intelectual do meio cultural brasileiro da primeira metade do século XIX, até que se consiga estabelecer o sistema mínimo de uma literatura com seus produtores e sua crítica especializada, já na segunda metade. Haveria que aproximar esse libelo alencariano do Ecce homo, em que Nietzsche faz um balanço de sua vida por meio de suas obras, defendendo ambas da inépcia dos contemporâneos. Alencar se queixa, entre outras coisas, do silêncio em torno de seus primeiros livros, mas também de como a indiferença inicial passou à hostilidade diante do sucesso. Precioso é também o registro em relação ao leitor comum, não-especializado, que para ele constitui um parâmetro decisivo de sua atividade. No momento atual em que a literatura se virtualiza e em que segue uma deriva que ninguém sabe aonde vai dar, a avaliação alencariana é indispensável para pensarmos o lugar hoje dessa estranha instituição chamada literatura. À diferença da crítica niilista, porém não desprovida de algum acerto, de Flora Süssekind publicada no Prosa & Verso, do jornal O Globo,37 vale apostar num porvir de nossa literatura no contexto da literatura mundial, em tempos de globalização. Sem nos limitarmos às leis do mercado, cabe nos indagarmos o que de fato acontece quando alguém se senta e escreve ao correr da pena, ou ao correr do teclado. Que ficção é essa que leva a dizer que se vai escrever um poema, um romance, uma peça, um ensaio, quando ninguém lhe pede. Em contrapartida, quando se ganha certa reputação, há sempre quem pergunte pelo próximo livro, ainda que o formato livro esteja se refazendo, noutras páginas. Foi isso o que diagnosticou em entrevista recente o escritor norte-americano Philip Roth.38 Depois de publicar três dezenas de livros, numa consagração internacional, Roth interroga com espanto seu empresário, indagando-nos também, o que se tornará a partir de agora a publicação. Pergunta aflitiva para a qual ninguém tem nenhuma resposta. Cabe, no entanto, acreditar que as penas e os teclados literários 37 Süssekind, Flora. A crítica como papel de bala. Prosa & Verso, O Globo, 24 de maio de 2010, p. 1-2. 38 Roth, Philippe. Medo de perder talento liga Philippe Roth a protagonista de “A Humilhação”. Entrevista concedida a Cristina Fibe. Ilustrada, Folha de S. Paulo, 22 de maio de 2010. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 67‐86, jul./dez. 2010. 84 continuarão correndo, pelo menos até que surja outro invento com mesmo grau de ficção – ou, se quiserem, de auto ou de alterficção. Rio de Janeiro, 10 de maio de 2010. Juiz de Fora, 26 de maio de 2010. 85 Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 67‐86, jul./dez. 2010. 86 Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 67‐86, jul./dez. 2010. ANIMAIS BIOGRÁFICOS EM Poliedro, de Murilo Mendes Lyslei Nascimento1 & Filipe Amaral Rocha de Menezes2 A intrigante imagem do poliedro suscitada pelo título do livro de Murilo Mendes, como um “sólido geométrico com quatro ou mais faces, delimitado por polígonos planos”,3 remete o leitor para as muitas faces da poesia. Desde a etimologia grega da palavra: póly (vários) e hedra (faces), Murilo Mendes em cada um de seus verbetes, deixa vislumbrar, sob o manto diáfano da biografia, seres imaginários e animais que, ficcionalmente, passam a existir, imaginados pelo seu poeta-criador. O prefácio de Eliane Zagury, “Murilo Mendes e o Poliedro”,4 introduz o microcosmo de Poliedro.5 Nesse texto, a ênfase recai sobre o caráter metafísico da poética de Mendes e são ressaltadas outras características das múltiplas faces da obra, como a visionariedade – a capacidade de unir elementos opostos, “o geral ao particular, o regional ao universal, o inefável ao grosseiramente concreto”, estabelecendo certo caos intencional, meio pelo qual o poeta exprime sua ideologia.6 Segundo Zagury, em Poliedro, o poeta alcança a densidade máxima 1 Lyslei Nascimento é professora da UFMG. 2 Filipe Amaral Rocha de Menezes é Mestre em Letras: Teoria da Literatura, pela UFMG. 3 POLIEDRO. In: AULETE DIGITAL. Disponível em: http://www.auletedigital.com.br. 4 ZAGURY, Eliane. Murilo Mendes e o Poliedro. In: MENDES, Murilo. Poliedro. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1972. p. vii-xii. 5 MENDES, Murilo. Poliedro. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1972. 6 ZAGURY, 1972, p. ix. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 87‐106, jul./dez. 2010. que a língua suporta. A aparente fragmentação é irreal e o formato da obra, na verdade, não se trata de uma simples coletânea de fragmentos de prosa lírica, mas sim de uma estrutura cerrada, orgânica, bem montada sobre os alicerces de toda a obra anterior, outras partes do poliedro agora vislumbrado.7 Poliedro é dividido em partes que o escritor chamou de setores: “Setor microzoo”, dedicado a José Geraldo Vieira; “Setor Microlições de Coisas”, a Paulo Mendes de Almeida; “Setor a Palavra Circular”, a Haroldo de Campos; e “Setor Texto Délfico”, a José Guilherme Merquior. Acompanha, ainda, uma introdução chamada “Microdefinição do Autor”. Com características próprias, cada uma dessas partes, apesar da correlação entre si e dos elementos em comum, cumprem tarefas distintas: os animais são os objetos do “Setor microzoo” – foi criado para cada um deles um verbete no qual o poeta os descreve e relaciona diversas ideias e conceitos; no “Setor Microlições de Coisas”, são os objetos cotidianos que trazem as lições propostas pelo título; em “Setor a Palavra Circular”, objetos, conceitos, frases e pensamentos intitulam cada um dos verbetes, criando um ambiente ainda mais livre para a criação poética; no “Setor Texto Délfico”, como a pitonisa de Delfos, inebriada pelos humores provindos das fendas no solo, o poeta prediz os seus aforismos, oráculos e divagações. São quinze os animais que compõem o “Setor microzoo”. Além desses, Poliedro contém mais dois seres mitológicos, parte do “Setor a palavra circular”, e alguns objetos animados do “Setor microlições de coisas”. O “Setor microzoo” é estruturalmente um bestiário, entretanto, o seu conteúdo difere do comum nesse gênero. Nesse ponto, Mendes converge dois conceitos para criar o seu zoológico pessoal, do bestiário e do zoológico. O conceito de bestiário por Ettore FinazziAgrò, em parte, é aceitável para o trabalho do poeta: “Os bestiários são listas de animais das mais variadas espécies – e não necessariamente existentes – catalogados segundo as suas propriedades naturais e os seus valores simbólicos”.8 O “Setor microzoo” é, assim, uma lista de animais não existentes, mas baseados em modelos reais, classificados por suas propriedades naturais e valores 7 ZAGURY, 1972, p. xi. 8 BESTIARIO. In: LANCIANI, Giulia; TAVANI, Giuseppe. Dicionário da literatura medieval galega e portuguesa. 2. ed. Lisboa: Caminho, 2000. p. 83. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 87‐106, jul./dez. 2010. 88 simbólicos. Mendes, certamente, não se utiliza do modelo bestiário para repassar ensinamentos religiosos, mas como espaço livre para os seus aforismos, conceitos e memórias. Como exemplo, tome-se o verbete “A baleia”.9 No início desse verbete, o poeta propõe que a baleia é um “cetáceo da dinastia dos Balinídeos de forma quadradoredonda, cor de burro quando foge”.10 O que seria científico – classificar esse animal como um cetáceo – passa, assim, a ser uma forma irônica de se classificar, não chegando nem a ser pseudocientífica, mas humorística – ao concluir que é um animal que tem a forma “quadradoredonda” e de uma cor inclassificável, como a de “burro quando foge”. Outro dado que faz uma paródia com os tratados científicos é a citação a Herman Melville, de Moby Dick,11 sobre a aorta da baleia, que seria “maior no calibre do que o tubo maior do sistema de encanamentos de Londres”.12 Essa citação fortalece o mito do animal monstruoso, de proporções não mensuráveis. Entre todas essas informações pseudocientíficas, o poeta tem espaço para seus aforismos como: “A baleia: auto-suficiente, melvilleana, inexpugnável” e suas memórias: “Consultei a propósito um amigo de casa, o engenheiro Póvoa. Ele, conversando com meu pai, disse que eu estava nos arredores de perder o juízo: ‘É alarmante essa preocupação contínua do seu filho com arpão e baleia’”.13 A aproximação de “Setor microzoo” dos bestiários é feita propondo adequações do modelo medieval ao modelo moderno e muriliano, que absorve as influências vanguardistas do surrealismo e da sua poética essencialista. Outro conceito presente na escrita de Mendes, o dos zoológicos, dista em pouco dos bestiários: ambos são construções, uma textual, outra física, para a observação dos animais. Para Mendes, a ideia de zoológico se aproxima do conceito dado pela Associação Americana de Parques Zoológicos e Aquários, 9 MENDES, 1972, p. 14 e 15. 10 MENDES, 1972, p. 14. 11 MELVILLE, Herman. Moby Dick, or, The white whale. New York: Washington Square, 1949. 12 MENDES, 1972, p. 15. 13 MENDES, 1972, p. 14. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 87‐106, jul./dez. 2010. 89 segundo a qual, o zoológico seria “uma instituição organizada e permanente, essencialmente numa proposta educacional e estética”.14 No caso do “Setor microzoo”, pode-se concluir que o seu zoológico teria essas propostas educacional, estética e ideológica. Composto por seres textuais, não reais, baseados em arquétipos, o zoológico particular de Mendes compõe-se de animais domésticos, selvagens, aquáticos e insetos, descritos como num bestiário, mas dispostos nas suas jaulas-páginas a serviço de uma proposta estético-ideológica: seus animais metafísicos construídos sob uma estética surrealista cumprem a função de vetores do pensamento crítico e aforístico de Mendes. Outra noção importante que se tomou emprestado do texto muriliano, para a análise de sua obra e de todos os bestiários aqui estudados, é retirada de uma frase que se repete reiteradamente em Poliedro: “Embora admirando-os, nunca me senti muito à vontade com os bichos; mesmo algumas plantas ou certos frutos, por exemplo a begônia e o maracujá causavam-me receio. Desde o começo a natureza pareceu-me hostil”.15 Com essa confissão, pareceu possível depreender toda uma noção de mundo e de si por meio dos animais, partindo-se de um escritor que teria todo esse receio com a natureza hostilizada, a não ser pelo fato de ter reificado os animais, como a lagosta do “Setor microzoo”: “finalmente abatida, bloqueada, passada à máquina, e máquina de escrever”.16 Os animais surgem, então, na obra de Mendes, como objetos, semelhantes ao peão que o Jogador de Diabolô17 embala de um lado para outro, em acrobacias textuais, usando-se como bem entende para criar seus cenários e repassar uma série de ideias, conceitos, memórias. Os autores dos textos bestiários estudados no primeiro capítulo desta dissertação também se utilizam de seus animais-objetos para os mais diversos fins. Nas produções literárias contemporâneas que relêem os 14 CONWAY, William G. Zoo and Aquarium Philosophy. In: SAUSMAN, Karen. Zoological park and aquarium fundamentals. Wheeling: American Association Zoological Parks and Aquarium, 1982. p. 3. 15 MENDES, 1972, p. 7. 16 MENDES, 1972, p. 35. 17 Em referência ao autor. “O jogador de diabolô” é o nome de uma das divisões do primeiro livro de Murilo Mendes, Poemas. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 87‐106, jul./dez. 2010. 90 bestiários, como é o caso de Mendes, os autores, tributários de uma herança européia, escrevem seus livros, não conforme a prosa pseudocientífica ou moralizante do Physiologus,18 mas por meio de usos simbólicos, metafóricos, ou somente como uma retomada lúdica do gênero. Dessa forma, o estudo desses bestiários contribuiu para um mapeamento de seu estilo e estruturação. Para o alcance mais aprofundado da obra de Murilo Mendes, especificamente de Poliedro, foi necessário verificar como os escritores que releem os bestiários metaforicamente “passam à máquina” seus bichos e como, a partir disso, dessa textualização, constroem seus textos. Essa releitura pode ser dividida em dois grupos conforme as estruturas e os conteúdos e pela presença dos animais. Assim, existe uma literatura bestiária, na qual estão contidos os livros compostos por verbetes, sobre animais reais ou imaginários, e os bestiários, propriamente ditos, de origem na Idade Média; há, igualmente, uma literatura zoológica, na qual estão contidos os livros que tratam de animais, mas de forma diferente do formato bestiário, retratando-os nesse espaço de confinamento e de coleção que é o zoológico: eles são ainda mais transformados em objetos, pois ficam atrás de grades, sob o olhar atento ou distraído de passantes ou visitantes. Essa divisão foi planejada em dois grupos para facilitar as comparações e as associações com suas fontes e obras fundadoras. No primeiro grupo, focou-se a estrutura dos bestiários medievais como base para as aproximações, levando-se em conta o fundo comum: os animais como meros instrumentos para uma determinada intenção do seu autor. Assim, poderiam ser científicos, moralreligiosos, românticos. No segundo grupo, com maior interesse nos animais em si, mesmo sendo eles peças de uma exposição, buscaram-se os conceitos da instituição zoológica, o zoológico em si, para comparar a estrutura dessas entidades com a dos livros, coleções de animais presos em jaulas de papel e tinta. O texto abrangente de Poliedro, que se vale desses dois modelos, o bestiário e o zoológico, pôde, assim, ser estudado em sua estrutura: com verbetes-jaulas nos quais se introduzem microcosmos compostos por aforismos e pensamentos, além 18 COOK, Albert Stanburrough; PITMAN, James Hall. The old english physiologus: text and prose translation. London: Humphrey Milford, Oxford University Press, 1921. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 87‐106, jul./dez. 2010. 91 das memórias fragmentadas. É no espaço da criança, no zoológico, que Mendes relembra as ingênuas anedotas de uma infância. O “Setor microzoo” é uma espécie de conclusão de toda uma zoologia metafísica de Mendes, que passa por vários livros de sua obra. Os outros verbetes, poemas e citações sobre animais fora de Poliedro mantêm estrita relação tanto com a forma como são abordados, quanto ao conteúdo, com os animais do “Setor microzoo”. Poemas como “As andorinhas”,19 de Convergência, “Os peixes”,20 de Poesia liberdade, “Cavalos” e “Começo de biografia”,21 de As metamorfoses, contêm os mesmos elementos dos verbetes de Poliedro, apesar de não manterem a mesma estrutura de prosa-poética. Focados em animais insólitos, alguns reais outros míticos, portam os aforismos e traços da biografia de Mendes: a menina Dorinha colega de infância, em “As andorinhas”, os peixes restituídos ao “abismo totalitário”, na crítica política na época da escrita de “Os peixes”, os cavalos azuis que relincham para os aviões da Segunda Guerra Mundial, em “Cavalos”, e o pássaro lendário, diurno e noturno de “Começo de biografia”. O humor também pode ser encontrado de forma sutil e vai além das combinações insólitas, sendo, igualmente, baseado nas anedotas pessoais do escritor. Em Poliedro, o narrador ao mesclar traços autobiográficos com sua erudição e imaginação, às possíveis relações com os animais, objetos e conceitos, compõe, como uma colcha de retalhos, os retalhados verbetes. Esses traços variam conforme o tamanho de suas inserções, como em “A magnólia”,22 no qual o verbete inicia-se: “1915. De uma janela da casa paterna distingo no pomar a magnoleira, magnífica de largas folhas e flores”. Nesse caso, nessa única frase introdutória ao fragmento, o traço biográfico de Mendes apenas situa o leitor no tempo. Noutros momentos, compostos por parágrafos inteiros, além de estabelecer a relação com o objeto em questão no verbete, apresentam-se com humor fatos biográficos, como em “A caixinha de música”, no qual as anedotas pessoais ocupam quase totalmente o texto, como em: 19 MENDES, Murilo. Convergência. In: _____. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 735. 20 MENDES, Murilo. Poesia liberdade. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 109. 21 MENDES, Murilo. As metamorfoses. Rio de Janeiro: Record, 2002. MENDES, 1994, p. 68 e 52. 22 MENDES, 1972, p. 54. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 87‐106, jul./dez. 2010. 92 Na infância desmontei na casa de meu pai uma caixinha de música existente no oco dum grande álbum de retratos, com os mortos de sobrecasaca ressuscitados posteriormente pelo poeta Drumond, mais a mortas de vestido de cauda, espartilho e cabelos frisados. Eu queria ver a música da caixinha. Os meninos (não só os meninos) gostam mais de desmontar do que de montar coisas.23 Nota-se nesse trecho, além da memória de infância na casa do pai, elementos grotescos do humor surrealista, com a referência intertextual aos “mortos de sobrecasaca ressuscitados pelo poeta Drumond”.24 As anedotas pessoais trazem esses elementos memorialísticos, mas quase sempre acompanhados de situações que beiram o grotesco como o enfrentamento do menino com o galo, o primeiro armado de um bilboquê, o seu consequente desmaio ao deparar com a aranha caranguejeira, animal que inspirava medo tanto pelo seu nome quanto pela sua aparência ou os olhos da zebra, que lembravam os de dona Isaura, “uma das minhas mais simpáticas professoras primárias”.25 Segundo Cassiano Nunes, na poética muriliana explode um humor carioca, que contém alegria e uma visão dionisíaca da vida.26 Sendo mineiro, Mendes passou parte de sua vida no Rio de Janeiro, e a essa influência de uma cultura mais despojada e leve, Mário de Andrade atribui sua “inconcebível leveza, elasticidade, naturalidade com que o poeta passa do plano do corriqueiro pro da alucinação e os confunde”, além de afirmar que o mineiro de nascença é “dono de todas as carioquices”.27 Igualmente sobre o humor muriliano, Antônio Carlos Villaça tipifica cada um dos seus componentes, entre o surrealista e o bíblico, como feitos de “explosões temperamentais, revelações cristãs, ímpetos de santidade e um fundo excêntrico de profeta” (tradução nossa).28 23 MENDES, 1972, p. 62. 24 ANDRADE, Carlos Drummond de. Os mortos de sobrecasaca. In: _____. Sentimento do mundo. ed. especial. Rio de Janeiro; São Paulo: Record: Fundação Nestlé de Cultura, 1999. 25 MENDES, 1972, p. 32. 26 Cf. NUNES, Cassiano. O humor na poesia moderna do Brasil. In: _____. Breves estudos de literatura brasileira. São Paulo: Saraiva, 1969. p. 96-112. 27 ANDRADE, Mário de. A poesia em 1930. In: _____. Aspectos da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Americ, 1943. p. 43. 28 VILLAÇA, Antônio Carlos. El humor en la literatura brasileña. Revista de cultura brasileña. Barcelona, n. 40, dez. 1975, p. 69-78. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 87‐106, jul./dez. 2010. 93 Por fim, o essencialismo e a abstração do tempo e do espaço, seu ponto central, caracterizam Poliedro, mesmo sendo este localizado cronologicamente distante dos primeiros textos emergidos sob essa influência. Segundo Murilo Marcondes Moura, essa corrente de pensamento seria o aspecto propriamente ideológico do pensamento muriliano.29 Para Mendes, o sistema essencialista criado por seu amigo Ismael Nery é baseado na abstração do tempo e do espaço, e apenas mediante essa abstração seria possível se alcançar a essência do homem e das coisas. Com um fundo ideológico aproximado do surrealismo, procurava eliminar o que fosse supérfluo de forma a libertar o homem para uma vivência plena. 2 ANIMAIS E MONSTROS: um zoológico onírico Em “Setor microzoo”, alguns desses verbetes apropriam-se da imagem do animal, ser real, físico, palpável, para interpor questionamentos e concluir por meio de aforismos, questões metafísicas ou outras relativas a preocupações filosófico-religiosas do poeta. Assim sendo, pode-se dividir o esse setor de Poliedro em dois conjuntos, sobre os verbetes metafísico-aforísticos, com os quais, por meio das características de um animal, quer reais ou imaginárias, o poeta apresenta o seu pensamento, sua cultura e comentários diversos sobre os mais variados assuntos, criando uma trama em volta da figura animal, que deixa de ser física para se tornar uma abstração. O outro grupo seria composto pelos verbetes metafísico-biográficos, abordados posteriormente. Nos verbetes, Mendes se apropria de diversas tradições e culturas, na literatura e cultura popular, nas suas memórias e na antropofagia modernista. O poeta toma para si o que lhe convém, utiliza da forma que lhe interessa, para montar uma obra multifacetada, poliédrica. Contrariamente ao apelido dado por Manuel Bandeira, de “bicho-da-seda da poesia brasileira”,30 que retiraria tudo de si mesmo para seu fazer poético, Mendes, na verdade, utiliza-se de todo um 29 Cf. MOURA, Murilo Marcondes de. Murilo Mendes: a poesia como totalidade. São Paulo: Edusp, 1995, p. 40. 30 BANDEIRA, Manuel; CARPEAUX, Otto Maria. Apresentação da poesia brasileira: seguida de uma antologia de poetas brasileiros. Rio de Janeiro: Tecnoprint, [19--]. p. 150. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 87‐106, jul./dez. 2010. 94 arcabouço adquirido em sua sólida formação cultural e humanística para construir os elaborados verbetes de Poliedro. O primeiro verbete com essas características metafasíco-aforísticas tem como tema a tartaruga.31 Sobre o fato de esse animal ter uma carapaça, que ao mesmo tempo protege o seu frágil corpo e serve-lhe de abrigo, o poeta inicia a construção do texto com um argumento, baseado na tradição chinesa de que a tartaruga sustentaria o céu. Segundo Jean-Paul Ronecker, em O simbolismo animal,32 num argumento que confirmaria as afirmativas do poeta, esse réptil é “um cosmóforo, porque suas quatro patas, curtas e grossas, assemelham-se a pilares ou a colunas: é, pois, a ideia de solidez que predomina aí. Esse papel de suporte do mundo a aparenta com as mais altas divindades”.33 Além disso, é adjetivada de cariátide e autocariátide,34 concluindo-se que o poeta lhe atribuiria o poder de sustentar o mundo e de se autossustentar, em suas pernas-colunas. Nos verbetes de Murilo, algumas palavras ou conceitos funcionariam como hiperlinks de uma enciclopédia e um arquivo pessoal, ao mesmo tempo universal. Pode-se afirmar que seria uma memória enciclopédica na qual existe a tentativa de inventariar o mundo, de se colocar tudo dentro do texto, num outro sentido: de um passeio pelo seu intelecto, no qual um conceito puxa outro, ou um assunto lembra um autor, que lembra um poema, e assim, em Mendes, tudo estaria entrelaçado por uma corrente intelecto-sentimental. Além disso, faz-se o enorme trabalho da citação. Em toda a obra de Murilo Mendes é possível encontrar trechos de textos de outros autores e a citação direta, com confirmação da fonte, com menção do nome do citado em notas deixadas em alguns de seus livros. Em nota de Janelas verdes, o escritor afirma: “Às vezes cito versos de Camões, Bocage, Cesário Verde, etc., 31 MENDES, 1972, p. 9. 32 RONECKER, Jean-Paul. O simbolismo animal: mitos, crenças, lendas, arquétipos, folclore, imaginário. Trad. Benôni Lemos. São Paulo: Paulus, 1997. 33 TARTARUGA. In: RONECKER, 1997, p. 336-338. 34 Tipo de coluna com figura feminina esculpida, originária da Grécia antiga, cuja função é a de sustentar um entablamento. CARIÁTIDE. In: AULETE DIGITAL. Disponível em: http://www.auletedigital.com.br. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 87‐106, jul./dez. 2010. 95 sem aspas. Não faço ao leitor a injúria de pensar que os desconhece”.35 Em Retratos-relâmpago – 1ª série confessa: “Em alguns casos, dispensando aspas, inseri no texto palavras de escritores abordados. ‘Raimundo Corrêa’, logo se vê, resulta numa colagem”.36 Segundo Julio Castañon Guimarães em Territórios/conjunções,37 sobre o trabalho de citação de Mendes, o que o escritor pretendia fazer era “construir um discurso próprio”, ao utilizar-se de diversos excertos das mais variadas obras literárias, críticas e até mesmo pictóricas e musicais, como as comparações com a obra mozarteana. Dessa forma, o poeta elabora a sua tessitura costurando os mais variados trechos de diversas origens, citações e fontes com sua prosa e poética para criar o seu discurso e seu estilo. Ao adjetivar a girafa, no verbete homônimo,38 como douce, macia, delicada, atenciosa, o poeta passa a explicar a palavra francesa e desenvolve esse conceito até encontrar a expressão “a dolce vita da girafa”. Nesse momento, remete ao cineasta Federico Fellini, diretor do famoso filme La dolce vita,39 de 1960. Assim, as preferências cinematográficas do narrador, já explicitadas anteriormente, são novamente reafirmadas ao concluir que o cineasta italiano pertenceria a um seleto grupo de pessoas que teriam visto o animal. Segundo o narrador, somente os “visionários-realistas (ou os realistas-visionários) conseguem vê-la”. Assim como o título de um dos setores de Poliedro, Mendes perfaz o caminho da “palavra circular”, no qual, por intermédio do jogo de uma palavra/conceito puxando outro, ele novamente chega no início, como um uroboro textual. Outro verbete-animal é sobre a cobaia, no Brasil conhecido como porquinho-da-índia.40 Em apenas um parágrafo, o poeta descreve o seu animal, 35 MENDES, Murilo. Janelas verdes. In: _____. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 1445. 36 MENDES, 1994, p. 1702. 37 GUIMARÃES, Julio Castañon. Territórios/conjunções: poesia e prosa críticas de Murilo Mendes. Rio de Janeiro: Imago editora, 1993. 38 MENDES, 1972, p. 16-17. 39 LA DOLCE Vita. Direção: Federico Fellini. Itália: Koch-Lorber Films, 1960. 174 min. 40 MENDES, 1972, p. 23. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 87‐106, jul./dez. 2010. 96 “muito gracioso e fino, nada erpe”, teria sido visto pela primeira vez num poema de Manuel Bandeira. Esse poeta, que sempre teve uma relação amistosa com Mendes, escreveu o poema biográfico “Porquinho-da-índia”,41 no qual o animal foge dos carinhos da criança, refugiando-se debaixo do fogão. Iniciado pela expressão cronológica “quando eu tinha seis anos”, conta sobre o presenteado animalzinho e o seu esconderijo, mesmo com todo o esforço do menino, ele “não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas...”. O poema conclui com a afirmativa que o animal teria sido a primeira namorada do poeta. Além dos citados acima, há dois verbetes que não tratam de animais, mas monstros, ou seres imaginários, como queria Jorge Luis Borges, e talvez pelo conteúdo não foram localizados dentro do “Setor microzoo”. Ambos se encontram no “Setor a palavra circular”, que seria o setor mais aberto de Poliedro: nele há espaço para uma diversidade de temas, conceitos, anedotas, descrições e aforismos, permitindo, assim, o lugar dessas figuras mitológicas. “A Górgone”42 apresenta o monstro pertencente à mitologia greco-romana, definida por Pierre Commelin: “ora representam-nas como as Gréias, com um só olho e um só dente para as três, ora dão-lhes uma beleza estranha e atrativos fascinadores”.43 As górgonas eram três irmãs, Estênio, Euríale e Medusa, essa última a mais famosa por possuir enorme beleza causando inveja à deusa Minerva, que transformou seus cabelos em serpentes e dotou seu olhar do poder de transformar em pedra tudo o que visse.44 A Górgone muriliana é claramente a Medusa, entretanto, é como se as três irmãs fossem fundidas em um único ser, que se apresenta com uma “triplaface”. No pequeno verbete, pouco o narrador comenta do personagem e afirma conhecêla de vista e de ouvido, e não de “gosto, de cheiro e de toque”, por falta de coragem. Além da Medusa, a sua coragem também é limitada pelos objetos: o serrote, a torquês e o martelo. 41 BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira: poesias reunidas. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1966. p. 110. 42 MENDES, 1972, p. 82. 43 COMMELIN, Pierre. Mitologia grega e romana. Rio de Janeiro: Tecnoprint, [s.d.]. p. 114. 44 Cf. COMMELIN, [s.d.], p. 114. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 87‐106, jul./dez. 2010. 97 O outro monstro apresentado, em verbete homônimo, é o tibetano Ietí.45 É estranha a referência a um monstro mitológico tão distante e sobre o qual se tem tão pouco escrito. Entretanto, o que parece atrair o poeta são os fantasiosos intentos de se capturar tal besta, dos quais se ri, comentando terem eles tido pouco êxito, só “conseguindo captar suas pegadas”. Esse verbete contém o que seria uma teoria muriliana sobre o mito. O poeta estuda em poucas linhas a sua construção de um mito e, para ele, o Ietí tem por ofício o seu silêncio. Caso fosse capturado, não precisariam de “laço, espada ou bomba: bastaria entrevistá-lo, fotografá-lo, filmá-lo, televiosioná-lo”. Para Mendes, a comprovação material da existência desse monstro seria o suficiente para destruí-lo. Assim, o mito, para continuar existindo, deve manter-se inalcançável e inexplicável, sendo possível apenas encontrar poucas pistas, caso contrário, sendo comprovada sua existência, deixaria de ser mito, passaria a ser realidade. O seu Ietí está sempre em fuga para sua sobrevivência, “enquanto os rádios desencadeados no mundo inteiro discutem a existência ou não do ‘abominável’ homem da neve” – a dúvida é o que lhe mantém a vida. 3 OS ANIMAIS biográficos No segundo grupo de verbetes sobre animais em Poliedro – construídos a partir de fragmentos de pensamentos, citações, aforismos – são acrescidos de alguns traços biográficos do escritor. Esses traços, ou biografemas, com diria Roland Barthes,46 são comuns à obra de Mendes, desde o seu primeiro livro, Poemas.47 Entende-se o conceito de biografema de Barthes como na definição de Eneida Maria de Souza em Crítica cult: “responde pela construção de uma imagem fragmentária do sujeito, uma vez que não se acredita mais no estereótipo 45 MENDES, 1972, O Ietí, p. 103. 46 Cf. BARTHES, Roland. Prefácio. Sade, Fourier, Loyola. Trad. Mário Laranjeira. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. xvii. 47 MENDES, Murilo. Poemas 1925-1929. Juiz de Fora: Editorial Dias Cardoso, 1930. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 87‐106, jul./dez. 2010. 98 da totalidade e nem no relato de vida como registro de fidelidade e autocontrole”.48 Basear-se num conceito carente de credibilidade na totalidade e aplicá-lo à obra muriliana parece contraditório, entretanto, mesmo sendo um obcecado pelo “todo”, os tênues traços biográficos localizados em diversos pontos de sua obra, especificamente em Poliedro, não conseguem reconstituir um todo, mas fragmentos de um corpo outro, que para Barthes seria um “sujeito disperso, um pouco como as cinzas que se atiram ao vento após a morte”.49 Em Roland Barthes, Leyla Perrone-Moisés acrescenta que os biografemas comporiam uma biografia descontínua: “essa ‘biografia’ diferiria da biografiadestino, onde tudo se liga, fazendo sentido. O biografema é o detalhe insignificante, fosco”.50 Assim, os diversos traços biográficos encontrados nos verbetes sobre animais do “Setor microzoo”, compostos de fragmentos de memórias totalmente deslocados e libertos de uma cronologia, compõem uma biografia fragmentada, repleta de detalhes pouco relevantes numa oposição clara ao modelo de um livro de memórias, o qual é composto por fatos comprováveis. As pistas memorialísticas apresentadas em Poliedro podem constituir uma “memória” ou uma “autobiografia”, pois o narrador se cerca de diversos elementos, ali dispostos para compor um cenário, formando certa aura factível, palpável, mas impossível de ser comprovada de fato. Essa memória não é compatível com a biografia do escritor Murilo Mendes, mas, como Barthes afirma, de um sujeito disperso, fictício, ou seja, outro Murilo Mendes. Como exemplo, toma-se o primeiro verbete do “Setor microzoo”, “O galo”.51 De todos os verbetes, apenas em “O galo” a escrita biográfica toma completamente o texto. No primeiro parágrafo, o narrador já apresenta os elementos do seu cenário, como: “Quando eu era menino”; “talvez viesse das abas redondas de Chapéu d’Uvas” e “ou das praias que eu imaginava no Mar de Espanha”. Essas três referências são dispostas para dar a localização cronológica 48 SOUZA, Eneida Maria de. Crítica cult. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. p. 113. 49 BARTHES, 2005, p. xvii. 50 PERRONE-MOISÉS, Leyla. Roland Barthes. São Paulo: Brasiliense, 1983. p. 15. 51 MENDES, 1972, p. 7-8. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 87‐106, jul./dez. 2010. 99 do fato ocorrido com o próprio poeta Murilo Mendes: apelando para a infância, o narrador apresenta referências geográficas de Juiz de Fora, onde o poeta nasceu, citando “Chapéu d’Uvas”, nome de região rural e Mar de Espanha, localidade de nome curioso e intrigante a qualquer criança, ambos próximos a sua cidade. Já desenhado parte do seu cenário, o narrador inicia a anedota sobre o enfrentamento entre um menino e um galo recém-chegado ao galinheiro de sua família. O galo é descrito como “soberbo, fastoso, corpo real, portador de plumagem azul-verde-vermelha”. O menino, aqui como narrador-personagem, tenta em vão uma aproximação com o animal, que o olha desconfiado. O galo o examinou e posicionou-se para um enfrentamento, causando perplexidade no menino que recuou por medo que o bicasse ou lhe disparasse um jato de dejeções. Em seguida, o menino esgueirou-se para dentro do galinheiro empunhando um bilboquê. Novamente, o narrador se cerca de um detalhe para dar crédito ao teor biográfico. Esse brinquedo já fora apresentado em outros poemas de Mendes que tomariam por referência sua infância e também em A idade do serrote,52 obra repleta de conteúdo biográfico. Nesse enfrentamento, o galo vence, “abanou a cabeça rindo, um riso voltaireano, adstringente” e em seguida, cobriu duas galinhas, para despeito do menino que recua furioso. Outros elementos alimentam a ira do menino, como a lembrança de que “o galo denunciara São Pedro na noite da entrega de Jesus Cristo à polícia”, ao que considera o animal um “espoleta, raça de gente que sempre odiei”. Assim, como o narrador afirma, mesmo “ignorante de que o galo era um dos bichos consagrados a Apolo, sem rodeios nem consideração pela sua caleidoscópica plumagem”, o menino invade o galinheiro e estrangula o galo. Assim, pode finalmente voltar a ouvir o canto “dos galos distantes de Chapéu d’Uvas ou Mar de Espanha”, e esses seriam animais de outra raça, diferente do “quinta-coluna que denunciara São Pedro”. Da mesma forma, com as várias associações, o poeta apresenta o verbete “A baleia”.53 Os adjetivos compostos por prefixos “auto” são usados para demonstrar a grandeza da baleia, que seria para ele o animal completamente autossuficiente, “movida a óleo de autopropulsão, se auto-informa, se auto-espanta e não se 52 MENDES, Murilo. Meu pai. In: _____. A idade do serrote. Rio de Janeiro: Record, 2003. 53 MENDES, 1972, p. 14-15. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 87‐106, jul./dez. 2010. 100 comunica com pessoa alguma ou bicho”. É um “automuro”. Considerada impossível de se eliminar. Nesses fragmentos a baleia se assemelha às bestas de um bestiário medieval: é chamada de baleia (cetus – peixe grande) por causa do seu aterrorizante corpo e por que esse animal engoliu (excepit – receber, acolher) Jonas, e sua barriga era tão grande que as pessoas pensavam ser o próprio inferno. Jonas, ele mesmo, lembrou: Ele me tirou das entranhas do inferno.54 Esse animal fantástico, mas real, é passível de várias referências, principalmente com a Bíblia, pela história do profeta Jonas, e com a mais famosa de todas as baleias, Moby Dick, de Herman Melville. O poeta a caracteriza como “melvilleana”, ou seja, com as grandiosas proporções do monstro descrito pelo escritor norte-americano. No último fragmento do verbete, há uma colagem de Moby Dick, sobre o tamanho da aorta da baleia, que teria maior calibre “do que o tubo maior do sistema de encanamento de Londres, e a água que ruge na passagem de tal tubo é inferior em ímpeto e velocidade ao sangue que jorra do coração da baleia”. O poeta inverte a tradição bíblica e no seu texto é a baleia que entra no oco de Jonas, “restituindo assim a visita que o profeta fizera anteriormente ao seu próprio oco”, e, dentro do seu corpo, a baleia depara com histórias e fatos fantásticos, “deste e de outro mundo, que os profetas sabidos conhecem, ruminam, difundem entre os homens e os bichos”. O texto bíblico na história do profeta Jonas (Jn 1:17)55 traz a expressão “grande peixe”, entretanto, é aceitável para muitos estudiosos e críticos a acepção de baleia56 – significado esse que de forma alguma faz perder o sentido da história bíblica e sua riqueza de sentidos e ensinamentos. Ao contrário da baleia branca de Melville, a de Mendes é “cor de burro quando foge”, de certa cor inclassificável ou desconhecida, própria da imaginação 54 THE WHALE. In: WHITE, T. H. The bestiary: a book of beasts. New York: Capricorn Books, 1960. 55 BIBLIA SAGRADA. A. T. Jonas. 1997. cap. 1, p. 1280. 56 Cf. BALEIA. In: CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, costumes, formas, figuras, cores, números. 7. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Jose Olympio, 1993. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 87‐106, jul./dez. 2010. 101 do poeta. Classificada como cetáceo, essa baleia, “animal bárbaro, barbado” pertenceria à dinastia dos Balenídeos. O poeta afirma que “in illo tempore” (naquele tempo), sonhava em construir um arpão para aferrar essa baleia mítica do profeta Jonas, motivo de alarme para um amigo de sua família. Esse engenheiro Póvoa teria afirmado para o pai do poeta: “É alarmante essa preocupação contínua do seu filho com o arpão e baleia”, ao que o narrador responde com todas as “auto” características maravilhosas da baleia, concluindo que “todas as coisas são alarmantes; por sinal que a baleia não é das mais”. A marcação do tempo na época da infância com a frase “quando menino nas viagens pelo interior de Minas com a família” inicia o verbete “O boi”.57 O traço biográfico constrói a primeira comparação, entre a velocidade do cavalo e a força e a valentia do boi – montado sobre este, o menino se “sentiria muito mais seguro”. Sobre a figura mítica deste animal, irmanada com a do touro, pode-se depreender várias associações. No segundo parágrafo, apropriando-se de uma longa tradição, o poeta comenta sobre “costumes derivados dos egípcios, gregos e romanos” para as comemorações do equinócio de primavera e se lembra de uma festa medieval francesa. O texto do verbete “Pavão” ao iniciar-se por “de menino conheci o pavão”, professa suas bases biográficas. A presença desse animal imponente no “jardimlabirinto” da residência de suas primas, de sua Persépolis particular, faz com que seja “mais realista que fantasista”: ele próprio afirma, “não de Persépolis, mas de Juiz de Fora”. Essa é a portada de seu verbete, e por meio dele se abre um microcosmo de significados e pensamentos encadeados. O pavão, juntamente com uma diversidade de outros bichos nos jardins da casa de Titiá, imponente residência da Baronesa de Santa Helena, ainda habitava o parque da Villa Sciarra, próximo à residência dos Mendes em Roma, era perseguido por outras crianças, entretanto, segundo o poeta, já esquecido devido ao declínio da poesia e da pintura simbolistas, dos quais era uma espécie de ave símbolo, é modelo por sua vida utilitária, ao fornecer as suas penas industrializadas, e por “ditadores e gerarcas”, que o imitam levantando suas caudas, ruantes. O poeta ainda se lembra da fêmea do pavão, a pavana, palavra 57 MENDES, 1972, p. 19-20. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 87‐106, jul./dez. 2010. 102 para ele ignorável, sendo por ele preferidas as pavanas compostas por JeanBaptiste Lulli e Maurice Ravel, dança popular de “lentos ademanes”. A memória intelectual do poeta, aquela que vai além de lembranças pessoais, constitui um aparato para a construção de seu texto. O percevejo que incomodava seu sono na infância é relembrado de um texto de André Gide, Les caves du Vatican. O poeta afirma que o inseto “vai e volta, sinuoso, sem que se consiga situá-lo”, ao passo que o francês explica: “Les punaises ont des moeurs particulières; elles attendent que la bougie soit soufflée, et, sitôt dans le noir, s'élancent. Elles ne se dirigent pas au hasard; vont droit au cou, qu'elles prédilectionnent” (os percevejos têm modos particulares; eles esperam que a vela seja apagada, e, no meio da escuridão, atacam. Eles não se movem ao acaso, vão diretamente ao pescoço, sua predileção. Tradução nossa).58 Por toda a sua obra, Mendes exerce esse ofício de colagem, como já analisado anteriormente, e, como nesse caso, reconstitui o texto colado à sua maneira, dando-lhe sua particular versão. O inseto farejador de sangue humano foi utilizado na guerra do Vietnã pelos norte-americanos para encontrar os vietnamitas em suas trincheiras, o que faz o narrador afirmar que só pode ser anulado pelas chamas. Desse fogo para seu combate, são retiradas mais algumas lembranças de sua casa paterna. Apenas pela eliminação dos colchões queimados no quintal seria possível livrar a família de uma “esquadrilha de percevejos”. Com esse fato, o narrador, temeroso do inseto sugador de sangue, sentia-se “meninissimamente vingado e aliviado”, por meio desse “rito de purgação”. O menino que observa as chamas consumirem os colchões infestados é o adulto que visita o jardim zoológico, o espaço próprio da criança. Nos últimos verbetes abordados, os animais enquadrados são apresentados ao narrador em zoológicos, “em plena juventude”, no do Rio de Janeiro, “A preguiça”,59 e no de Antuérpia, “há vários anos atrás”, “A zebra”.60 A preguiça, animal assim denominado pelos portugueses na época da colonização “por ser tão preguiçoso e 58 GIDE, Andre. Les caves du Vatican. Project http://www.gutenberg.org/etext/6739. Acesso em: 6 abr. 10. 59 MENDES, 1972, p. 29-31. 60 MENDES, 1972, p. 32-33. Gutenberg. Disponível Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 87‐106, jul./dez. 2010. em: 103 tardo em mover os pés e mãos, que, para subir a uma árvore, ou andar um espaço de vinte palmos, é mister meia hora”,61 é velho conhecido do narrador, como ele mesmo afirma: “muito cedo descobri, naturalmente, o bicho-preguiça”. Entretanto, o seu encontro no zoológico do Rio foi fundamental para que ele obtivesse a “revelação de sua importância”. Os pequenos fatos biográficos dispersos pelos verbetes, pistas memorialísticas poderiam recriar a memória ou uma imagem fragmentada de um indivíduo, bem a exemplo do conceito de biografema de Barthes. A ideia de um texto autobiográfico muriliano, mesmo que considerada toda a sua obra literária, não seria possível nos moldes apresentadas por Philippe Lejeune em O pacto autobiográfico.62 Para Lejeune, esse texto contém algumas características peculiares, e “a autobiografia é o gênero literário que, por seu próprio conteúdo, melhor marca a confusão entre autor e pessoa”.63 Essa caracterização, entretanto, não é suficiente para definir os verbetes de Poliedro. Assim, esse gênero biográfico carece de uma retrospectiva, e o seu assunto deveria ser principalmente a vida individual do seu personagem – personagem que se confunde com o narrador e com a figura do autor. Essa retrospectiva procuraria basear-se na totalidade das experiências de um indivíduo, sabidamente uma missão impossível, mas ao menos uma cobertura de fatos imprescindíveis em determinado período cronológico de sua vida. A idade do serrote se aproximaria desse conceito por delimitar os fatos da infância de Mendes; mesmo assim, a biografia do seu narrador é repleta de lacunas comumente preenchidas em textos de caráter histórico-biográficos. Outra questão proposta por Lejeune, que não é completamente satisfeita por Poliedro, seria o pacto autobiográfico. Esse pacto estabelecido entre o autor e o seu leitor seria a confirmação de uma intenção biográfica, no qual o narrador se comprometeria a repassar para o seu leitor informações de sua vida. A partir do nome próprio é que se estabeleceria essa relação, como afirma Lejeune: 61 PREGUIÇA. In: CASCUDO, Luiz da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. 10 ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007, p. 732. 62 LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiográfico: de Rousseau à Internet. Trad. Jovita Maria Gerheim Noronha e Maria Inês Coimbra Guedes. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 63 LEJEUNE, 2008, p. 33. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 87‐106, jul./dez. 2010. 104 É nesse nome que se resume toda a existência do que chamamos de autor: única marca no texto de uma realidade extratextual indubitável, remetendo a uma pessoa real, que solicita, dessa forma, que lhe seja, em última instância, atribuída a responsabilidade da enunciação de todo o texto escrito.64 Entretanto, essa outra condição é também apenas cumprida em partes por Mendes. Não há afirmação de que aquilo que será exposto em Poliedro, ou mesmo em A idade do serrote, será a biografia do poeta, mesmo com o uso contínuo da primeira pessoa narrativa, ou como no poema “Murilo menino”,65 de Poesia liberdade, e nas diversas pistas que poderiam confirmar sua localização geográfica e de elementos familiares comprováveis, como os nomes de amigos da família, o engenheiro Póvoa ou de sua professora primária dona Isaura, respectivamente nos verbetes “A baleia” e “A zebra”. O tratamento dado aos traços biográficos em Poliedro, baseado no conceito de biografema de Barthes, seria uma melhor compreensão do elemento autobiográfico e sua função na obra. Poder-se-ia depreender de Poliedro uma minibiografia de certo indivíduo passível de ser identificado com o poeta Murilo Mendes, sobre fatos esparsos de sua infância como alguma viagem feita pelo interior de Minas com sua família, conforme “O boi”, ou aprazíveis momentos em um jardim-labirinto em companhia de suas primas, em “O pavão”, ou a lembrança de pobres lambaris do rio Paraibuna, de “O peixe”. Diante disso, salienta-se a afirmativa de Leyla Perrone-Moisés que o biografema “teria por objeto pormenores isolados, que comporiam uma biografia descontínua”,66 e este seria o que o poeta compõe por meio de lembranças insignificantes, de momentos cronologicamente desconexos. Cria-se, dessa forma, um texto descontinuado, repleto de lacunas as quais não se interessa em preencher, mas fornecer ao seu leitor momentos de pequenos prazeres, tal qual queria Barthes: uma vida reduzida a alguns pormenores, a alguns gostos, a algumas inflexões, que comporiam um corpo futuro, prometido à mesma 64 LEJEUNE, 2008, p. 23. 65 MENDES, 2001, p. 49. 66 PERRONE-MOISÉS, 1983, p. 15. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 87‐106, jul./dez. 2010. 105 dispersão.67 Assim, Mendes se empenharia em oferecer ao seu leitor vestígios de um corpo futuro, personagem de si mesmo. Os animais, quando passados pela “máquina de escrever”, são finamente subjugados e colocados a serviço de um rememorar. As memórias da infância, boas ou más, não são mais do que associações nascidas do exercício de criação dos verbetes, isto é, o microcosmo de todo um intelecto, memórias, conhecimento e cultura acumulados, como a apresentação de cada lado de uma vida poliédrica em um verbete, de forma a recriar-se textualmente esse personagem de si. O corpo futuro visualizado nos verbetes do “Setor microzoo” é um holograma, uma imagem verossímil desse personagem que se apropria de todo um arcabouço intelecto-sentimental para se materializar. Os traços de memória, como flashes de experiências corriqueiras, como a expressão alarmada do engenheiro Póvoa ao perceber a obsessão do filho do amigo, pai do narrador, com um arpão para aferrar a baleia melvilleana, ou as labaredas que comem os colchões infestados de percevejos no quintal da casa paterna, ou ainda o canto distante de um galo desconhecido, vão surgir, vez por outra, nos textos de Murilo Mendes em concomitância com a narrativa em que animais são citados, referenciados ou aludidos, isto é, ao se enfocar determinado animal, o poeta rememora uma experiência simples e comum de caráter autobiográfico. É nesse processo, respondendo ao estímulo causado pelo enfoque a algum animal, que a escrita de Poliedro parece compor um mosaico biográfico. Nesse espaço lúdico, na maioria das vezes, da infância, o poeta se reinventa. No traço indelével dos animais em sua memória, o poeta se reinventa biograficamente na escrita. 67 Cf. BARTHES, 2005, p. xvii. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 87‐106, jul./dez. 2010. 106 MÍTICO LORCA: el poeta como simulacro María Ángeles Grande Rosales1 Quiero dormir un rato, un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto De la muerte oscura, F. García Lorca INTRODUCCIÓN Hoy, 18 de Agosto, he recibido un correo electrónico con la invitación a asistir a un homenaje en conmemoración de la muerte de Federico García Lorca, con lectura de sus versos a cargo de la actriz Blanca Portillo y uno de los poetas granadinos más relevantes, Luis García Montero. Acabo de pasar casualmente por el Parque emblemático que se le dedicó en 2006 en torno a la Huerta de San Vicente. Los periódicos hablan del éxito rotundo de Poema del Cante Jondo, representado en los Jardines del Generalife en las noches de este caluroso Agosto como una atracción turística más de la ciudad, e igualmente, en los Veranos del Corral del Carbón, antiguo corral de comedias de Granada, la Compañía Teatro para un instante estrena La Tragicomedia de Don Cristobal y la Señá Rosita. No cabe duda de que Federico García Lorca* es un poeta vivo, un símbolo de la ciudad, hasta tal punto que incluso da nombre al aeropuerto granadino. Su proyección institucional también es amplia: García Lorca tiene Fundación, revista propia, una Casa-Museo en Fuentevaqueros, el pueblo donde nació, y otra en la Huerta de San Vicente, Cátedra en la Universidad de Granada, un premio universitario en su honor, así como numerosas biografías y evocaciones 1 María Ángeles Grande Rosales é professora da Universidad de Granada – Espanha. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. a cargo de intelectuales y artistas relevantes, historiadores y críticos, una proliferación informativa que lo singulariza frente a otros poetas españoles de su tiempo. Esculturas y retratos del insigne autor pueblan la geografía andaluza, española y americana; calles, plazas y teatros llevan su nombre. Su amplio espectro llega a también a lo más trivial: en Londres y San Francisco pubs y restaurantes se acogen a las connotaciones exóticas que emana su personalidad, el metro de Londres simboliza en él lo hispánico por antonomasia y su figura y grafía inconfundible se multiplican en su Granada natal en infinitos souvenirs apilados junto a la escenografía kitsch de los trajes de gitana, camisetas decoradas y carteles taurinos. Entre los innumerables ejemplos a los que podríamos aludir, Manolo Blakhnik, el famoso diseñador de zapatos, acaba de afirmar en una entrevista que García Lorca es el centro de su colección española, y comenta que su poesía le ha dictado los tonos de su nuevo modelo Madrid: "el matiz del albero, el malva y los granas están en el Romancero gitano. Me limito a copiar". Sin duda, esa fama se debe a la peculiaridad de la leyenda vital que él mismo fomentó, aunque el mito Lorca se crea a partir de la muerte prematura y brutal del poeta que simboliza la herida abierta de la Guerra Civil española (19361939). En efecto, el asesinato de Lorca es uno de los factores desencadenantes del interés biográfico sobre su figura, mientras que su vida, elevada a la categoría de mito, se entremezcla de forma sinuosa con el sentido y supervivencia de su creación literaria. María Delgado, autora de un excelente estudio sobre el autor (2008), afirma que Lorca es una “marca nacional”, un icono político contracultural garante de beneficios valiosos que se exportan a través del mercado cultural global: His eventful life has proved an enduring trope in reading his poetic and dramatic output. It has been the performance of his life rather than the performance of his work that has served as the primary prism through which to refract his dramaturgy (…) The conspicuous absence of his dramaturgy on the Spanish Stage during the early years of Franco´s dictatorship, and the absence of a complete edition of his work until 1953, rendered him the forbidden “other”, more desired in death than in life” (2). Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 108 109 I. DE LA CRÍTICA BIOGRÁFICA a la crítica cultural La vida es incoherente, pero pedimos que una biografía no lo sea, que intente estructurar el azar. El relato biográfico, tradicionalmente un género instrumental, subsidiario de la historia, ha ido dejando cada vez más de lado a lo largo del siglo XX su servidumbre historiográfica para convertirse en un género literario. Aunque la distancia entre sujeto biográfico y sujeto histórico siempre acababa siendo insalvable, la nueva biografía agudiza esta brecha y apuesta, en conciencia, por el simulacro y la construcción literaria. Frente a la impostura de la realidad, la narración construiría la única identidad posible de un sujeto carente de Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. certezas ontológicas, renovando así la ilusión de conocimiento mediante la palabra. De forma similar, la crítica biográfica ha proporcionado una mirada ambivalente sobre la creación artística y literaria en general. Puesto que el autor, el creador, es la causa más evidente de una obra de arte, explicar su vida, su personalidad y vivencias pemitiría un acceso directo a su alma. Si el objeto estético expresa la intimidad del autor, adentrarse en una obra literaria supone acceder a la individualidad que la ha creado, en una especie de simbiosis animista. En otras palabras, dado que el objeto estético es una creación que incluye en sí misma al creador, conociendo el objeto se conocerá el sujeto que lo ha creado y viceversa, conociendo al hombre se conocerá su obra. Fue Sainte-Beuve quien generalizó este método extendiéndolo como modelo explicativo de la producción crítica del XIX (y aún del XX). Quizá la forma más simplista de crítica histórica, sancionada por el estudioso francés a mediados del siglo XIX, se impone como visión claramente antropológica de lo literario, donde el centro de gravedad del crítico está basado en lo biográfico. Desde esta perspectiva, interesa mucho más el hombre que la obra y la investigación literaria queda subordinada a la biográfica. Tres son los casos más comunes de la utilización de este método: interesarse por ciertos datos de la biografía del autor que arrojan luz sobre la obra, interesarse por datos que explican la personalidad del autor o interesarse por datos que de forma general pueden ser utilizados para el estudio de la psicología de la creación artística. Por su parte, el horizonte positivista también sostiene la utilidad del estudio biográfico, en tanto que la literatura consiste en la expresión del espíritu humano a través de los textos. También es propia del positivismo la idea de que describir un objeto es conocerlo, por lo que la lectura de los biografemas de un autor supone “comprender” su obra, aprehender y poseer en grado sumo la verdad de sus creaciones. Aún así, pese a que en los manuales de teoría literaria se advierte que el biografismo ingenuo y su ambición de llegar al “alma” del escritor parecen completamente desterrados en la actualidad (p.ej. Viñas, 2002: 329), están bastante más presentes en el proceso de canonización literaria de lo que podemos imaginar. En cualquier caso el célebre “Contra Sainte-Beuve” de Proust dejaba claro que era inoperante la identificación del “yo” personal del autor con el “yo” autor de la obra. El “yo” del escritor solo está en sus libros. La única manera de conocer ese secretum poeticum es por medio de la “simpatía” en sentido etimológico, cuestión sobre la que redunda Philippe Lejeune al insistir en que lo Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 110 esencial no es la existencia cotidiana del escritor, su vida privada, sino el “yo” de la creación, inmediatamente público. Resulta cuestionable y del todo injustificado buscar la relación causa-efecto entre la vida privada de un escritor y su obra, que de existir quedaría las más de las veces en el ámbito de lo anecdótico. Quizá muchas veces se olvida que desde el punto de vista crítico hay siempre prioridad de la obra sobre el autor, y que el circuito de comprensión va de la obra al autor para retornar a la obra, y no del autor a la obra para retornar al autor. El biografismo siempre ha sido una parte importante de la historia literaria, aún denostado por su subjetividad intrínseca, por el hecho de constituir una mirada externa sobre la realidad. Como aproximación extrínseca a la literatura, el formalismo del primer tercio del siglo XX menospreció su importancia como algo ajeno al núcleo cientifista del objeto literario, al estudio técnico-formal del artefacto estético, esa literariedad resbaladiza hasta ahora excesivamente lastrada de humanismo. Los nuevos críticos rebatirían la intentional phallacy, en el fondo la defensa de la propiedad del sentido del texto por parte del escritor, mientras que Sklovski manifestaría de forma epidíctica que el autor es el punto de intersección geométrico de fuerzas que operan fuera de él. El antihumanismo estructuralista, por su parte, haría el resto: Barthes profetizaría la muerte del autor, mientras que Foucault hablaba de la posibilidad de hacer una historia sin sujeto donde los vectores discursivos trazados desde el poder y el saber dinamitaran la lógica imaginaria de un sujeto burgués defensor de una igualdad teórica y una libertad abstracta. Por su parte, Derrida atacaba la psicobiografía, que intentaría apresar lo inaferrable dado que la escritura es, ante todo, la manifestación de una ausencia. Pese a todo, es un hecho de que a la teórica muerte del autor corresponde en la actualidad una curiosidad creciente por el autor de carne y hueso, por la imagen pública del escritor elevado las más de las veces a la categoría de mito. Cabe replantearse, por tanto, desde la encrucijada de la crisis discursiva actual, la licitud de esta perspectiva crítica injustamente denostada desde el inmanentismo teórico del siglo XX. Si desde los Estudios Culturales la literatura se considera en su carácter sistémico como una entidad no autosuficiente, sino interrelacionada con múltiples factores externos, el hecho biográfico puede reconsiderarse como uno de los mismos, en la misma medida en que otros factores tradicionalmente excluidos de la visión teórica de la literatura como el género, la identidad o la raza constituyen en la actualidad categorías relevantes de alcance insospechado en la consideración de la literatura. Éste es el hilo conductor de este trabajo, mostrar en qué medida la Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 111 institución literaria tiene sus propios mecanismos de funcionamiento que confieren a un autor, como es el caso que nos ocupa, la categoría de fenómeno discursivo complejo. En él la vida, la anécdota biográfica, se vuelve crucial, no por razones estrictamente literarias, sino culturales. Solo un enfoque amplio puede dar cuenta de la literatura como hecho cultural, incluso antropológico, definitorio de una colectividad. Como veremos más adelante, una biografía como la de Ian Gibson de Federico García Lorca (1998) supone el culto a una personalidad, que en una curiosa usurpación de funciones se convierte en potencial objeto de valoración estética. Así, la biografía como interés por los datos de la vida de un escritor que arrojen luz sobre su obra literaria constituye sin ninguna duda parte de un proceso absolutamente legítimo de hermenética de recuperación de un autor, que pretende reconstruir el contexto original de producción de los textos. Como género historiográfico, a nadie se le oculta la importancia de una información que explica e ilustra la creación poética, de la misma manera que la ecdótica o la crítica filológico-textual contextualizaron e hicieron legibles los documentos literarios del pasado. Salvo en el malentendido productivo de Sainte-Beuve, la crítica biográfica rigurosa va mucho más allá de constatar la relación causa-efecto entre vida privada y obra literaria. El arte nunca es completamente autoexpresión, transcripción en bruto de sentimientos y experiencias personales, ya que este material siempre se procesará de acuerdo con las reglas del arte, puesto que una creación artísitica nunca es un “documento” biográfico. Por otra parte, si bien el biografismo es un ingrediente más en el macrocosmos literario, desde luego su valor exegético es impagable, así como la información que nos proporciona sobre el campo discursivo –recordemos a Bourdieu- en el que se inscribe la obra: lecturas del poeta, relaciones personales, viajes, ciudades en las que vivió…todo ello forma un material impagable para valorar la tradición de la que un escritor forma parte, el estudio de las correlaciones culturales de su tiempo que funcionan sobre la base de pertinencias recíprocas. En cualquier caso, todo esto resulta ajeno a la apreciación estética de la obra, ya que ningún suceso biográfico puede afectar a la valoración artística. La pretendida “sinceridad” de un autor es algo trivial o irrelevante en la apreciación literaria (forma parte de la sustancia, del material en bruto sin transformar) desde el carácter ficcional que define la autonomía artística, ya que solo la elaboración formal de cualquier motivo temático puede proporcionale eficacia estética. Considerar el arte como pura y simplemente autoexpresión, transcripción de Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 112 sentimientos y experiencias personales constituye una falacia romántica magníficamente rebatida desde el escepticismo contemporáneo. Solo cuando sabemos que la literatura, o la poesía es mentira, podemos escribirla de verdad. Todo procedimiento artístico subraya su carácter construido, indirecto: “el arte es la emoción revivida en tranquilidad”, decía Wordsworth. La literatura, el único ámbito cósmico del mismo tamaño que la luna, no es la transmisión transparente y directa de una vivencia, sino una técnica que asume la tradición y las convenciones literarias al uso. Como afirma Wellek, “El poema existe; las lágrimas, derramadas o no, las emociones personales, se han desvanecido y no pueden reconstruirse, ni hay por qué” (Wellek, 1953: 96). A continuación, intentaremos analizar la funcionalidad de la crítica biográfica en relación con Federico García Lorca, uno de los autores españoles contemporáneos más reconocidos e influyentes. Se intentará explicar, aún brevemente, cómo se produce la mitologización de Lorca, su proyección canónica, trascendencia estética y fetichización mercantil. Se demostrará de qué manera su vida ha cambiado la manera de leer su obra, los juicios axiológicos y el sentido de la misma. Frente a una lectura exclusivamente apreciativa o exegética de la obra lorquiana, se pretende llevar a cabo una suerte de mirada sintomática que demuestra el funcionamiento de la literatura como mercado de valores simbólicos. Dicho de otra manera, hablaremos de Lorca a pesar de sí mismo, argumentaremos la imposibilidad de llevar a cabo una lectura “inocente” o “transparente” de su legado. Más allá de la innegable valoración estética, en su originalidad, belleza y profundidad, de una obra trascendental, es posible realizar preguntas culturales a un texto literario, si entendemos la literatura como práctica cultural particular. Como se ha puesto de manifiesto por parte de la crítica de la recepción, los hechos literarios no existen aisladamente sino dentro de un determinado horizonte de expectativas que proyecta una serie de supuestos en relación al encuentro de los receptores con el fenómeno literario. Así ocurre con Federico García Lorca, su obra está inevitablemente mediatizada por una serie de procesos ajenos al ámbito estrictamente literario. En primer lugar, el caos de su legado, desde la desgraciada transmisión sexual de su obra debida a su temprana e inesperada desaparición, a la continua elaboración sobre poemas y libros enteros y el trasvase de los mismos hasta la pluralidad interpretativa que proyecta su obra como potencialmente indescifrable. Especialmente interesante en cuanto que aúna hipótesis de lectura diferentes y encontradas, problemas textuales, estéticas contradictorias, Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 113 encontramos dos visiones opuestas sobre un mismo autor perseguido por la leyenda de su asesinato político y estigmatizado por su condición de homosexual. Por último, hablar de Lorca supone instalarnos en una cadena hermenéutica de lujo: un ejército de críticos-Penélope teje y desteje el sentido de su obra siempre abierta, siempre inacabada. Aún cuando la tendencia más acusada de sus exegetas es la de “hacerlo visible”, analizarlo, interpretarlo y mostrar en último término el sentido final, la verdad latente de su escritura cifrada. Esto ocurrió incluso con su teatro más insondable, el borrador incompleto de ese teatro enigmático que para él prefiguró el teatro del futuro: la criptografía de El público incluso dio lugar a un juego espiraliforme mediante el cual se dio a conocer el análisis del drama antes que el propio manuscrito lorquiano, de forma que una lectura tan clarificadora casi obviaba la necesidad de acudir al texto original. En la actualidad, sin embargo, nuevas perspectivas críticas nos han prevenido sobre los límites de dicha interpretación, pero sobre todo los límites de la interpretación y del intento canónico y erudito de dominar el texto, vencer su resistencia aún desde la mitología personal y simbólica de la producción poética lorquiana, lo que resulta en último término en la asunción de una única verdad trascendente en la escritura susceptible de ser descubierta, un único sentido que monopoliza la hirviente multiplicidad significativa de unos textos indescifrables, polivalentes, ilimitados. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 114 115 II. MÁS ALLÁ DEL ESPEJISMO de la identidad El biografismo está absolutamente presente en la valoración crítica de la obra de Lorca, inevitablemente se mezclan ambos discursos, de manera que sus circunstancias vitales acaban siendo una categoría literaria. De hecho los datos de su vida se han ido entretejiendo con los de su obra hasta el punto de que son indiferenciables: insistentemente cualquier alusión a Lorca se coteja con su epistolario, conferencias, entrevistas y testimonios, cumpliendo una doble función historiográfica, acerca de la composición y circunstancias de sus escritos, y hermenéutica: explicar su sentido último. Aunque las inconsistencias se salven con alusiones al ludismo engañoso de su autor en relación con algunos episodios de su vida, el ocultismo de los momentos más privados e íntimos o la versatilidad Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. informativa del propio autor: Poeta en Nueva York, un líbro sincero y torrencial, escandaloso y radical como ningún otro, muestra una ciudad que apenas se reconoce en la ciudad descrita en sus cartas. La performatividad de su discurso es cambiante en función del interlocutor al que se dirige. Por lo demás, estas publicaciones se han beneficiado de la revalorización del individualismo, la preferencia del historiador moderno por el sujeto literario. De hecho, la actual euforia editorial sobre escritura subjetiva en general consiste en el gusto del lector por sumergirse en la ilusión de realidad que ofrece al texto un referente histórico, cansado ya de la artificialidad que la metaliteratura imprime al hecho literario. La mayoría de los testimonios sobre la vida del poeta provienen de amigos, conocidos y testigos presenciales de su vida (Soria, 1998b: 227-242). Excepcional resulta la de su hermano, Francisco García Lorca, y en la misma línea intimista sobre su infancia y juventud la del periodista granadino José Mora Guarnido, más testimonio de los años de iniciación que relato biográfico tradicional. Conocer al personaje y el entusiasmo que le procura da al discurso de este último un tono más creativo y menos referencial. En este caso la cercanía y la amistad con el poeta transforma el sujeto biográfico en la versión mitológica del personaje. El diario del diplomático chileno Carlos Moya Lynch dará cuenta de sus andanzas por Madrid, información complementada por el libro de Marcelle Auclair que visitó España entre 1933 y 1936, Enfances et mort de García Lorca. No cabe duda, sin embargo, de que el gran biógrafo sobre Federico García Lorca es Ian Gibson, que publicó inicialmente una monografía imprescindible sobre la muerte del poeta titulada La represión nacionalista en Granada y la muerte de García Lorca (1971). El enigmático asesinato se reconstruía por primera vez con enorme rigor como ejecución ordenada por el poder usurpado a la legitimidad republicana frente a la cínica propaganda del Régimen que había considerado su muerte un hecho fortuito o privado, o que había defendido la inverosímil hipótesis de que, como sostenía Jean-Louis Schonberg, se debía a un ajuste de cuentas entre homosexuales. En cualquier caso, su investigaciones biográficas posteriores culminarían en el año de su centenario con un título tan rimbombante y excesivo como Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca (1898-1936), donde el positivismo inequívoco de los hechos se relativiza en ocasiones desde la interpretación subjetiva del historiador. Se trata de una obra que responde a una concepción tradicional o romántica del género biográfico, según la cual se describe el encuentro espiritual entre un historiador-biógrafo y un lector privilegiado que Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 116 “capta” las intenciones del primero, lo “comprende” y se “identifica” con él en una suerte de diálogo intersubjetivo, aplicando unas pseudohipótesis cientifistas en la exhaustividad de los datos recabados y la interpretación de los mismos. En este caso, en un proceso de descontextualización que resulta paradójico frente a sus primeras investigaciones, el autor se centra desde el principio en dos temas hasta ahora supuestamente descuidados en la biografía del poeta, la homosexualidad y la revolución -heterodoxia sexual y social-. De hecho, la mayoría de los investigadores lorquianos han cuestionado la licirud de esta, por otra parte, minuciosa reconstrucción de la vida de García Lorca. Como pone de manifiesto Andrés Soria (1998b: 241-2):“…la paradoja estriba en que la biografía de un artista es una investigación sobre un delicado, múltiple, complejo proceso de invención y creación. Y en esa dirección, el “magnus opum” de Gibson, reeditado en 1998 con el título (tan elocuente, en sus intenciones, como el de 1971) de Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca (1898-1936) adolece de cierta endeblez epistemologica e interpretativa”. A este respecto, Luis Fernández Cifuentes (1988) ya había demostrado que en el fondo se trataba de un intento espúreo de simplificar la vida de un poeta desde determinadas claves o tópicos al uso, como la “frustración sexual” y la “heterodoxia”. El proceso de lectura ontológica que ha caracterizado el estudio de su producción literaria se invierte para alcanzar su propia vida. Parecería este uno de esos casos en los que la biografía es una extensión del elogio, del panegírico o del discurso laudatorio: el biógrafo tiende a acentuar los rasgos favorables a su intención, y, al emitir juicios de valor explícitos, es lícito sospechar que la reconstrucción de la vida del personaje ha sido en cierta medida “distorsionada”. Quizá por ello las monografías de Gibson superan el concepto de “biografía”, en tanto que no son puramente informativas, ya que este género de paisaje brumoso a horcajadas entre la historia y la literatura tiene la finalidad última de entender una vida, y hace uso a discreción de métodos diferentes de carácter psicológico o psicoanalítico para adueñarse de su secreto. Lo que tradicionalmente era entendido como “estricta representación de una vida” ahora se convierte en descripción de una individualidad, llegando incluso en algún momento, desde el contenido inferido de los hechos históricos, a conertirse en una suerte de “novelización” inconsciente del individuo. En cierto modo viene así a cumplir las directrices de la biografía moderna “fórmula de acceso a la verdad mediante la ficción, sería entendida en la medida que se acepte la construcción artística como medio de conocimiento” (Molero de la Iglesia, 1998: 526). Como ejemplo de esta Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 117 lectura “tendenciosa”, podemos por ejemplo mencionar la descripción de García Lorca, según la tesis del psicoanalista Emilio Valdivieso, como “ñiño abandónico”, es decir , como víctima de de la frialdad de carácter y distancia materna, que tanto repercutiría en el bienestar emocional de un niño hipersensible lastarado por la “ansiedad de la separación” (Gibson, 1998: 25). Del mismo modo, Gibson explica la vivencia lorquiana del crack de Nueva York como causa de su aproximación a “un análisis marxista de la condición humana” (321) o restringe la polivalencia significativa de un proyecto cinematográfico como Viaje a la luna como expresión del sentimiento del andaluz de “aniquilación sexual” (322). No extraña por tanto que en la película Muerte en Granada, basada en los libros de Ian Gibson, esta misión redentora se sancione en cuanto que el héroe no es ya el poeta sino el biógrafo empeñado en averiguar la verdad circunstancial de la muerte el poeta que pagará caro su atrevimiento (en realidad, se trataba de una dramatización del trabajo investigador de Agustín Penón, predecesor e importante fuente de inspiración de Gibson). 118 Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. III. EL MITO Lorca Lorca fue muy célebre en su tiempo, dado su extraordinario talante artístico y su carácter extrovertido y jovial. Los retratos de sus amigos -Cernuda, Buñuel, Dalí, Alberti- cuando recitaba sus versos, leía alguna composición o tocaba alguna pieza al piano, redundan en la imagen del poeta como alguien magnético, brillante y encantador, además de que él mismo fue el primero en contribuir al proceso de mitologización biográfica, creándose su propia aura o máscara legendaria. Se le ha considerado “icono andaluz” -su irreconciliable enemigo Borges lo calificaba como “andaluz profesional” (cit. en Gibson, 1998: 440) –desde el mito de la gitanería, el folklore, el duende- y poeta nacional: Lorca como esencia de España (Neruda), español hasta la exageración (Cernuda) y corporeización de lo hispánico (Johnston), hasta cierto punto extendiendo el tópico central de nuestra cultura basado en el folklorismo. Incluso se le ha considerado representante de la panhispanidad, habida cuenta de sus visitas y lazos de amistad con los países de América Latina (véase Delgado, María, 2008: 10-33). Por otro lado, su estancia en la Residencia de Estudiantes (1919-1936), emblema de la España progresista, le permitió relacionarse con las figuras más importantes de la intelectualidad literaria y cultural del momento (incluyendo a personalidades como el Premio Nobel Vicente Aleixandre, el pintor José Moreno Villa, el poeta José María Hinojosa, el director del Teatro Eslava Juan Ramón Gómez de la Serna, el neurólogo merecedor del Nobel Ramón y Cajal, el también Nobel Severo Ochoa, el profesor de fisiología que luego sería Primer Ministro de la República, Juan Negrín o el poeta Juan Ramon Jiménez. Aunque lo más llamativo y sorprendente fue ese eje emblemático Buñuel-Dalí-Lorca que extendió el Surrealismo como avanzada cultural del momento. La relación Lorca-Dalí, impregnada de connotaciones homoeróticas, fue fecunda en lo personal y en lo artístico, así como la presencia de Buñuel siempre supuso un desequilibrio que alcanzaría la forma definitiva en el cortometraje de Dalí y Buñuel dedicado malévolamente a su amigo, El perro andaluz. Además, en la década de los veinte, entre Lorca, Buñuel y Dalí existió un fuerte grado de contaminación de las prácticas artísticas que responden a casi un único programa estético. Tras la publicación de Romancero gitano, bestseller fulminante, Federico obtiene fama y reconocimiento, salvo por parte de sus amigos íntimos, Dalí -“el día que pierdas el miedo, te cagues en los Salinas, abandones la Rima, en fin el arte como se Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 119 entiende entre los puercos, arás cosas divertidas, orripilantes, crispadas, poéticas como ningún poeta ha realizado”- y Luis Buñuel, quien desde su característica homofobia lo calificó como “poesía pura que gusta a los poetas maricones y cernudos de Sevilla” (cit. en García Pintado, 1987: 7). Podemos conjeturar, por tanto, que desde la afinidad hacia los presupuestos de los surrealistas españoles y la intransigencia iconoclasta, Federico García Lorca dará un giro insospechado a su poética justo en el viaje a Nueva York, viaje creativo que compagina la experiencia en directo del crack de la bolsa neoyorkina con su época creativa más fértil, vigorosa y equívoca (la de Poeta en Nueva York, El Público, Así que pasen cinco años, Comedia sin titulo). Desde luego la influencia de Dalí y Buñuel será clave en el giro hacia la experimentación que se observa en el final de la producción literaria lorquiana, que denominará “su nueva manera espiritualista”, la escritura de una “poesía de abrirse las venas” y “evadida de la realidad” (García Lorca, 1954: 951-962). Por otra parte, su producción inédita, su poesía neoyorkina y teatro imposible, o los Sonetos del amor oscuro, a su vez pusieron de manifiesto la existencia de un Lorca desconocido, maldito, impronunciable e irredento, alejado de neopopulismo y gitanería. Encarna Valero (2005: 111-136) califica este suceso como acercamiento a la inquietante categoría de lo siniestro según el célebre ensayo de Freud, categoría intermedia entre el ámbito tradicional de lo sublime y lo grotesco. Su mesianismo, por lo demás, ha alcanzado también a su condición sexual. Mientras estudios tempranos notablemente evitarían referencias a la homosexualidad (Mora Guarido, 1958; Río 1952), las lecturas subculturales han reivindicado a Lorca como exponente de dicha cultura desde parámetros absolutamente ajenos al autor. Feal Deibe (1981) o Huélamo Kosma (1989) han proporcionado lecturas psicoanalíticas de su obra, mientras que la evocación repetida de sus tratamientos progresistas de género y sexualidad son indicativos de su contemporaneidad. De nuevo, la lectura tendenciosa de la obra lorquiana supone un acto simplista de falsificación crítica, independientemente de que este tema admita planteamientos más serios. Como señalaba Foucault, la homosexualidad es uno de los espacios modelos de la exclusión y la diferencia junto al espacio de la locura. También ha sido tildado de poeta social, con obras clave para discernir la sociedad en la que vivía y trabajaba, además de que Federico siempre ha sido considerado un mártir de la izquierda, con notorias manifestaciones a favor del Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 120 liberalismo de la II República. Mientras Buñuel manifestaba que él no estaba muy interesado en polítca y Dalí reforzaba este punto de vista llámandolo por esencia “la persona más apolítica de la tierra”, su asesinato y afiliación a la agenda cultural republicana lo han proyectado como emblema de la causa frentepopulista. Durante la Guerra Civil, los milicianos ignorantes memorizaban sus baladas y canciones convirtiéndolos en himnos políticos (1944: 12-13). De hecho participó activamente en el discurso democratizador de la cultura con La Barraca, su proyecto de teatro itinerante por toda la geografía española, que se proponía divulgar a los clásicos. La asociación de Lorca con la izquierda pudo atestiguarse de muchas maneras, como la participación en manifestaciones en defensa de los mineros o representaciones teatrales en beneficio de los presos, o la firma de un manifiesto a favor del Frente Popular en el periódico comunista Mundo Obrero. Pero la ambigüedad sigue latente: unas manifestaciones inéditas de Luis Rosales, que han levantado ampollas, lo describían como “defensor de una dictadura” (Tapia, Juan Luis, 2010). En cualquier caso, la dimensión mítica de Lorca se acabaría de fraguar a partir de una muerte envuelta en misterio. Asesinado por las tropas fascistas poco después del alzamiento militar de 1936 que provocó durante tres años la Guerra Civil en España, su nombre permaneció como potente símbolo de una era liberal brutalmente abortada por la alianza ilegítima de fuerzas de la derecha. De hecho, esta encrucijada alcanza hasta hoy, puesto que su asesinato traiciona los intentos de la nación de enterrar las cicatrices del conflicto fratricida. Permanece como repetida imagen proyectada de la necesidad de exorcizar el pasado e intentar de alguna forma ajustar cuentas con lo que se ha denominado el holocausto español. No es de extrañar, por tanto, que el legado lorquiano haya adquirido unas connotaciones trascendentes y singulares en la España de la Transición y de la normalización democrática. De hecho, la obra de Lorca ha estado marcada por la presencia de tres efémerides conmemorativas en la España postfranquista. Así, en 1986 se conmemoró el asesinato del poeta en una amplia serie de actividades académicas e institucionales que dieron lugar a un numeroso catálogo de literatura crítica. Era un momento de relativa avidez y entusiasmo por la escritura lorquiana, solo publicada parcialmente, después de los cincuenta años transcurridos tras el oneroso asesinato. Ediciones de textos inéditos provocaban un auténtico “descubrimiento” de otro Lorca más allá del populismo y folklore, además de que las múltiples y novedosas formas de leer todos los textos desde insospechadas metodologías críticas suponía una canonización del poeta sin precedentes. Nadie Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 121 dudaba de que se trataba de un terreno abonado y aún había mucho que hacer. Se trataba de dinamitar la oposición entre un “Lorca de la luz” y un “Lorca de las tinieblas” . Seis años más tarde, en 1992, se celebró con entusiasmo el cincuentenario de la edición de Poeta en Nueva York, el gran poemario póstumo de Lorca, el de mayor calidad y envergadura, el más difícil, críptico y rupturista en relación con su obra anterior, y según su espléndido exégeta Miguel García-Posada “quizá el único libro proteiforme de la historia universal de la poesía” (1974: 22). El centenario de su nacimiento, 1998, como no podía ser menos, supuso otro enclave trascendental en la apoteosis académica e institucional del mito Lorca, ya constituido indiscutiblemente como “clásico moderno”. Precisamente el momento en el que uno de los mayores expertos en la obra lorquiana, Luis Fernández Cifuentes, observaría cierto “agotamiento”, desde la hipótesis de que el exceso de todo el creciente corpus bibliográfico acerca de este autor llegaba a ser menos productivo como estudio de la obra de Lorca que como testimonio o síntoma de los tiempos, basándose en la sospecha de que “domina así en el corpus crítico sobre la obra de García Lorca un vocabulario adoptado y adaptado menos de la filosofía que de la antropología social, con términos como mito, rito, misterio, magia, arquetipo, primitivo, primario, cósmico, etc, etc” (1998: 227). Por lo demás, advertía cómo la crítica tradicional “constructiva, ordenadora, monumental” se había visto asaltada, desde la producción inédita del poeta y las nuevas coordenadas críticas, por una nueva perspectiva que ahondaba en lo “indecidible, en lo imposible de desmantelar con algún grado de certeza” (229). En efecto, la mayoría de los trabajos de Lorca se resuelven en esta contradicción. Curiosamente, tanto los críticos más conservadores, como los más formalistas y los más radicales encontraron un mismo punto de fuga: el carácter inagotable e impenetrable de gran parte de la obra de Lorca, su naturaleza en último término indescifrable (misterio, duende). Frente a la falacia de las conclusiones totalizadoras, Lorca pervivía esencializado en el misterio, y hallaba en su enigmática muerte su mejor metáfora. Pese a los intentos de dominar su discurso hermético o semi-hermético en lecturas metafóricas y legibles, Lorca siempre escapaba al sentido, sobre todo en las obras más autorreferenciales. Si su obra críptica era autobiográfica, conocer su vida seria la clave para desentrañar las máscaras metafóricas del poeta. En un movimiento que hemos visto con anterioridad, el enigma de su poética se dinamita en la perspectiva difusa, igualmente inaprehensible, de su propia vida. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 122 Ésta fue la premisa que marcó su centenario: acercarse al “verdadero Lorca”, al “espíritu de Lorca”. En palabras de Monegal, se trataba de resucitar fantásmáticamente la exégesis animista, en la medida en que se seguía pensando que Lorca había sido malentendido, demasiado atado a los estereotipos dominantes que han falseado su imagen. La crítica se supedita al afán biográfico que busca una verdad en la personalidad del autor más allá de la muerte, un vicio necrófilo al que se opone “la práctica de la autopsia, la disección y la exploración del cuerpo del texto como metodología científica de conocimiento” (Monegal, 1998: 62). Lo curioso es que estos dos modelos contrapuestos en relación al autor y a su obra –conocer al autor para entender su obra o desentrañar los textos para acceder al autor- se producen en función de la muerte en un proceso hermenéutico paralelo. Cabe afirmar que la muerte forma parte del horizonte de expectativas de la obra de Lorca en la medida en que atiende al lugar del sentido irrecuperable (manuscritos inéditos inconclusos, textos desperdigados o encomendados a amigos, versiones diferentes) y cierra del círculo mitológico en torno al autor en un asesinato secreto y cobarde lleno de incógnitas. Es ya un lugar común referirse a los versos premonitorios, a los detalles de su escritura que pudiesen anticipar su desgraciado final. Podemos mencionar, entre otros, ya que que tenemos numerosas referencias al respecto, el poema “Fábula y rueda de los tres amigos”, en Poeta en Nueva York: “Cuando se hundieron las formas puras / bajo el cri cri de las margaritas, / comprendí que me habían asesinado. / Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, / abrieron los toneles y los armarios, / destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro. / Ya no me encontraron. / ¿No me encontraron? No. No me encontraron. / Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba, /y que el mar recordó ¡de pronto! / los nombres de todos sus ahogados, o en la breve composición “Canción de la muerte pequeña”: “Me encontré con la muerte. / Prado mortal de tierra”. Igualmente su drama Así que pasen cinco años se escribió justamente un quinquenio antes de su muerte… La muerte de Lorca afecta a cómo nos acercamos a Lorca, a cómo lo leemos, aunque se trata de una pulsión no espontánea, proyección del lector: “El mito de la muerte, al igual que el de la gitanería…no lo puede tratar de hecho sino los relatos explicativos, elevados al rasgo de clave, mediante los que se orienta la lectura, forma parte del horizonte de expectativas que rige la recepción de la obra de Lorca (…) La muerte acaba jugando un papel en nuestras pregunta acerca del sentido de los textos de la misma manera que juega un papel en nuestras preguntas acerca del Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 123 sentido de la vida. Justamente una de las convenciones de la biografía es que el sentido de una vida se hace desde la muerte, desde su conclusión. Desde este punto de vista, tiene su lógica el que Gibson investigara la muerte de lorca antes de narrar su biografía” (Monegal, 1998: 64). También es muy conocida la opinión de Lorca de que la publicación de sus poemas era una forma de muerte. Precisamente el sentido que discierne Monegal, al referirse a la célebre locución de El Público, “la verdad de las sepulturas” como doble muerte, la del autor y la de la escritura como clave de la proyección crítica lorquiana. El absurdo de una muerte política se complementa con la conciencia de que búsqueda de la verdad es del todo infructuosa. Así pues, el misterio de su producción es irresoluble, dado que reside en la misma literalidad de la escritura. La verdad de las sepulturas es imposible de profanar y la metáfora hace referencia no a un “cuerpo” o “espíritu”, sino al hueco, a la ausencia, al vacío: “el sentido se instala en la brecha de la discursividad, en un vacío de referencialidad que es contrarrestado por la capacidad poética, es decir, productiva del propio lenguaje”. Escapa tanto al sujeto como al destinatario, convirtiéndose en una presencia textual. Frente al espiritismo y la disección, dice Monegal, se impone una nueva modalidad de lectura, basada en la elegía, “discurso de duelo por una pérdida una pregunta acerca del sentido en la medida en que se trata de un sentido determinado por la muerte” (75). En la actualidad, el espectro de García Lorca continua acechando nuestra de psique de manera simbólica y literal (Montero Barrado, 2010). Su enterramiento en una fosa común en un lugar anónimo del noroeste de Granada lo convierte en un potente símbolo de los más de 30.000 cadáveres de la Guerra Civil que descansan en lugares anónimos. Durante el año 2000, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, respaldada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha abanderado la exhumación de cientos de cadáveres de la guerra y la postguerra como proyecto legítimo de justicia histórica. En el caso de Lorca, las aspiraciones de las familias de aquéllos enterrados con él inició un proceso sin precedentes al que la familia Lorca no pudo poner coto. Mientras que la Fundación García Lorca presidida por su sobrina Laura García Lorca de los Ríos, pedía que sus restos descansaran en paz, el historiador Ian Gibson – respaldado por sus indagaciones acerca de la muerte y amplio conocimiento de la biografía de Federico- defendió la búsqueda del cadáver para confirmar el lugar del asesinato y verificar detalles del mismo. La legítima recuperación de la memoria –la necesidad psicológica de suturar la herida de un presente Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 124 irreversiblemente incompleto- acabó sin embargo en una aguda controversia para algunos (que aludían a intereses inmobiliarios de fondo) y en un circo mediático para otros. Desafortunadamente y pese a las expectativas creadas, en las excavaciones de 2009 no se descubrieron los restos de García Lorca ni de las personas que lo acompañaron en su fusilamiento. Sin necesidad de fantasmáticos desenterramientos, la existencia de una fosa común con cuerpos anónimos continúa siendo el único homenaje lícito a la memoria del espeluznante pasado. 125 Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. IV. ¿HERMENÉUTICA DE RECUPERACIÓN o sintomática? Frente a la hermenéutica de la recuperación del sentido originario de los textos, existe también una hermenéutica de la sospecha, que busca expresar los supuestos ocultos en que se fundamenta un texto (políticos, sexuales, filosóficos o lingüísticos). El problema estriba en ir más allá del texto y negar su especificidad, en convertir la interpretación del texto en símbolo de algo no textual –vida psíquica del autor, tensiones sociales, homofobia- aún cuando si se centra en la práctica cultural en que se engloba la obra, puede ser valiosa. Por ejemplo, la crítica se ha empeñado en construir a Lorca como sujeto homosexual. Ello no significa que la homosexualidad no ha sido una cuestión clave para interpretar la poesía lorquiana, que lo es, a la vez que un rasgo biográfico incómodo para el oficialismo cultural, pero desde luego no “define” a Lorca ni es la única. Pese a todo, usaremos este concepto como uno de los más productivos en relación con la crítica biográfica existente sobre el poeta, dado que el hecho de la homosexualidad del autor ha afectado la supervivencia de parte de su producción poética, ha distorsionado la lectura e interpretación de parte de la existente, y, por otra parte, constituye un excelente ejemplo de la manera en que el biografismo crítico puede usar la anécdota vital o las vivencias de un autor de forma pertinente o no en la exégesis adecuada de su producción, además de cómo motivo trascendente en la psicología del acto creador, por ejemplo desde la metodología crítica psicoanalítica. Podemos empezar advirtiendo cómo, incluso en la actualidad, esta cuestión ha incidido en una estrategia política desculpabilizadora que pretende neutralizar las ominosas circunstancias políticas del asesinato, sosteniendo que Lorca fue asesinado por su condición sexual. Cuenta Marcelle Auclair que, poco después de la ejecución de Federico García Lorca, los diarios se hicieron eco de la noticia aludiendo a la “dudosa” sexualidad del poeta (1968: 417). Tampoco faltan detalles escabrosos al respecto: en el cautiverio, según el testimonio de Andrés Sorel (1977: 203), sufrió el escarnio por parte de sus captores: “Sí, le torturaron, sobre todo en el culo; le llamaban maricón, y ahí le golpearon. Apenas si podía andar”. La ejecución fue llevada a cabo por el falangista J. L. Trescastro, que se vanagloriaba de “haberle dado a Lorca un tiro en el culo por maricón”. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 126 Se impuso entonces la versión oficial de la muerte de García Lorca atribuida a la intolerancia de la sociedad granadina por su condición de famoso y homosexual. Obviamente, si bien su homosexualidad fue uno de los motivos que empujaron a torturarlo y matarlo, no se pueden negar las connotaciones políticas del asesinato. Por otra parte, la cesura creativa que desencadenó su obra más rupturista (Poeta en Nueva York y El Público), siempre se ha relacionado con la influencia de un abandono sentimental. Con motivo de la aparición de Poeta en Nueva York informa Juan Larrea desde México de la evidencia después repetida hasta la saciedad de que ese libro correspondía a conflicto íntimo propiciado por su inadaptación social ante lo que la sociedad consideraba anormalidad congénita, una anomalía sexual repulsiva. Sorprende la actitud abierta de este testimonio en contradicción con el oscurantismo, vacilaciones y ocultamientos con que esta cuestión se trató por parte de sus amigos y conocidos. La tendencia generalizada era la de destruir datos y documentos “comprometedores” o incompatibles con la cultura establecida. La imagen de Lorca que interesaba era la de un Lorca encantador, siempre alegre y sonriente, aunque obviamente ésta era una imagen distorsionada de la realidad. Ángel Sahuquillo ha recorrido minuciosamente la historia de silencios y distorsiones, el falseamiento del legado lorquiano, en aras de su “normalización” social, precisamente por los integrantes de su círculo social más íntimo (1986). Por poner solo un ejemplo de la manera en que eso ha afectado a la supervivencia de la producción de Lorca, podemos mencionar el hecho de D.M. Loynaz rompió y tiró a la papelera uno de los manuscritos de El Público, porque la obra le había parecido absurda y escandalosa (Auclair, 1968: 455). Por su parte, Philip Cummings se deshizo de un manuscrito de cincuenta y tres páginas, acción que justificaba (obsérvese la tendenciosidad del argumento) “tanto por Federico como por todos los que le quisimos era preferible que todo se destruyese”. La bola negra, manuscrito desaparecido o destruido mostraba el problema de la represión sexual sobre los homosexuales, igual que La destrucción de Sodoma, otro texto del que nada se sabe, salvo su tema. Cartas inéditas guardadas celosamente por sus amigos como Martínez Nadal, o censuradas, como las del epistolario Lorca-Dalí, inciden sobre esta nube de humo crítica. En cambio, documentos como FGL, L´homme, l’oeuvre (1956) romperían la inercia al uso. Jean–Louis Schoenberg hace en él una interpretación homosexual de la obra de Lorca y gran parte de los hechos acaecidos en su vida (algo usual en los relatos biográficos en uso hasta la fecha). Independientemente Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 127 de su anacronismo militante en ocasiones, fue ferozmente atacado. Se denunciaba desde su “obsesión sexual” hasta su metodología crítica freudiana, se menospreciaba su trabajo como afán de notoriedad. José Mora Guarnido lo calificó de “perro”, en recuerdo de “la desgracia –no otra cosa que la desgracia- de una vital e irresistible tendencia a la inversión sexual” (1958: 229). En 1966 aparece en Minnesota una tesis doctoral donde se habla abiertamente de la homosexualidad de Lorca, Erotic Frustration and its Consequences: the Drama of Federico García Lorca, y alude a las únicas escenas conocidas de un drama hasta ahora inédito de El Público. Esta tendencia se incrementó en la década de los setenta, especialmente en la contribución de la aplicación sistemática del psicoanalisis freudiano a la elucidación de la obra de Lorca por parte de Carlos Feal. La tibia interpretación de Martínez Nadal de El Público (1970) publicada como pusimos de manifiesto antes que el propio drama en 1978, dio pie a críticos relevantes para desenmascarar el estado de la cuestión, denunciando el “convencionalismo ético inmovilista y regresivo” de Martínez Nadal, la aberración de ocultar el tema de la homosexualidad como clave interpretativa para entender correctamente la obra lorquiana. Francisco Umbral afirma con perspicacia que el ocultamiento de Martínez Nadal “está aplicando juicios morales a la obra maravillosamente amoral de Federico García Lorca” (Francisco Umbral, 1975: 45). Otro crítico igualmente prestigioso, Miguel GarcíaPosada, el intérprete más prestigioso de Poeta en Nueva York, escribe en El País con motivo de la publicación privada de los Sonetos del amor oscuro (1984), que el tema de la homosexualidad se ha tratado de forma tendenciosa y vulgar, y que un concepto como el de “amor oscuro” “no puede dejarse en manos de exégesis virulentas”. Excedería los objetivos del presente artículo analizar pormenorizadamente la manera en que la homosexualidad ha contribuido a explicar el universo creativo lorquiano, aunque hoy en día resulta inviable estudiar seriamente su producción poética y teatral sin aludir a esta cuestión. Por mencionar algunos ejemplos indiscutibles, podemos esgrimir la revitalización del mito platónico del andrógino que actualiza Lorca en Poeta en Nueva York (según el cual los hombres se dividen en dos mitades: una mitad, o un tipo de mitad, que busca su complemento en la mujer, y la otra mitad, o el otro tipo de mitad, que necesita complementarse con el amor de otro hombre). En esta obra es el yo poético de Lorca quien acusa, y lo escupe a la cara a toda la gente que margina o ignora, a “la otra mitad”, más adelante dirá, “irredimible”, esa otra mitad que, según el poeta “me escucha”, un Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 128 mundo de marginalidad donde desde luego está inscrito el mundo de la sexualidad heterodoxa: “Yo denuncio a toda la gente/ que ignora la otra mitad/la mitad irredimible/ (…) Os escupo en la cara” (1954: 517). En la obra antes mencionada se extiende esta problemática, por ejemplo, a la simbología fálica de cabezas y cuellos, así como de las acciones de morder y degollar. La degollación funciona como símbolo de la penetración sexual -en la tradición clásica, degollar es utilizado como símbolo inequívoco de “desvirgar”mientras que en el mundo poético lorquiano parece haber preferencia por degollar a hombres en general y a marineros en particular. En sus textos en prosa recrea numerosas degollaciones, como la Degollación del Bautista, en la que el “cuchillo” del degollador entra en el sitio donde acaba el “cuello” (“donde el cuerpo se desmaya”, siendo cuello un ambiguo símbolo sexual con connotaciones fálicas y también referente a los órganos sexuales femeninos, como el “cuello del útero”). En el caso de El Público –drama sobre la accidentalidad del amor y la necesidad de defender un nuevo discurso sobre la sexualidad y el teatro que supusiera un desafío a los convencionalismos sociales- la representación de Romeo y Julieta interpretada por un actor y una actriz principal que resultan ser dos hombres (el escándalo de la referencia metateatral en la interpretación de El Público tiene lugar al descubrir que “Romeo es un hombre de 30 años y Julieta un muchacho de quince”), muestra también la analogía o la asociación entre el beso amoroso y el degüello: “Si me besas, yo abriré la boca para clavarte después tu espada en el cuello”. En cambio, resulta cuestionable una lectura “sintomática” de la cuestión que restringe toda su poética a una cuestión de identidad sexual. Es el caso de Francisco Umbral (1075: 10 y ss.) quien, bastante provocativo, habla de los “enmascaramientos sexuales” de Lorca, esgrimiendo como argumento e hecho de que Lorca describe a la mujer por su cuerpo y no por su rostro, lo que le hace sospechar que estar mujeres son en realidad “hombres enmascarados en formas femeninas”. Todo el teatro de Lorca consistiría así en un largo quejido sexual, la búsqueda de lo masculino vital, incluso en el caso de Yerma, expresión de un conflicto sexual en ciderto modo trasunto de la esterilidad forzosa a que inevitablemente condenaba al poeta su condición homosexual. Ni qué decir tiene que la arrogancia y reduccionismo de esta perspectiva es difícilmente sostenible y la ecuación a que da lugar, como mínimo, peligrosa. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 129 En suma, la actitud de biógrafos y críticos sobre la homosexualidad es ahora indispensable aunque no única para entender la obra póstuma de Lorca, un Lorca transgresor e incisivo que hasta hace relativamente poco se nos ha escamoteado. En lo que se refiere a Poeta en Nueva York y El Público, la explicitud del tema no admite controversia alguna. Por otra parte, es ya un lugar común asumir la cesura creativa en la obra de Lorca a partir de estas obras. Dado el aspecto transgresor de la nueva poética respecto a la estética convencional del momento, el propio autor se vió en la necesidad de dar una serie de conferencias explicando el contenido de Poeta en Nueva York, mientras que calificaba su obra de El Público como “irrepresentable”. En cualquier caso, el exhaustivo análisis crítico de las mismas ha enfatizado el hecho de que ambas parecen estar construidas sobre una estructura radial, donde todo tiende a confluir en la interioridad del protagonista. No parece casual que coincida con la época de la mayor parte de los autorretratos de sus dibujos. Quizá por ello el autor había admitido que el poemario debía titularse “Nueva York en un poeta”, así como la trascendencia de un conflicto dramático que rompía con la tradicional ficción dramática. De hecho, así lo manifiesta en su célebre afirmación “para demostrar mi personalidad y tener derecho al respeto, yo he hecho otras cosas, en estas comedias imposibles está mi verdadero propósito” (1954: 671-676). Dichas obras son sin duda las más condicionadas biográficamente en la hermeneusis del proceso de ficcionalización de temas capitales como la injusticia social, la homosexualidad y la pérdida de la fe religiosa. Resulta excepcional la contribución de autores como Darío Villanueva que entienden el poemario como écfrasis neoyorkina. Es innegable, por otra parte, que Poeta en Nueva York muestra un vínculo indudable entre el autor y una concreta realidad histórica y geofísica, es decir, en el poemario, el plano intimista se dilata para abarcar la universalidad. Muchos de esos poemas suponen explicar el sufrimiento y el vacío espiritual en la jungla moderna y desproporcionada que significa Nueva York, sociedad deshumanizada y artificial que rompe el equilibrio entre lo humano y lo natural donde el poeta asocia la sexualidad perversa de los “maricas de las ciudades” (véase la “Oda a Walt Whitman”, 1954: 528) con el desorden social. Irremediablemente, también, la muerte ha mediatizado la transmisión textual del legado lorquiano: la recuperación de los inéditos lorquianos, la salida a la luz de su producción última, como los Sonetos del amor oscuro (1984) se ha visto mediatizada por los acontecimientos de su muerte, que han dado un protagonismo Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 130 inusitado a los depositarios de los manuscritos. Aún queriendo huir del biografismo acabamos topándonos con él: las versiones originales se han publicado desde el interdicto de aquéllos a quienes se les habían confiado proceso de transformación póstuma de los textos en “obras” -, reconstruyendo un trabajo inacabado de forma espúrea. De hecho estas versiones se han cuestionado ampliamente por la crítica en lo cuanto que han distorsionado ecdóticamente el original, o en cuanto que se ha “dirigido” su interpretación en un sentido determinado, aunque fuese desde el conocimiento personal del autor, como ocurre con Rafael Martínez Nadal y su interpretación de El Público (1970). Y sin embargo se da la fascinante paradoja de que es este Lorca último hermético el que prefigura la dirección de su trayectoria poética interrumpida trágicamente. 131 V. EL POETA como simulacro La canonización de Lorca comenzó como consecuencia inmediata de su muerte. Así por ejemplo, el Nobel Pablo Neruda escribe en sus memorias: “la tierra española, que cambió mi poesía, empezó para mí con la desaparición de un poeta”). El posicionamiento de Lorca como parte de una élite intelectual llevada al Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. sacrificio, lo adentra, dice María Delgado, en “the emotionally charged terrain of martyrdom” (2008: 175). Como pone de manifiesto Jesús Montero: La literatura ha dejado reflejado a través de poemas memorables las muestras de dolor y condena por su muerte. Así lo hicieron en su momento Antonio Machado (Muerto cayó Federico / -sangre en la frente y plomo en las entrañas- / …Que fue en Granada el crimen / sabed -¡pobre Granada!-, en su Granada), Rafael Alberti (No tuviste tu muerte, la que a ti te tocaba), Miguel Hernández (¡Qué sencilla es la muerte: qué sencilla, / pero qué injustamente arrebatada!), Pablo Neruda (“Federico, te acuerdas / debajo de la tierra, / te acuerdas de mi casa con balcones en donde / la flor de Junio ahogaba flores en tu boca?”), Luis Cernuda (Por esto te mataron, porque eras / verdor en nuestra tierra árida / y azul en nuestro oscuro aire), Emilio Prados (¿En dónde está Federico? / Sólo responde el silencio: / un temor se va agrandando, / temor que encoge los pechos), Pedro Salinas (Mataron a un ruiseñor / tan sólo porque cantaba), Pedro Garfias (También yo quiero hablarte, Federico / con esa ruda voz que ahora me brota / del mar de mi garganta), Nicolás Guillén (Salió el domingo, de noche, / salió el domingo, y no vuelve. / Llevaba en la mano un lirio, / llevaba en los ojos fiebre; / el lirio se tornó sangre, la sangre tornóse muerte), entre otros. También poetas de otras nacionalidades se han inspirado en él como por ejemplo como demuestra Jiménez Hefferman (1998) en lo que denomina “la muerte inglesa de Lorca”. Igualmente las artes visuales han recreado la figura pero sobre todo la iconografía de su sórdida ejecución (véase Delgado, 2008: 172-201). Es inevitable referirse a Dalí, impresionado vivamente por la personalidad de Federico, cuyo rostro e imagen usó como motivo para muchos de sus cuadros. Lorca es una presencia palpable –desmembrada, superimpuesta, metamorfoseada- así como sancionador del andalucismo tópico y el carácter sacrificial de su muerte. Por mencionar solo un ejemplo, en la escenografía que Dalí presentó para el ballet de la Argentinita, Café de Chinitas (1943), basado en las canciones que Lorca compuso para el piano en 1931, la guitarra crucificada sangrando funciona como un recuerdo emblemático de martirio. Su imaginería resuena así mismo en las composiciones que Terry Frost realizó del poeta en 1989 “Lamento por Lorca”, “Lamento por Ignacio Sánchez Megías”, “Cinco a las cinco de la tarde (Lorca)”. Por otra parte, las dos películas producidas en 1987 y 1997 respectivamente, Lorca, muerte de un poeta, dirigida por José Antonio Bardem y La desaparición de Federico García Lorca, por Marcos Zurinaga, ambas se centran en idéntico motivo dramático, la aniquilación definitiva de su vida y de su obra. Lorca, muerte de un poeta comienza con la recreación de este episodio: el poeta, vestido Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 132 impecablemente de blanco, sin huella del tiempo pasado en el calabozo y flanqueado por dos banderilleros y un maestro de escuela, es trasladado en una camioneta descubierta al lugar de su asesinato. La iconografía cristiana que algún crítico advierte –composición triángular de Cristo y los dos ladrones- se refuerza en las imágenes del final de la película, cuando se recrea la escena de nuevo. Esta vez, se acentúan las cualidades heroicas del artista, que anima a sus compañeros y se arrodilla estoicamente en confesión bajo una luz deslumbrante y casi sobrenatural después de ser informado extraoficialmente de su muerte. Muerte imbuida del lenguaje religioso de la redención, todos los aspectos de la vida se reducen en último lugar a la inevitabilidad de la muerte, la narración de este obituario con un final predeterminado e inestable. En palabras de María Delgado: The myth of Lorca serves as repository for fantasies about the symbolic body trascending death in an act of integrity that bestows on him the immortality he now enjoys as the ultimate cultural patriarch of the new Spain exemplified by film director Pedro Almodóvar. ‘Bodiless’ he may be but his spirit is seen to epitomize an ethereal agency; in death a corpus containing within it the possibility of a nation’s self-reflection (182). Lorca se proyecta como un héroe y una víctima del alzamiento; su tragedia particular se proyecta en términos universales, la rememoración de su infancia siendo un fácil recurso a una incontaminada y orgánica relación con la tierra. Personificado por Nicholas Cage y en su carácter de símbolo universal, no muestra rasgos de dialecto andaluz y sus vínculos granadinos solo se recrean en las imágenes de fondo de la más célebre geografía monumental turística de la ciudad. El obvio maniqueísmo político, por lo demás, que caricaturizaba de forma ominosa a los falangistas, militares y guardia civil, provocó quejas en la primera emisión televisiva de la serie (1987-1988) por su humillante falta de precisión histórica. También hubo opiniones de que el retrato mítico del escritor difuminaba su talento artístico, aquí desdibujado como algo secundario a su fabulosa vida. De forma similar, en La desaparición de García Lorca, el actor cubano Andy García refracta al poeta a través de la imaginería hispánica desnacionalizándolo para mostrar su relevancia sin fronteras. La esencia española se criba a través del filo de la panhispanidad, propiciando a su vez de forma subliminal analogías generalizadas entre Lorca y los que murieron en la revolución cubana. El tratamiento ficcional del tema es amplio: desde la refundición de Luis Rosales y sus hermanos en el falangista Néstor González Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 133 hasta la recreación de una Granada repleta de bares bohemios con prostitutas, cantaores y ¡marineros!. Lo curioso de esta película es que narra la vida de un célebre biógrafo de Lorca -trasunto de Agustín Penón-, desde la premisa de que solo mediante la identificación total, siguiendo escrupulosamente los pasos de Lorca, puede llegar a entender su trabajo, expresión máxima del biografismo crítico llevado hasta las últimas consecuencias. Por su parte, Jaime Camino dirigió en 1984 El balcón abierto, aproximación personal a la obra del escritor y dramaturgo desde la anécdota de un homenaje escolar a la figura del poeta, mientras que la película de Miguel Hermoso del 2003, El fin del misterio, fantasea con la posibilidad de que el poeta genial y comprometido no estuviese muerto y solo hubiese sufrido una amnesia temporal. Como cabría esperar, también las puestas en escena que recrean la vida de Federico constituyen una de las tendencias más acusadas de los escenarios españoles en los últimos años, estimuladas, aún más directamente que en los casos anteriores, por los múltiples homenajes conmemorativos de su nacimiento y trágica muerte que caracterizaron la gestión cultural del gobierno socialista (Sánchez Trigueros, 1998). Entre los numerosos montajes que podemos mencionar se encuentra Federico (1982), obra dramática de Lorenzo Piriz Carbonell del mismo año dirigida por César Oliva, sobre la vida del poeta granadino en un doble plano onírico y real (inspirada en la iconoclasta novela de Carlos Rojas El ingenioso hidalgo y poeta Federico García Lorca asciende a los infiernos). Unos años más tarde, en Víznar o muerte de un poeta (1998), el mismo César Oliva acomete la realización de la obra de José María Camps del mismo nombre. Igualmente con motivo de la conmemoración del cincuentenario de la ejecución de García Lorca, se estrenaron diversos montajes en U.S.A., como la escenificación de la pieza The Assassination of Federico García Lorca (1986) de Lavonne Mueller y de la ópera Lorca's Gypsy New York: A Street Opera, de Arnold Weinstein Tony Greco. El texto dramático de José Antonio Rial La muerte de García Lorca, estrenado en Caracas por el grupo Rajatabla, se repuso con idéntico motivo, inquietud a la que también respondía Los caminos de Federico (1986), obra estrenada por Lluís Pasqual en el María Guerrero y protagonizada por Alfredo Alcón. En Federico García Lorca, un andaluz sin fronteras (1998), el excelente actor argentino Fernando Vegal junto a la Compañía de Teatro de Buenos Aires ofrecía, en su estreno en el Teatro Alhambra de Granada, una visión mítica y personal de la figura de Lorca. Sinceramente Federico García Lorca Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 134 (1998) fue el particular homenaje cubano al poeta a través de un espectáculo básicamente coreográfico interpretado sólo por bailarinas en torno a la Muerte y los míticos personajes femeninos de su universo dramático, mientras que Un rato, un minuto, un siglo (1998) resolvía la aproximación al mundo de Federico, bajo la dirección de José Sámano, la participación de la actriz Lola Rerrera y la cantaora Carmen Linares, a través de los múltiples testimonios de sus amigos -Luis Buñuel, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Antonio Machado, Luis Cernuda, etcétera-, sus gustos musicales o sus propios versos. Montajes de inspiración más libre son los de FGL Oídos de Larca (1998) y Ombra (1998). lncrepaciones Danza propone en el XVI Festival Internacional de Teatro de Granada un recorrido musical por la vida de Lorca, con piezas armonizadas por el propio Federico y música de coetáneos como Manuel de Falla o Isaac Albéniz o George Gerswhin. Por su parte, La Fura dels Baus también acudió a la cita casi obligada con Lorca con Ombra y concluyó el año de su centenario con un multitudinario montaje que a partir de textos de David Martín dirigió Hansel Cereza. Lola Guerrero en El crimen de una novia (2006) usa la investigación preparatoria de una actriz que hace el papel de novia en Bodas de sangre para interrogarse sobre la mitología que rodea su obra. Igualmente, Pepe Rubianes en Ellos fueron todos Lorca intenta la reconstrucción creativa de la muerte de Lorca (el título recrea el epitafio que está en el lugar donde se pensó que murió Federico), obra muy polémica por las alusiones políticas que fue censurada en el Teatro Español de Madrid, cuyo Ayuntamiento estaba gobernado por el Partido popular. En otro orden de cosas, De Granada a la luna (1998) constituye uno de los más ambiciosos homenajes dedicados a Lorca por su planteamiento, un proyecto cultural multimedia consistente en la realización de doce vídeos de creación y doce temas musicales basados en textos de Federico y la vida del propio poeta significada bajo la parábola del viaje. Coproducción de Ático siete -que ha coordinado y dirigido el proyecto a través de José Sánchez-Montes-, la Delegación de cultura de la Junta de Andalucía y Canal Sur Televisión, en él han participado profesionales de distintos ámbitos culturales, tanto del cine como de la literatura o la música. Entre éstos figuran nombres como Enrique Morente, Santiago Auserón, María del Mar Bonet, Amancio Prada, Compay Segundo, Mariano Barroso, etcétera. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 135 En lo que a música se refiere, María Delgado trata ampliamente esta cuestión y rastrea la huella de Lorca en músicos de distintos estilos, desde Robert Wyatt, fundador de Soft Machine, a Camarón de las Islas o el punk británico. Éste es el caso de la mítica banda The Clash, que cantaba “Federico is dead and gone” en Spanish Bombs, haciendo referencia a Lorca como símbolo permanente de lo que se perdió con la derrota republicana en la Guerra Civil o “Take This Waltz” (1988), una de las canciones más famosas del cantautor canadiense Leonard Cohen basada en una traducción del poema lorquiano “Pequeño vals vienés”, quien puso de nombre “Lorca” a su hija como homenaje al poeta. En suma, aún desde una perspectiva forzosamente parcial, puede advertirse la gigantesca presencia del universo estético de Lorca, e incluso del propio poeta elevado a la categoría de mito, como referente cultural ineluctable en todo el horizonte cultural contemporáneo. CONCLUSIÓN El mito de García Lorca (1998-1936) es tan imponente que supera con creces al escritor real. La leyenda vital de Federico, que en su momento fue “su propia obra maestra”, en palabras de Luis Buñuel, así como su trágico asesinato han acentuado la interpretación de su obra, incompleta y parcialmente inédita hasta hace un par de décadas, como autobiografía velada. Sin duda, constituye uno de los grandes descubrimientos de la España de la normalización democrática en los ochenta bajo un gobierno socialista, al mismo nivel que la movida madrileña, la cinematografía de Pedro Almodóvar –que asume referencias lorquianas explícitas en su filmografía- o las grandes efemérides de la Exposición Universal de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona en 1992. La integración de España en las estructuras políticas y económicas de la Unión Europea ha facilitado la exportación de todo un símbolo nacional de la contienda fratricida de 1936, guerra en la que se asesinaban poetas, convirtiéndose en el autor español más traducido, con una personalísima poética exótica, populista, deslumbrante y en ocasiones cuasihermética, exponente de un experimentalismo vanguardista sin precedentes. Su obra, objeto ilimitado de fascinación académica, permanece como símbolo universal marcado por la tragedia de su vida sesgada tempranamente y por un legado literario en la que la muerte futura parece a la vez anticipada y conmemorada. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 136 *Federico García Lorca nació en Fuentevaqueros (Granada) en 1898. Inició las carreras de Letras y Derecho, acabando solo la segunda, que compaginaba con la afición a la música. En 1919 se instala en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde entabla relaciones con artistas consagrados como Juan Ramón Jiménez y con poetas y artistas jóvenes como Vicente Aleixandre, Dalí o Buñuel. Durante el curso 1929-1930 marcha a Nueva York, experiencia que lo marcará profundamente. De regreso a España, funda en 1932 La Barraca, grupo teatral universitario con el que recorre los pueblos de España representando obras clásicas. En 1933 viaja a Buenos Aires, donde sus dramas tienen gran éxito. De nuevo en España, prosigue su dedicación infatigable como poeta, autor dramático, director escénico, conferenciante, hasta su fusilamiento a comienzos de la guerra civil en agosto de 1936. En cuanto a su producción poética, tras su primeros libros, obtiene un gran éxito con libros como Canciones (1927) o Poema del Cante Jondo (1931). Si Canciones es un libro heterogéneo en su concepción, Poema del Cante Jondo posee una completa unidad: es el libro de la “Andalucía del llanto” -Lorca se identifica con la pena y el quejido del flamenco andaluz-, un libro lleno de sentimiento trágico que muestra una personalísima asimilación de lo popular. Por su parte, Romancero Gitano se publica con extraordinario éxito en 1928, tanto que el poeta se ve abrumado y defiende el “gitanismo” de su libro únicamente como motivo literario. Para la crítica, Lorca eleva el mundo de los gitanos a la altura de un mito moderno, cercano a los grandes mitos clásicos. 1929 es un año crucial para Lorca. En ese año, antes de viajar a Nueva York en Junio, se ha visto afectado por la ruptura con el escultor Emilio Aladrén, y el alejamiento de Dalí influido por Buñuel, ambos formando parte ahora de la vanguardia parisina. Su carrera se ha consolidado, goza de un prestigio indiscutido entre la intelectualidad madrileña y granadina, pero las críticas al Romancero por parte de sus amigos le herirán profundamente, lo que influirá en un giro radical en su trabajo creador. La posterior estancia en los Estados Unidos, precisamente en el momento dramático del crack de la bolsa neoyorkina, marca un hito crucial en la vida de Lorca. Nueva York le resulta un mundo opresivo, materialista y asfixiante -“Geometria y angustia”-. Poeta en Nueva York será la expresión poética de esta estancia, y en él desarrolla una impactante poética cercana al surrealismo, que consigue renovar su lenguaje y hacerle alcanzar una nueva cima, desde el verso libre y las imágenes audaces. El materialismo, la esclavitud del hombre por la máquina, la injusticia social, la deshumanización, en fin, son los temas del libro. La raza negra ocupa el lugar que previamente habían ocupado en sus poesía los gitanos, Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 137 y en ella ve Lorca la única esperanza, lo más espiritual de ese mundo agónico. Compondrá más adelante, entre otros, el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1935), los poemas íntimos del Divan del Tamarit (1936), y los tardíamente conocidos Sonetos del amor oscuro. En cuanto a su teatro, tuvo mucho éxito con su trilogía rural -Yerma (1930), Bodas de sangre (1933) y La casa de Bernarda Alba (1936)- piezas que complementó con sus famosas farsas, como Doña Rosita la Soltera o el lenguaje de las flores (1935) o La zapatera prodigiosa (1930). Sus piezas más vanguardistas, que traducen el clima surrealista del momento, incluyen Así que pasen cinco años (1931), El Público y Comedia sin título. Su fama es universal y aunque en parte se deba a razones extraliterarias, puede considerarse el escritor español más importante y traducido del siglo XX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Alonso Valero, Encarna (2005) No preguntarme nada. Variaciones sobre tema lorquiano, Granada, Atrio. Anderson, Andrew A. (1991) "Lorca at the Crossroads: 'Imaginación, inspiración, evasión' and the 'novísimas estéticas'", Anales de la literatura española contemporánea, 1-2, pp. 149-173. Auclair, Marcelle (1968) Enfances et mort de García Lorca, París, Seuil. Delgado, María M. (2008) Federico García Lorca, Nueva York y Abingdon, Routledge. Feal, Carlos (1981) "El Lorca póstumo: El público y Comedia sin título", Anales de la literatura española contemporánea, 6, pp. 43-62. Fernandez Cifuentes, Luis (1986) "El público de García Lorca versus El público de Martínez Nadal", en García Lorca en el teatro: la norma y la diferencia, Zaragoza, Servicio de Públicaciones de la Universidad de Zaragoza, pp. 275-293. _____. (1988) “La verdad de la vida: Gibson versus Lorca”, Boletín de la Fundación Federico García Lorca, II/4, pp. 87-101. _____. (1998) “¿Qué es aquello que relumbra? (Una última cuestión)”, en Soria Olmedo, Andrés et al. (eds.) (1998a) pp. 228-237. García Lorca, Federico (1954) Obras completas, Madrid, Aguilar, 1989. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 138 García Pintado, Ángel (1987) “19 motivos para amar lo imposible”, Cuadernos de El Público, 20, pp. 7-11. García-Posada, Miguel (1981) Lorca: Interpretación de Poeta en Nueva York, Madrid, Akal. Gibson, Ian (1971) La represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte de Federico García Lorca, París, Ruedo Ibérico. _____. (1998) Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca (1898-1936), Barcelona, Plaza y Janés. Guerrero Ruiz, Pedro (ed.) (1998) Federico García Lorca en el espejo del tiempo, Alicante, Aguaclara. Huélamo Kosma, Julio (1989) "La influencia de Freud en el teatro de García Lorca", Boletín de la Fundación Federico García Lorca, 6, pp. 59-83. _____. (1996) El teatro imposible de García Lorca. Estudio sobre El público, Granada, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada. Jiménez Heffernan, Julián (1998) “La muerte inglesa de Federico García Lorca. Hacia una poética de lo invisible”, en Soria, Andrés, et al. (eds.) (1998a), pp. 713723. Martínez Nadal, Rafael (1970) El público. Amor, teatro y caballos en la obra de Federico García Lorca, Oxford, The Dolphin Book. Millán, Mª Clementa (1986) "Poeta en Nueva York y El público, dos obras afines", Ínsula, 476-477, p. 9. Molero de la Iglesia, Alicia (1998) “Los sujetos literarios de la creación biográfica”, en Romera Castillo, José y Gutiérrez Carbajo, José (eds.) (1998) pp. 525-536. Monegal, Antonio (1994) "Un-Masking the Maskuline: Transvestism and Tragedy in García Lorca's El público", Modern Language Notes, 109/2, pp. 204-216. _____. (1998) “La ‘verdad de las sepulturas’ y la incertidumbre de la escritura”, en Soria Olmedo, Andrés et al. (eds.) (1998) pp. 61-76. Montero Barrado, Jesús Mª (2010) “Las vicisitudes de Federico García Lorca después de su muerte” < http://el-victoriano.blogspot.com/2010/08/lasvicisitudes-de-federico-garcia.html> Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 139 Mora Guarnido, José (1958) Federico García Lorca y su mundo. Testimonio para una biografía, Buenos Aires, Losada. Prades,Joaquina(2010)</articulo/ultima/Hay/quien/tiene/500/manolos/Disparateo bsceno/elpepiult/20100917elpepiult_2/Tes> Romera Castillo, José y Gutiérrez Carbajo, Francisco (eds.) (1998) Biografías literarias, Madrid, Visor. Sahuquillo, Ángel (1986) Federico García Lorca y la cultura de la homosexualidad, Estocolmo, Universidad de Estocolmo. Sánchez Trigueros, Antonio (1998) “El teatro de Federico García Lorca y su puesta en escena” (Grupo de Investigación de Teoría de la literatura y sus aplicaciones), en Soria Olmedo, Andrés et al. (eds.) (1998a) pp. 254-296. Sorel, Andrés (1977) Yo, García Lorca, Madrid, Zero-Zyx. Soria Olmedo, Andrés et al. (eds.)(1998a) Federico García Lorca, clásico moderno, Granada, 2000, Diputación Provincial de Granada. _____. (1998b) “Biografías del 27: excesos y carencias”, en Romera Castillo, José y Gutiérrez Carbajo, José (eds.) (1998) pp. 227-242. Tapia Juan Luis (2010) <http://www.ideal.es/granada/v/20100719/granada/lorcapartidario-dictadura-militar-20100719.html>. Umbral, Francisco (1975) Lorca, poeta maldito, Barcelona, Planeta. Viñas, David (2002) “Sainte-Beuve y el método biográfico”, en Historia de la crítica literaria, Barcelona, Ariel, pp.327-329. Wellek, René y Warren, Austin (1953) “Literatura y biografía”, en Teoría literaria, pp. 90-97. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 107‐140, jul./dez. 2010. 140 A MEMÓRIA EM DERRIDA: uma questão de arquivo e de sobre‐vida Maria José R. F. Coracini1 O primeiro sentido que nos vem à memória, tão logo falamos de “memória”, a nós, professores de línguas, herdeiros que somos de teorias da aquisição/aprendizagem da segunda metade do século XX, é o de competência cognitiva, capacidade maior ou menor, segundo o grau de inteligência de cada um (medido pelo QI ou por outros testes psicológicos), de retenção dos dados que chegam até os nossos sentidos para serem arquivados, estudos que fazíamos ou que fazemos com o objetivo de buscar instrumentos que auxili(ass)em o aluno em seu processo de aprendizagem, na crença, cientificamente ingênua, de que é possível manipular ou controlar esse “aparelho” mental. Mas, não é da memória cognitiva, ou, pelo menos, não em primeira instância, de que vamos nos ocupar neste texto, mas de outro tipo de memória, da memória que nos remete ao passado, talvez à origem, à origem de nós mesmos que é sempre e necessariamente feita de outros, por outros e, desta vez, num primeiro momento, esse outro ou esses outros – porque cada um é muitos outros na sua constituição heterogênea e, portanto, fragmentária – é o próprio Derrida. 1. DERRIDA, in memoriam Impossível falar de memória em Derrida, sem trazer a ele próprio, espectro que nos/me habita há pelo menos 22 anos, quando assisti, pela primeira vez, um seminário seu em Paris, na Ecole Normale Supérieure da Rue d’Ulm, época em que, confesso, compreendia muito pouco o que ele dizia, mas que preparou 1 Maria José R. F. Coracini é professora da UNICAMP. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 141‐154, jul./dez. 2010. terreno, se assim se pode dizer, para leituras que, desde o Doutorado que tinha início naquele ano – 1984 –, não cessaram de se produzir, arquivos dentro de arquivos, fragmentos de textos que se encadearam noutros textos, noutros autores, constituindo o que ele denomina, em Farmácia de Platão, a tessitura de textos outros. Tessitura, tecido, rede que garante a sobre-vida daquele que, vivo, nos presenteia(va), sem cessar, com textos que produze(ia)m outros e outros mais, mas, que morto, continua vivo, mais presente do que nunca, na memória – que não se fecha – e nos textos que continuam abertos – escancarados – a múltiplas interpretações, prosseguindo sua missão, ou função, de inquietar, provocar, problematizar, convocar, comprometer. Ora, como afirma o próprio Derrida, o compromisso provém da herança; herança que, sem querer – nem ele, Derrida, nem nós – recebemos. Sobretudo aqueles que, como eu, embora tenhamos desejado um contato mais próximo – talvez desenvolver uma pesquisa sob sua direção – não fomos dignos dessa honra. Mas, ainda assim, consideramo-nos herdeiros de seus textos. Herança essa que não torna ninguém, gratuitamente, rico, mas que significa, como ele próprio afirma, trabalho: o que fazer com ela? É a pergunta que sempre fazemos ao receber uma herança: podemos não fazer nada ou fazê-la produzir, dar frutos, transformar-se, sobre-viver. Voltaremos a essa questão mais adiante. Por enquanto, convoquemos, invoquemos, chamemos Derrida e sua memória – se ousadia demais não for – para nos ajudar a contar um pouco de sua vida2. Jacques Derrida nasceu na Argélia, mais precisamente no Maghreb, em ElBiar, aos 15 de julho de 1930; é, portanto, franco-magrebino, embora “o silêncio desse hífen não pacifique ou não acalme nada, nenhum tormento, nenhuma tortura” (DERRIDA, 1996, p.27), que permaneceu em sua memória, na história das relações entre França e o Maghreb, na história do próprio Derrida. Ainda menino, sofreu as consequências da colonização imposta e esmagadora, uma espécie de “assimilação profunda” em apenas duas gerações. Seus pais não quiseram que aprendesse árabe: devia falar francês e aprender francês na escola. Na juventude, perdeu, sem nada haver perguntado ou dito, a cidadania francesa, sem que nenhuma outra fosse colocada no lugar. Anos depois, recuperou-a, também sem mais nem menos: era jovem demais para compreender as 2 Os dados que aqui trazemos foram coletados, sobretudo, do documentário D’Ailleurs, Derrida, produzido por Safaa Fathy em 1999, e da obra de Derrida Le Monolinguisme de l’Autre. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 141‐154, jul./dez. 2010. 142 implicações políticas de tudo isso. Tal acontecimento tomou de surpresa todos os judeus da Argélia, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, decisão unilateral do governo francês, já que não houve, como testemunha o próprio filósofo, nenhuma Ocupação alemã naquele país. Essa atitude, arbitrária, injusta e, ao mesmo tempo, sem sentido, deixou, certamente, marcas traumáticas na identidade – sua e do seu grupo –, "na pertença ou não-pertença da língua, nessa filiação à língua" (DERRIDA, 1996, p. 35) francesa, a sua língua, a única que ele possuía, mas que não lhe pertencia, como não cessa de repetir Derrida em seu Monolinguismo do Outro. Aliás, uma língua não pertence nunca a ninguém, embora tenhamos essa impressão: algo está impresso em nós de que a língua que denominamos materna, a língua que nos constitui enquanto sujeitos, que nos faz sujeitos, nos pertence e, com ela, todos os arquivos culturais que constituem a memória de um povo, do povo que nos acolhe(u). Mas, Derrida – assim como outros – sentiu-se des-filiado, sem cidadania, sem pertença, sem identidade, lançado à memória de tudo o que os tornava rejeitado, excluído, marginalizado. Aos 22 anos de idade, Derrida seguiu para a metrópole, a fim de prosseguir seus estudos em filosofia na Ecole Normale Supérieure em Paris, onde lecionou de 1965 a 1984. Etienne Balibar testemunha em seu texto “Adieu, Derrida”, como aluno, amigo e colega, que, quando Derrida já era conhecido como “melhor fenomenólogo da França”, ele era sobretudo para ele e seus colegas, “o autor de um ensino maravilhoso sobre a origem da geometria de Husserl”, no qual a questão da historicidade da verdade se impunha nos debates entre o sociologismo e o psicologismo. E Balibar prossegue: Ele ia diretamente ao mais difícil: a questão das condições de possibilidade da demonstração, fazendo-a passar de um problema de garantia formal a um problema de reprodução no tempo, antecipando sua temática do ‘traço’ (la trace) ou da conexão entre a atividade do pensamento e a materialidade da escritura. Seus cursos eram eloquentes, mas, sobretudo, rigorosos no estabelecimento dos conceitos e na leitura dos textos (...). De 1960 a 1964, lecionou na Sorbonne. No início dos anos 70, dividiu seu tempo entre Paris e os Estados Unidos, onde lecionou em universidades como Johns Hopkins, Yale e University of California at Irvine. Se Derrida era conhecido como grande intelectual e filósofo, ele sempre foi, sobretudo, professor, como ele próprio confessa em D’ailleurs Derrida. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 141‐154, jul./dez. 2010. 143 Um dos grandes pensadores da geração de 68, centrou suas críticas, como os demais, na epistemologia ocidental baseada no primado da racionalidade e da busca da verdade, no sujeito idealizado da época das Luzes. Essa perspectiva projetou-o, bem como a seus colegas Foucault, Barthes, Lacan e outros, na pósmodernidade ou no pós-estruturalismo, já que, segundo alguns críticos, esses pensadores e Derrida em particular projetam suas obras na crítica ao estruturalismo. A obra de Derrida efetua o que se convencionou denominar de desconstrução, modo de pensar que problematiza de dentro o que parece natural, óbvio, familiar, de modo a provocar, exatamente aí, estranhamentos, a trazer questionamentos sobre as articulações e as decorrências. Não se trata, portanto, de “destruir” para construir sobre novas bases: não é possível, segundo o filósofo, estar fora, no exterior daquilo que nos constitui, como é o caso da epistemologia ocidental baseada no primado da racionalidade e na busca da verdade e da perfeição. Os trabalhos de Derrida focalizam a linguagem e subvertem as concepções vigentes de leitura, escritura e texto, questionando-o como fonte de seu sentido e deslocando a noção de texto para todo e qualquer acontecimento Alguns críticos confundem desconstrução com destruição e consideram que suas obras destroem os primados metafísicos da filosofia; na verdade, Derrida mostra as tensões inevitáveis entre o desejo de coerência que governa a filosofia – e eu acrescentaria (como, aliás, ele o fez em diversos momentos) toda disciplina, área de conhecimento ou ciência – e as evidências de sua impossibilidade. Aos 8 de outubro de 2004, morre em Paris, aos 74 anos para permanecer entre nós como espectro, mais presente e mais vivo do nunca, como o grande, senão o maior e mais famoso, filósofo dos últimos tempos. Pouco tempo antes, mais precisamente em novembro de 2003, confessou em uma entrevista ao jornal Le Monde sua fragilidade diante da morte, ele, que tantas vezes discutira o tema da morte e do luto, ele que sabia que morremos a cada instante, a cada experiência, que a morte faz parte da vida, confessa que não aprendera a viver porque não aprendera a morrer: Você sabe, aprender a viver é sempre narcísico (...): a gente quer viver o máximo possível, salvar-se, perseverar e cultivar todas essas coisas que, infinitamente maiores e poderosas do que você, fazem, entretanto, parte desse pequeno “eu” que transbordam por todos os lados. Pedir-me para renunciar a tudo isso que me formou, ao que tanto amei, ao que foi minha lei, é me pedir para morrer. Nessa fidelidade, há uma espécie de instinto de conservação. (DERRIDA, 2005, p. 30) Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 141‐154, jul./dez. 2010. 144 Derrida estava em guerra contra ele mesmo, contra a doença (o câncer) que o estava atacando e debilitando: era humano, demasiadamente humano, para parafrasear Nietzsche – um dos filósofos que se encontram na base de seu pensamento –, mas, paralelamente, discorria sobre o perdão e a hospitalidade, dois temas tão necessários num mundo invadido por tantas hostilidades, guerras, disputas, sobretudo contra aqueles que mais próximos estão uns dos outros. Como lembra Freud, em Mal-estar da Civilização, quanto mais semelhantes são, mais se agridem, mais um cutuca no outro o que está recalcado, daí o desejo de um exterminar o outro, de enterrá-lo, de fazer o trabalho de luto, ainda que tudo isso seja inconsciente. Derrida (1995[2001]3) afirma, retomando Freud, na obra referida, que o trabalho de luto pretende – quase sempre de forma inconsciente – assegurar-se de que o morto não volte, de que seu cadáver permaneça localizável, em lugar seguro, em decomposição, exatamente onde foi colocado (DERRIDA, 1993 [1994, p.134], que sua memória se apague ou que reste apenas como arquivo morto, fechado, acabado, esquecido, finalizado. Derrida referia-se a Marx, mas podemos pensar em qualquer outro... Não é, entretanto, o que vemos acontecer com Derrida que permanece vivo nos rastros que deixou em quem apenas o viu, o ouviu algumas vezes: simplicidade, grande humildade, respeito pelo outro, ao lado de uma inteligência incomparável, de uma sabedoria profunda que constituía sua memória de que deixou vários arquivos abertos a todos quantos quiserem interpretar, pensar, fazer prosseguir sua (in)terminável caminhada. Ainda que sempre haja aqueles que, no desejo de proteger o seu sepulcro, na reta intenção de não permitirem que o matem com sacrilégios, se colocam como guardas em torno de seu esquife, seu espectro escapará, através de sua obra, pelo excesso de vida que nela transborda não permitindo que o matem, que o enterrem, que o encerrem em interpretações controladas e autorizadas, para não dizer, autoritárias. 3 A primeira data corresponde à publicação da obra original e a segunda, entre colchetes, à publicação da obra traduzida consultada. As demais ocorrências da mesma obra trarão apenas a referência à data da publicação da obra consultada. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 141‐154, jul./dez. 2010. 145 2. A MEMÓRIA em Derrida O arquivo é outro sentido de memória que Derrida traz à baila em sua obra Mal de Arquivo (2001), tema de uma conferência proferida em Londres, no dia 5 de junho de 1994, denominada “Memória: a questão dos arquivos”. De uma certa maneira, esse tema é retomado, em vários momentos, em Espectros de Marx (1994), já que a memória é constituída de um sem-número de espectros, de fantasmas, de espíritos se assim quisermos, de fragmentos de sujeitos que atravessa(ra)m nossa existência e que vão constituindo arquivos, ora mais, ora menos organizados, segundo a função que desempenha(ra)m na vida de cada um. Na maior parte das vezes, eles se misturam, se combinam, se confundem, constituem uma rede, fios emaranhados, cuja origem heterogênea e híbrida permanece, desconhecida, no inconsciente. O sentido mais comum de memória e, por extensão, de arquivo, é, como sabemos, de retorno à origem, ao passado, o que nos remete ao desejo de completude, de totalização, de controle de si e do outro, de tudo enfim. Nesse sentido, a memória remete a arkhé – raiz do termo arquivo –, arcaico e arqueológico, lembrança ou escavação, busca do tempo perdido no passado e que gostaríamos, de forma consciente ou não, de resgatar. Trata-se de conjuntos complexos de traços, de marcas, verdadeiras inscrições que vão se complexificando com o tempo, mas que não se apagam jamais. É importante compreender que, para Derrida, nem a memória individual é inocente, neutra, uma retomada da origem intacta, pura, do acontecimento em sua objetividade, ainda que esse acontecimento tenha sido vivido, presenciado, testemunhado... A memória será sempre interpretação, invenção, ficção, que se constitui a posteriori do acontecimento, num momento em que outros já se cruzaram e fizeram história. Por essa razão, a memória será sempre incompleta, sempre faltosa, de certa maneira sempre verdadeira e, ao mesmo tempo, mentirosa. Essa ficção ou essa interpretação se submete, sempre, às leis ou às regras – o que significa ao poder – do momento que se está vivendo. Afirma Derrida, a memória, ou o arquivo, segue as mesmas leis do inconsciente, que, através de recalcamentos, de internalizações da(s) lei(s), faz o que o poder quer; este leva à apropriação de um documento, à sua detenção, retenção ou interpretação Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 141‐154, jul./dez. 2010. 146 (DERRIDA, 2001, p. 07). O poder, que pode ser representado por cientistas ou intelectuais ou por arquivistas, faz, por exemplo, com que nos detenhamos sobre um certo número de documentos e desprezemos outros, que valorizemos um arquivo e não outro, com que valorizemos este e não aquele, com que interpretemos desta e não daquela maneira. Isso no plano oficial da constituição dos arquivos de informação, mas o mesmo se passa com a memória ou os arquivos que vamos constituindo internamente, a nosso respeito ou a respeito do passado de outros. Aliás, vale a pena insistir: é justamente no lugar de uma anamnese4 impossível em sua experiência espontânea, viva e interior, no lugar da falta originária e estrutural da chamada memória que o arquivo tem seu lugar (DERRIDA, 2001, p. 22), na tentativa, vã, diga-se de passagem, de preenchê-la, de completá-la, de fixá-la. Assim, um livro ou mesmo uma foto pode constituir um arquivo, na medida em que esta procura congelar na imagem um ou vários acontecimentos importantes e, com ele(s), uma série de lembranças, que retomam outras e estas, outras mais. Nesse sentido, uma música pode também constituir um arquivo, desde que algo se organize, se materialize nela. Enfim, o arquivo resultaria daquilo que, internalizado na memória, parecia impossível de organização, apenas fragmentos, por vezes desconexos e embaralhados. A psicanálise – que Derrida retoma, em Mal de Arquivo, como modelo para tornar compreensível o método do arquivo – fala, com razão, de estocagem das impressões, de cifragem de inscrições no inconsciente, mas também de censura, de recalcamento, de repressão, de tensões, contradições, aporias – insolúveis, constitutivas, indeléveis. Marcas que provêm do exterior e que marcam a singularidade do sujeito; marcas que se inscrevem no corpo próprio, por vezes de modo explícito, através de um corte, de uma circuncisão, no caso dos judeus, que deixa uma cicatriz – incisão na pele que recobre outras peles, inscrição posta e imposta (já que a criança não decide) numa sociedade, numa cultura, numa religião (conjunto de crenças); marcas que se inscrevem nos hábitos, nas roupas, na alimentação, no corpo. Incisão que é sempre memória. Memória que se recebe por herança e que permanece como traço indelével, ainda que se queira apagar, denegar, sepultar, depositar num lugar determinado para vigiar o morto, como 4 História de vida, retrospectiva que se pretende fiel aos acontecimentos vividos. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 141‐154, jul./dez. 2010. 147 afirma Derrida a respeito do próprio Freud que, inutilmente, tentou ocultar a origem judia da psicanálise. Entretanto, mesmo quando essa marca não é tão fisicamente visível, tão publicamente explícita, voluntária, consciente, toda memória, todos os fantasmas que nos habitam, todas as marcas, sobretudo os traços primários – responsáveis, segundo Lacan, pela singularidade do sujeito – deixam marcas em nosso corpo, em nossa aparência física, ainda que essa aparência nos torne semelhantes aos de nossa geração, aos que conosco convivem, na historicidade compartilhada. O que não significa que, sobre essas marcas indeléveis, outras não se inscrevam: a moda, a historicidade na qual mergulha o sujeito provoca deslocamentos, transformações, inscrições sobre inscrições. Mas, outro sentido aflora do termo arquivo: se ele remete a começo, remete também a comando (ordem, autoridade). Derrida (2001, p. 12) lembra que archive (fr.), usado inicialmente, em francês, no masculino singular, provém do grego arkheîon, “inicialmente uma casa, um domicílio, um endereço, a residência dos magistrados superiores, os arcontes, aqueles que comandavam”. Eles representavam a lei, pois a detinham. Considerando sua autoridade publicamente reconhecida, era em seu lar, nesse lugar (casa particular, da família, casa funcional) que se depositavam, então, os documentos oficiais. Os arcontes foram os primeiros guardiães. Não eram apenas responsáveis pela segurança física do depósito e do suporte; a eles cabiam o direito e a competência hermenêuticos: tinham o poder de interpretar os arquivos. Assim se estabeleceu o poder arcôntico, que remetia às funções de unificação, classificação, acrescidas do poder de consignação. Este aponta para a designação de um lugar, sobre um suporte, mas também para o ato de reunir signos (“com-signar”). Ora, deduz-se daí que a classificação, a reunião de signos devem obedecer a uma certa ordem, a uma certa lógica, a leis, a regras. “Num arquivo, afirma Derrida, não deve haver dissociação absoluta, heterogeneidade ou segredo que viesse a separar (scernere), compartimentar de modo absoluto. O princípio arcôntico do arquivo é também um princípio de consignação, isto é, de reunião” (DERRIDA, 2001, p. 14). Desse modo, todo arquivo precisa de um lugar (instância topológica) e de lei(s) – autoridade – (instância nomológica), para se constituir, ou melhor, se construir. Quem não reconhece aí as origens do que, ainda hoje, denominamos arquivos – impressos ou virtuais? Arquivos de dados para (ou resultantes de) Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 141‐154, jul./dez. 2010. 148 pesquisas ou arquivos em bibliotecas? Todos precisam de um lugar e de leis de ordenação, de organização, o que pressupõe, necessariamente, escolha, hierarquização, exclusão de dados. O princípio de consignação significa, também, que não há arquivo sem uma técnica de repetição e sem uma certa exterioridade. O arquivo deve assegurar a possibilidade de repetição, de memorização, de reprodução ou de reimpressão. E, lembra Derrida (2001, p. 23), a lógica da repetição, a compulsão à repetição é, segundo Freud, indissociável da pulsão de morte, ameaça de destruição. Tanto na figura do espectro quanto na ideia de arquivo, há o desejo de permanência, de eternização, de infinitude. O espectro retorna ou permanece no, para, com o outro, como uma sombra fantasmática a per-seguir o caminho desse outro – desejante ou não. O arquivo resulta do investimento de um trabalho sedutor, remédio para o tão temido desaparecimento da memória. Mas, paradoxalmente, a pulsão de morte ameaça todo desejo de arquivo, ou melhor, mina por dentro o arquivo, constitui o próprio arquivo, na medida em que este tenta fixar o passado, estabilizar os dados, estancar a memória. No caso do espectro, é o desejo de abafar o recalcado ou o reprimido: o morto passa por um trabalho de luto, logo após um traumatismo que pode ser resumido em atos de exorcização, de sepultamento, garantia de que o morto realmente morreu e de que permanecerá numa sepultura a ele destinada, onde seu desaparecimento possa, de algum modo, ser controlado. Em ambos os casos, trata-se da memória que remete ao passado, que, evidentemente, se desejaria guardar, preservar, conservar tal e qual (se possível), em vista de um por-vir, de um futuro e, portanto, do outro, de uma alteridade em direção à qual o presente se projeta inexoravelmente. Mas, ao mesmo tempo e contraditoriamente, desejar-se-ia eliminar, destruir, paralisar toda possibilidade de porvir. Pulsão de vida e pulsão de morte, de prazer e de violência, pulsão de conservação e de destruição, preservação e aniquilação de si, do outro e do outro de si. A essa contradição interna Derrida denomina “mal de arquivo”: se o arquivo existe é porque o esquecimento, a finitude rondam a memória; ao tentar conservar os dados que constituem os acontecimentos, o arquivo os destrói, os corrompe, porque os classifica, modifica, hierarquiza, transforma e, sobretudo, paralisa, destrói, mata. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 141‐154, jul./dez. 2010. 149 Assim se pronuncia Derrida (2001, p. 32) a respeito: Não haveria certamente desejo de arquivo sem a finitude radical, sem a possibilidade de um esquecimento que não se limita ao recalcamento. Sobretudo, e eis aí o mais grave, além ou aquém deste simples limite que chamam finitude, não haveria mal de arquivo sem a ameaça desta pulsão de morte, de agressão ou de destruição [...] É importante lembrar, ainda, que arquivo, em Derrida, aponta para “impressão”, termo tomado em seus múltiplos sentidos, dentre os quais, ele destaca: a) a impressão como inscrição, ao modo de uma impressora que permite a reprodução, a repetição daquilo que, como um carimbo se recalca (sempre no inconsciente em sua operação e em seu resultado), ou se reprime. Freud chama a repressão de segunda censura, aquela que opera entre o consciente e o préconsciente e que afeta o afeto; b) impressão como noção vaga, imprecisa, indefinida: “tenho a impressão, mas não a certeza, de que x aconteceu” ou “algo me impressiona”; c) ligada à primeira, como marca em sua cultura, que se imprime fora e dentro de cada um: algo se imprime em nós como o “rastro de uma incisão diretamente na pele. Mais de uma pele, em mais de uma era. Literal e figurativa, acumula muitos arquivos sedimentados, alguns dos quais se inscrevem na epiderme do corpo próprio” (DERRIDA, 2001, p. 33), no caso da circuncisão. Essas im-pressões (prensas em) constituem marcas de uma escritura ao mesmo tempo interna e externa que inscreve o sujeito numa cultura, isto é, em arquivos, de que, não raro, ele deseja, em vão, se desfazer, como tentou Freud, segundo Derrida (2001) a partir do texto de Yerushalmi (1991), ocultando a origem (judia) da psicanálise, seu próprio nome (Shelomoh Sigismund Freid), sua religião e importantes acontecimentos familiares reveladores de suas origens. Mas, apesar disso, há rastros espalhados em sua obra que denunciam suas origens recalcadas e denegadas. Assim, se a memória, na sua contradição constitutiva, se faz de esquecimentos, de recalques e repressões, pois é impossível um retorno vivo e inocente às origens de acontecimentos que, ao se re-construírem, se transformam e se formam (são, portanto, ao mesmo tempo, o mesmo e o diferente), os arquivos, sínteses parciais, ainda que se queiram totais ou totalizantes dessa memória, vocacionados que são, ou queremos que assim sejam, à clausura, mantêm-se incompletos, inexoravelmente abertos a novas incorporações, acréscimos, interpretações, reclassificações. Por seu caráter repetitivo, o arquivo se encontra na injunção da memória (passado) e da promessa do futuro (por vir), da chegada Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 141‐154, jul./dez. 2010. 150 de um novo acontecimento; assim, a tarefa do arquivo se justifica no outro porque houve um evento arquivado, porque a lei já se inscreve na memória histórica como injunção, permitindo que outro evento a ele se ligue ou a ele se contraponha. O mais importante, portanto, é que todo arquivo significa “a impaciência absoluta de um desejo de memória” (DERRIDA, 2001, p. 09), mas uma “espera sem horizonte acessível”, porque o arquivo não se fecha a não ser ilusoriamente, “como um fantasma que vê sem ser visto” (DERRIDA, 2001, p. 80), apesar do mal de arquivo, que Derrida define como decorrente da pulsão de morte em Freud, da violência de tornar um o que é múltiplo, simples o que é complexo, porque híbrido, heterogêneo, “na figura da reunião totalizante” (DERRIDA, 2001, p. 101), representada pela lei do arconte, pela lei da consignação, união de fragmentos ou partes, documentos, para constituírem o único. Assim se pronuncia Derrida a respeito: Talvez seja da estrutura do próprio arquivo que esse corpo e nome sejam espectrais, incorporando o saber que se demonstra sobre esse tema, o arquivo aumenta, cresce, ganha em autorictas. Mas perde, no mesmo golpe, a autoridade absoluta e metatextual que poderia almejar. Jamais se poderá objetivá-lo sem um resto. O arquivista produz o arquivo e é por isso que o arquivo não se fecha jamais. Abre-se a partir do futuro. (DERRIDA, 2001, p. 88) E é a partir desse lugar, do lugar do futuro, do lugar do morto, que “deixando de falar, ele faz falar, não respondendo nunca senão para se calar, não se calando senão para deixar a palavra ao paciente, o tempo de transferir, de interpretar, de trabalhar” (DERRIDA, 2001, p. 81). Essa seria a tarefa do analista. Mas, não ARQUIVANDO... por enquanto Em Mal de Arquivo, Derrida encontra no texto freudiano um modelo exemplar para a compreensão da estrutura do arquivo. Isso porque as funções dominantes das técnicas do arquivo (impressão, repressão, supressão) estão relacionadas com a psicanálise. Por outro lado, a própria psicanálise freudiana constitui em si um arquivo heterogêneo, híbrido, em que a história de Freud e a da psicanálise – desejo de ciência e, ao mesmo tempo, impossibilidade – estão irremediavelmente imbricadas e nelas, a memória do povo judeu, pois a obra de Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 141‐154, jul./dez. 2010. 151 Freud, judeu austríaco, está perpassada de fragmentos, fios, por vezes descosturados, dessa memória (ver Totem e Tabu, Moisés e o Monoteísmo dentre outros trabalhos). Afinal, é preciso lembrar, em Derrida, a memória, ainda que individual, é sempre subjetiva porque construída, fruto de interpretação, e sempre social, porque herdada e, como tal, transformada, deformada. Como procuramos explicitar, o conceito de arquivo em Derrida não coincide com a definição usual, pois traz uma multiplicidade de sentidos, dos quais procuramos trazer os mais pertinentes. Para o filósofo, arquivo é tudo aquilo que retém em si acontecimentos passados que se deseja reter de forma ordenada, organizada, mas é, também e ao mesmo tempo, uma substanciação plural de conhecimento histórico, aberto para futuras interpretações, que dependerão sempre das circunstâncias históricas em que se produzirão. Nenhum dado passado, nenhum aspecto da memória permanece inalterado, em seu estado puro e original: sempre haverá leis, regras, interesses que orientarão os olhares para este ou aquele aspecto, para a valorização de certos acontecimentos em detrimento de outros, de certas informações e não de outras. Assim, é possível dizer que os arquivos, embora tenham por vocação primeira a preservação da memória, constituem práticas ativas e discursos que criam hierarquias e exclusões; nessa medida, servem ao poder, nos planos político e cultural. Os arquivos constituem, pois, segundo Papatheodorou (1999, p. 199200) linguagens do passado, ativadas em conformidade com as demandas científicas e sociais e o conteúdo dessas escolhas está marcado pelo modo como buscamos (ou somos levados a buscar) a informação. Nossa escolha, portanto, não se orienta por nenhum princípio abstrato, neutro, mas é uma negociação orientada ideologicamente, relacionada de bem perto com as políticas de interpretação. E esse aspecto político, esse compromisso social Derrida não encontra na psicanálise que, portanto, nesse aspecto, não constitui modelo, pois não é capaz de dar conta da importante estrutura social do arquivo. Resta uma última reflexão que considero de extrema importância e que provém da concepção de memória e arquivo em Derrida. Todo arquivo se dá a ler e não é possível ler, interpretar, estabelecer seu objeto, isto é, uma herança dada, senão inscrevendo-se nele, isto é, abrindo-o e enriquecendo-o a mais não poder, para, só então, aí ocupar um lugar em pleno direito (DERRIDA, 2001, p. 88). E é isso o que deseja Derrida, para quem a memória e o arquivo – que já estavam constituindo, de si, de sua obra e das obras que possuía em vida, desde que Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 141‐154, jul./dez. 2010. 152 completou 70 anos –, enfim, a sobre-vida, não significam continuar presente depois da morte, mas ... a vida para além da vida, a vida mais do que a vida, e o discurso que mantenho não é mortífero, ao contrário, é a afirmação de um vivente que prefere o viver e portanto o sobreviver à morte, pois a sobrevida não é simplesmente o que resta, é a vida mais intensa possível. (DERRIDA, 2005, p. 55) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BALIBAR, Etienne. A bientôt, Jacques Derrida. Les Archives Intégrales de l’Humanité, 11/10 (www.mideastdilemma.com/featured.html) 1994. DERRIDA, Jacques. Apprendre à vivre enfin – entretien avec Jean Birnbaum. Paris: Galilée / Le Monde. 2005. _____. D’Ailleurs, Derrida. Film documentaire (super 16 mm; durée: 68’). Auteur-réalisateur: Safaa Fathy. Production: Laurent Lavolé et Isabelle Pragier. Gloria Films, La Sept Arte.Trad. du texte: Élida Ferreira.1999. _____. Le Monolinguisme de l’Autre. Paris: Galilée.1996. _____. (1995) Mal de Arquivo. Trad. Claudia de Moraes Rego. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001. _____. (1993) Espectros de Marx. Trad. Anamaria Skinner. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994. _____. (1972) A Farmácia de Platão. Trad. Rogério da Costa. São Paulo: Iluminuras, 1991. FREUD, Sigmund. (1930) O Mal-Estar na Civilização. In Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Trad.: José Octavio de Aguiar Abreu. Rio de Janeiro: Imago, 1997. v. XXI, p. 73-171. PAPATHEODOROU, Yiannis. Review of Jacques Derrida, Mal d'Archive (1995). History in the promised land of memory , volume 1, Athens.1999, p. 199200. YERUSHALMI, Yosef Hayim. Le Moïse de Freud, judaïsme terminable et interminable. Paris: Gallimard.1991. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 141‐154, jul./dez. 2010. 153 154 Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 141‐154, jul./dez. 2010. O DIÁRIO DO CORAÇÃO DESNUDADO: migração de um projeto de Poe a Baudelaire Myriam Ávila1 In the desert I saw a creature, naked, bestial, Who, squatting upon the ground, Held his heart in his hands, And ate of it. I said, “Is it good, friend?” “It is bitter – bitter,” he answered, “But I like it Because it is bitter, And because it is my heart.” (Stephen Crane) Edgar Allan Poe, em janeiro de 1848, publicou na Graham Magazine um artigo em que dizia: Se a algum ambicioso viesse a ideia bizarra de revolucionar de uma só vez todo o universo do pensamento, da opinião pública e do sentimento dos homens, o caminho que o pode conduzir a uma glória imorredoura encontra-se aberto, e sem obstáculos a sua frente. Para o efeito, bastar-lhe-á escrever e publicar um livrinho muito modesto. O título desse livro não tem de ser muito complicado – apenas algumas palavras que todos 1 Myriam Ávila é professora da UFMG. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 156‐166, jul./dez. 2010. compreenderão: Meu coração desnudado. No entanto, esse livrinho deve cumprir as promessas contidas no seu título. O parágrafo seguinte mantém o tom blasé e levemente irônico do primeiro, mas termina repleto de pathos: Ora, não deixa de ser muito singular que, com a furiosa sede de notoriedade que distingue tão grande parte da humanidade – tantos, inclusive, que não dão a mínima para o que se pensará deles após a sua morte, não se encontre um único homem que seja empedernido o suficiente para escrever esse livrinho? Para escrever, digo. Há dez mil homens que, uma vez que o livro estivesse escrito, rir-se-iam da ideia de se sentirem incomodados com sua publicação ainda durante sua vida e que não poderiam ao menos conceber por que deveriam se opor a ele ser publicado após a sua morte. Mas escrever, aí está a questão. Nenhum homem ousa escrevê-lo. Nenhum homem jamais ousará escrevê-lo. Nenhum homem poderia escrevê-lo, mesmo se o ousasse. O papel se contorceria e queimaria a cada toque da pena flamejante. Cerca de vinte anos depois – a data não foi plenamente estabelecida – Charles Baudelaire iniciou a escrita de uma série de notas em folhas separadas, sempre sob a rubrica “Meu coração desnudado” – Mon coeur mis a nu – que as distinguia uma a uma de outra série de anotações intitulada Fusées (Projéteis, na tradução de Fernando Guerreiro), que a antecedera. As folhas das duas séries foram publicadas postumamente sob seus respectivos títulos, ambas classificadas como escritos íntimos ou diários. Algumas cartas de Baudelaire a sua mãe, escritas entre os anos de 1863 e 65, dão conta de que o poeta pretendia fazer dessas notas um livro cuja publicação fizesse furor, superando em franqueza as Confissões de Rousseau. Este livro de “todas as minhas iras” prometia Baudelaire, haveria de “mostrar de forma muito clara que me sinto como um estranho em relação ao mundo e aos seus cultos. Voltarei contra toda a França o meu real talento para a impertinência. Sinto necessidade de me vingar – tal como um homem fatigado deseja um banho que o restabeleça”. Seus planos para o livro eram de tal forma radicais que o poeta tinha em vista só publicá-lo quando tivesse fortuna suficiente para se refugiar fora da França, “caso seja necessário”. Embora não mencione o artigo de Poe, tanto o título como o teor que projetava dar ao livro apontam para o desejo de encarar o desafio proposto pelo escritor que tanto admirava. Quando lemos as poucas páginas deixadas por Baudelaire do que seria o furibundo livrinho, no entanto, é inevitável a quebra de expectativa com relação à descrição pelo autor do Corvo do estrondoso efeito que tal obra necessariamente teria. A quebra de expectativa não vem de um deficit de realização de Baudelaire, Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 156‐166, jul./dez. 2010. 156 de uma falha em atingir a pungência propugnada por Poe: o que causa estranheza é que o poeta francês nem ao menos parece ter tentado mostrar-se à altura do desafio. Não há confissões ou segredos revelados, onde o texto de Poe nos teria feito esperar um relato de perversidades, recheado com chocantes detalhes de inclinações e atos pecaminosos, veemente o bastante para fazer o papel contorcerse e queimar-se. Em lugar disso, Baudelaire produz uma série de notas curtas cujo lado mais agressivo é composto de diatribes contra a “canalha literária” ou contra esse e aquele autor em particular. Sua misoginia é agressiva mas não muito mais forte do que a que a que frequentava a conversa de rua de sua época. Deus é questionado, Satã às vezes é trazido para o primeiro plano, mas em geral a religião é mais prezada por esse “poeta maudito” do que seria de se esperar. Encontramos em suas notas opiniões contundentes sobre diversos aspectos da sociedade, notas em que a originalidade e a franqueza ressaltam, sem, no entanto, apresentar caráter destrutivo e anarquizante: Só existem três tipos respeitáveis: O padre, o guerreiro e o poeta. Saber, matar e criar. Todos os outros homens não passam de indivíduos moldáveis e serviçais, bons para a estrebaria (isto é, próprios para exercer o que chamam profissões). Sua mágoa relativa à pouca atenção recebida de uma patronesse das artes se exprime de forma moderada: “Madame de Metternich, apesar de ser uma princesa, esqueceu-se de responder-me a propósito de tudo o que disse a seu respeito e de Wagner. Costumes do século XIX.” Essa performance relativamente contida apesar da personalidade vigorosa que deixa transparecer aponta para uma minimização do projeto do poeta que fora sua grande inspiração. Seria consciente no discípulo o amesquinhamento da visão do mestre? Baudelaire, que em uma de suas notas afirma rezar todas as manhãs a Deus, tomando Poe como seu intercessor, dificilmente subestimaria as opiniões do poeta mais velho, que tanto fizera para tornar conhecido na França. É mais razoável supor que ele pretendia responder ao desafio de Poe da forma mais radical e honesta que pudesse. O pressuposto do presente trabalho é que ele fez exatamente isso, embora por um viés inesperado. Tomemos como contraste o romance de Joyce Carol Oates publicado em 1998 com o título My heart laid bare. Com mais de 500 páginas, o livro narra a saga de uma família marcada pela perseguição do poder a todo custo, movida por Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 156‐166, jul./dez. 2010. 157 interesses escusos e gravada de segredos terríveis. Embora incapaz de causar a revolução que o livro imaginado por Poe provocaria, a história, recheada de peripécias e revelações, estaria mais próxima do que o leitor do artigo da Graham Magazine esperaria do livro assim intitulado. Não cabe aqui uma avaliação do romance de Oates, que também foge da injunção de Poe ao fazer ficção ao invés de autobiografia. Mas o enredo concebido por ela mostra a direção que o projeto de Poe impõe à imaginação do leitor. As escassas páginas do diário de Baudelaire não têm a mesma pretensão de desvelar os subterrâneos da alma humana. Existem, porém, indicações de que suas notas seriam memorandos para um livro que ele mais tarde desenvolveria em sua totalidade, o que nos autoriza a supor que a versão final poderia tomar outro rumo. Algumas das entradas explicitam a intenção de desdobrar as anotações sumárias: “Não esquecer um longo capítulo sobre as artes da adivinhação: pela água, pelas cartas e pela leitura da mão, etc.” Ou: “Um capítulo sobre a indestrutível, eterna, universal e engenhosa ferocidade dos homens” Ou ainda: “Um capítulo sobre A Toilette”. É muito duvidoso, de todo modo, que o poeta algum dia chegasse a encarar a tarefa de transformar suas notas em livro. O próprio caráter aforístico de muitas das notas vai contra a ideia de que estas foram concebidas para serem desenvolvidas no futuro, já que elas derivam sua força justamente de sua peremptoriedade e da ausência de vínculo entre o que vem antes e o que se segue a cada sentença e nada ganhariam em expressão se fossem desenvolvidas em argumentos completos. Veja-se, por exemplo: “1848 só foi encantador pelo seu excesso de ridículo.” “Robespierre só é respeitado por ter feito algumas belas frases. beautiful sentences.” “A Revolução, por meio do sacrifício, confirma a superstição.” A forma fragmentária apresenta-se assim como a mais adequada ao tiroteio de opiniões, censuras e exclamações que compõem Mon coeur. Deste modo, aceitando o texto nos termos em que ele se coloca, sem a referência ao projeto de Edgar Allan Poe, farei a seguir um exame de seus aspectos específicos com a intenção de depois voltar ao artigo de Poe através de uma nova perspectiva. Os quatro elementos formadores de Meu coração desnudado são a parataxe, o non-sequitur, a não-narratividade ou temporalidade estanque e a “vaporização do eu”. Os dois primeiros se integram ao terceiro por serem procedimentos formais que evidenciam a recusa à narratividade. Esta, porém, vai além desses Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 156‐166, jul./dez. 2010. 158 procedimentos e imbrica-se no tema da “vaporização do eu” proposto por Baudelaire na primeira linha de seu caderno de notas. Embora os quatro elementos se unam para criar o efeito final e dependam estreitamente um do outro, uma exposição separada de cada um pode nos ajudar a compreender melhor esse efeito. A parataxe, figura de estilo elevada a conceito crítico em famoso ensaio do filósofo alemão Theodor Adorno, diz respeito à justaposição de frases sem encadeamento sindético, chegando, no texto de Baudelaire, a configurar uma simples enumeração: “O que penso do veto e do direito a eleições. – São direitos dos homens. O que em qualquer função há de vil. Um Dândi limita-se a não fazer nada. Poder-se-á imaginar um Dândi falando ao povo a não ser para o espezinhar?” O uso de frases nominais em sequência enumerativa é constante: “A garota dos editores. A garota dos chefes de redação. A garota espantalho, monstro, assassina da arte. A garota e o que ela é na realidade. Uma tolinha e uma safada: a maior imbecilidade e a maior das depravações juntas.” Ou: “Da música Da escravidão. Das senhoras da sociedade. Das prostitutas. Dos magistrados. Dos sacramentos. O homem de letras é o inimigo do mundo” Existem algumas notas mais estendidas, em que se encontram períodos mais longos, hipotaticamente organizados. Ainda aí, no entanto, prevalece uma relação de justaposição de parágrafo a parágrafo, expressa pela descontinuidade de assunto, perspectiva ou tom. Essa descontinuidade constitui o segundo elemento destacado aqui, o non sequitur, de largo uso nos textos nonsense, dificultando a Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 156‐166, jul./dez. 2010. 159 percepção de uma linha de pensamento ou argumentação. O efeito da justaposição – mais brusca no non-sequitur – é, por acumulação, a de quebra da hierarquização de ideias em proposições principais e secundárias. Cada frase – que, em Meu coração cabe chamar de sentença, devido a seu caráter sentencial – fala por si, sem tomar sua autoridade de um discurso articulado, sem contribuir para uma argumentação sequencial e tributária de uma retórica. Outro efeito da colagem de expressões e frases é imprimir ao texto um ritmo entrecortado, rápido – moderno, pode-se dizer. O non sequitur intensifica a impressão de desarticulação de ideias, temas e tom, já que uma proposição não deriva da anterior ao modo do silogismo assim como não chega a assumir o estatuto de premissa. Demonstra ainda uma certa impaciência na elaboração da reflexão, que passa de um objeto a outro continuamente. O procedimento não é incomum na escrita diarística, marcada pelo inacabamento e a disposição do instante. Como foi dito acima, parataxe e non-sequitur são, no livro de Baudelaire, promotores da não-narratividade, o grande princípio formador do texto. Tal princípio porém, expressa-se de forma mais essencial via uma insistência no uso do tempo presente e do infinitivo, configurando uma temporalidade estanque. Recusando já na proliferação de frases nominais a sequencialidade da narrativa, Meu coração desnudado mostra, mesmo nas poucas vezes em que o passado é invocado, uma tendência a apor aos curtos trechos narrativos um comentário generalizante relativo ao estado de coisas atual, como recaída em uma temporalidade ideal, sem avanço ou recuo, da ordem da reflexão. “Meu furor ante o golpe de Estado. Como suportei tantos tiros de fuzil! Mais um Bonaparte! que vergonha! No entanto, depois tudo se pacificou. Não terá o Presidente nenhum direito a invocar? O que é o imperador Napoleão II. O que ele vale. Procurar uma explicação para a sua natureza e o seu caráter providencial.” A lembrança da infância dura igualmente pouco: “Criei-me, em grande parte, no meio do ócio. Para meu grande mal; porque, não tendo fortuna, ele aumenta as minhas dívidas, assim como o aviltamento que trazem consigo. Mas para meu bem – no que respeita à sensibilidade, à reflexão e a uma tendência para o dandismo e a diletância. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 156‐166, jul./dez. 2010. 160 Os outros homens de letras, na sua maioria, não passam de uns cavadores ignorantes. Outras referências à infância são igualmente apenas o prólogo de um comentário mais geral, observação que nos leva ao último elemento formador do texto, que é a “vaporização do eu”. Meu coração desnudado começa com a seguinte frase, que toma como lema: “Da vaporização e centralização do Eu. Tudo reside nisso”. Podemos especular a respeito do significado dessa divisa que inaugura a escrita// recorrendo ao uso da primeira pessoa nas notas que se seguem. A primeira constatação é que o eu é muitas vezes abandonado em favor do nós, seja indicando um agrupamento ideológico (“1848 divertiu-nos porque todos arquitetávamos utopias como se fossem castelos no ar”) ou a comunidade humana (“Ocupamos quase toda a nossa vida com entretenimentos mesquinhos”). Baudelaire afirma, entretanto, que “o verdadeiro herói se diverte sozinho”. Esse herói solitário mas, como todo herói, exemplar encarna-se na figura excepcional do dândi, sempre mencionado em terceira pessoa. O eu não é, em Meu Coração, nem a personagem primordial da experiência nem o pressuposto do ato enunciativo. Deve ser, restritivamente, para Baudelaire, o apanágio dos que o mereceram: “A qualquer pessoa, desde que saiba entreter os outros, é dado o direito de falar de si”. Mesmo a centralização do Eu, que se quer tão decisiva quanto sua vaporização, tem o caráter de processo, de tarefa a executar, de esforço de posicionamento em uma cena já previamente ocupada2. Como vimos, a função Eu não é nesse livro uma construção no tempo, que toma como seu aval uma origem à qual seu desenvolvimento remeterá a cada momento para legitimar-se. Seu uso tende a associar-se aos verbos performativos, mas essas formulações cedem lugar constantemente a enunciados sem sujeito determinado, mesmo quando caberia explicitar a primeira pessoa. O seguinte fragmento, que demonstra um raro uso explícito, mas em proposição negativa, do Eu, mostra um movimento em direção à despersonalização: Tudo o que existe tem um fim. Logo, a minha existência tem um fim. Qual? Desconheço. Não fui eu quem o determinou. Foi alguém mais sabedor do que eu. 2 Judith Butler p.32 Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 156‐166, jul./dez. 2010. 161 Deve-se portanto pedir-lhe que me ilumine. É a posição mais razoável. Percebe-se no decorrer do texto a colocação do Eu pelo menos como posição suspeita, a ser evitada no discurso. A própria escolha do pronome na divisa que dá início ao livro indica sua obliquidade: moi. Embora a tradução natural para o português nesse caso seja “eu”, o confronto com a fórmula de Rimbaud, “je est um autre” mostra que o sentido do pronome é mais um “si mesmo” (self) objetal do que a nomeação de um sujeito altissonante. Ocorre-nos aqui o aforismo de Theodor Adorno na Minima Moralia: “Em muitas pessoas, já é um descaramento dizerem Eu”. Judith Butler, em seu livro Giving an account of oneself, contesta a primordialidade do eu diante do tu, argumentando que o aquele só surge em cena em consequência da pergunta: quem é você? A resposta a essa demanda é habitualmente uma narrativa, ou a conclusão de uma narrativa. Como tal, ela será eternamente insatisfatória: Se pedimos que alguém seja capaz de contar em forma narrativa as razões pelas quais sua vida tomou tal ou tal rumo, ou seja, ser um autobiógrafo coerente, podemos estar preferindo a forma inconsútil da história a algo que talvez caiba chamar a verdade da pessoa (...) p.64. Na linguagem que articula oposição a um início inenarrável reside o medo de que a ausência da narrativa conjure uma certa ameaça, uma ameaça à vida// e colocará o risco, se não a certeza, de um tipo de morte, a morte de um sujeito que não pode, que jamais poderá recuperar as condições de sua própria emergência. Mas essa (...) é apenas a morte de um tipo de sujeito, que na verdade nunca foi possível, a morte de uma fantasia de domínio inexequìvel, portanto a perda do que nunca se teve. É significativo, nesse contexto de emergência do eu, que Baudelaire abdique totalmente da infância como topos narrativo. As poucas referências à infância (seis fragmentos em um total de quarenta e oito) são vazadas na iteratividade do pretérito imperfeito e nunca ultrapassam o espaço de duas frases: Em criança eu ora queria ser papa – mas um papa militar- ora ser comediante. Os prazeres que tirava destas duas alucinações. ou: Desde criança que sinto em mim dois impulsos contraditórios: um de horror e outro de exaltação pela vida. O que é bem característico de um indolente nervoso. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 156‐166, jul./dez. 2010. 162 Uma prova direta da repulsa de Baudelaire pela forma narrativa se encontra em suas raivosas críticas à escritora Georges Sand, que define como “uma dessas atrizes velhas que não querem nunca deixar o palco”. Baudelaire sarcásticamente comenta: “Ela possui esse famoso estilo fluente, tão querido da burguesia.” e prossegue: “Ela é tola, pesada e falastrona.” A menção desdenhosa ao “estilo fluente” lembra a famosa boutade de Paul Valéry, que se declarou incapaz de fazer um romance, pois lhe seria impossível escrever coisas como “A marquesa saiu às cinco horas”. Baudelaire, que criou o lema “Ser sempre poeta, mesmo em prosa”, teria igual dificuldade de narrar, no sentido de delinear uma sequência de acontecimentos ocorrendo de forma encadeada no passado. A aderência do poeta ao presente do indicativo, como marca de atemporalidade, tem o efeito colateral de imergir sua sensibilidade na hora que passa, no transitório e no contingente que representavam para ele a essência de uma época, a modernidade. Pode-se argumentar, ademais, que para qualquer escritor em qualquer tempo, tanto o passado como o futuro jazem necessariamente no futuro da escrita. O passado não pode ser visto como tendo existência prévia, já que ele ainda está para ser construído em termos de palavras e frases. Em última análise, porém, é o presente que prevalece, já que a escrita só pode ser experienciada no momento de sua emergência – enquanto tinge o papel ou preenche a tela do computador. A mesma experiência se dá no processo de leitura, que reencena a escrita no presente do leitor. Voltemos agora à questão: teria Baudelaire, com suas notas concisas e multidirecionais amesquinhado o projeto a que Poe atribuiu um potencial de extraordinária repercussão e impacto? Uma leitura detalhada dos termos em que Poe coloca o seu desafio nos ajudará agora a avaliar o modo como ocorre a migração da ideia do coração desnudado de um a outro escritor. Poe indica aos interessados um meio seguro e fácil de atingir a glória imorredoura: escrever um pequeno livro (não um livro de 500 páginas como o de Joyce Carol Oates) com o título My heart laid bare. Condição única: este livro deve cumprir as promessas do título, isto é, de fato mostrar um coração desnudo. Uma vez publicado, o sucesso é garantido: todos os voyeurs serão seus leitores o que, de certa forma, sugere que todos os leitores são voyeurs e que o móvel da leitura é o voyeurismo. Seguem-se os pontos de argumentação, com as implicações diretas que deles se podem tomar: Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 156‐166, jul./dez. 2010. 163 1. o título exerce um domínio total sobre o conteúdo, assumindo uma posição de protagonismo. 2. o livro pode ser publicado, sem objeções ou obstáculos. Mas não pode ser escrito. 3. muitos ousarão publicá-lo, mas ninguém ousará escrevê-lo: o problema não está no conteúdo e sua divulgação. 4. ninguém poderá escrevê-lo, mesmo que o ouse: portanto, o problema não está na postura do escritor. Existe um impedimento que está fora de sua alçada e que é da ordem da pena e do papel, ou seja, da execução material da escrita. Resumindo, a impossibilidade da execução desse projeto aparentemente simples reside em dois elementos: o título e o contato entre pena e papel (este se contorceria e queimaria ao contato daquela, consumindo os sinais da escrita). É justificado ver no texto de Edgar Allan Poe uma tal atenção à materialidade do ato criativo? Uma breve releitura de seu ensaio “A filosofia da composição” nos autoriza a isso. Mesmo se se contesta que a feitura do Corvo se deu da forma descrita por Poe, ainda que todo o arcabouço revelado por ele possa ter sido montado a posteriori, o ensaio comprova sua atenção ao aspecto material da composição literária. Considere-se também que o romantismo como atitude estética tem no distanciamento irônico sua proposta mais duradoura. A filiação de Poe a essa proposta é reconhecida por críticos como G.R. Thompson, que a vê como uma postura que acentua o caráter de máscara e representação da imagem do escritor em sua produção literária. A ironia permite ao autor do Corvo problematizar a imediatidade da experiência na escrita, enquanto apenas uma compreensão ingênua dessa imediatidade faria crer na possibilidade de um coração ser desnudado no papel. Pois, se tomarmos a perspectiva menos literal na leitura do artigo de Poe, teremos de concluir que a escrita é justamente a capa que de todo modo envolveria o coração na tentativa mesma de expô-lo através dela. Ampliando o argumento, podemos propor que – dessa perspectiva – toda narrativa é mentirosa, por exigir uma organização do vivido ou do real em uma ordem de outra natureza: a verbal, controlada por uma sintaxe e viciada em artifícios representativos de toda ordem, a começar pela retórica. Lembremos que Poe só apresenta a proposta de um My heart laid bare como impossibilidade cabal. Baudelaire compreende a natureza auto-impeditiva da tarefa assim que inicia seu livro, com a frase: “(Poderei começar Meu coração desnudado em qualquer lugar Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 156‐166, jul./dez. 2010. 164 e não importa como, continuando-o dia a dia, segundo a inspiração e as circunstâncias – desde que a inspiração se mantenha viva).” A partir daí, em nenhum momento resvala na tentação de pintar a realidade ou a experiência por meio da escrita, não obstante as intenções declaradas na correspondência com sua mãe. Como, porém, ver a negação da narratividade em Baudelaire como tributária de Poe, cujo investimento narrativo é evidente em seus habilíssimos contos? Baudelaire criticou o estilo fluente de Georges Sand, que lhe era repulsivo. Para ele, a inconsciência demonstrada por aquela escritora dos impedimentos gravosos à escrita fluente que a modernidade acarreta fariam de Sand um erro a ser apagado na literatura francesa. O fato de que o próprio Poe organiza seus textos em formações hipotáticas, com toda a aparência de fluência, não torna o seu caso análogo ao de Georges Sand. A francesa seria cúmplice da indolência mental burguesa ao tentar dar um aspecto natural á narrativa, de modo que seu leitor se sentisse confortavelmente assistindo às cenas de uma vida se desenrolarem diante de si. Poe, por outro lado, afasta-se da escrita como simulacro do natural, dando à retórica ares de artificialidade teatral para que o leitor não perdesse, com a espetacularidade do narrado, a espetacularidade da narração. Edgar Allan Poe estava heroicamente fechando uma era em face da emergência da modernidade. Tendo explorado as últimas fronteiras do romantismo, sua obra tem o poder de tornar inócua qualquer tentativa posterior naquela direção, pois, a partir dela, toda produção romântica terá um inevitável caráter de pastiche ou paródia. Se concordarmos que a empresa de Poe tinha como um pressuposto necessário a colocação em primeiro plano da escrita como aquilo com que o escritor tem de lutar para alcançar sua expressão (“lutar com palavras é a luta mais vã/ entanto lutamos mal rompe a manhã”) , poderemos ver a pena flamejante que queimaria o papel se alguém tentasse compor My heart laid bare como a exata metáfora da operação da escrita que está sempre em vias de, consumindo-se no próprio ato de sua realização. A ironia romântica traz consigo a visão metalinguistica do empreendimento literário que se tornará o próprio núcleo da literatura de vanguarda do século XX. Nesse sentido, seu projeto traz consigo desde o início a impossibilidade da execução tanto devido à natureza sempre espectral do “eu” como à natureza espectral do “eu” em face da modernidade. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 156‐166, jul./dez. 2010. 165 Assim, o Meu coração desnudado de Baudelaire é uma invectiva contra aqueles que acreditam poder ver um coração se desnudar na escrita. Ao presumir que Baudelaire não usou o título de Poe como mera rubrica para suas notas esparsas, reconhecemos que o poeta francês buscou expor-se por inteiro nas poucas páginas que, no entanto, não conseguem abalar o leitor do século XXI. Onde estará a falha? Na nudez insuficiente de Baudelaire? Na sensibilidade amortecida do leitor atual? Não seria a injunção de Poe menos ousada do que ele quis fazer parecer? Proponho que se entenda o título de Poe e Baudelaire não como implicando uma revelação da interioridade de um indivíduo, mas como uma afirmação da disposição de encarar o mundo – e a papel em branco – da forma mais desguardada possível, deixando de lado os filtros com os quais manipulamos as condições externas da emergência do eu. Expondo-se ao vendaval da modernidade, aquele mesmo que na imagem de Walter Benjamin está o tempo todo empurrando o Angelus novus de Paul Klee em direção ao futuro – Baudelaire mostrou-se à altura do legado de Poe – nunca acomodatício, nunca autoindulgente – nunca um eu senão um que estivesse em permanente processo de lapidação pelas mãos do tempo. Poe levou o romantismo a seu acabamento, Baudelaire deu o passo decisivo em direção da modernidade. Para prestar contas de seu coração ele tinha de admitir tê-lo perdido para o instante. Para dar sentido a seu empreendimento teve de abandonar a narratividade e render-se ao assemblage incerto do diário. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 156‐166, jul./dez. 2010. 166 GRAFIAS NA PEDRA: traços de João Cabral Roniere Menezes1 João Cabral de Melo Neto nasce em 9 de janeiro de 1920, em Recife. No poema “Autobiografia de um só dia”,2 do livro A escola das facas, de 1979, o poeta expõe-se, como poucas vezes ocorre em sua obra. Relata o próprio nascimento e revela o comportamento aristocrático e religioso da família diante do evento: os filhos deveriam nascer sempre na casa do avô materno. A família desloca-se do interior, do Engenho Poço, para a cidade. Como a mãe dorme, após a chegada, no “quarto-dos-santos/ misto de santuário e capela”, antes de se dirigir ao quarto tradicional dos partos, o menino nasce, de madrugada, ali mesmo: “nascemos eu e minha morte,/ contra o ritual daquela Corte/ (...) / Parido no quarto-dos-santos,/ sem querer, nasci blasfemando”. O novo poeta gauche nasce com “sangue e grito”, já questionando a “freirice dos lírios”. Primo por parte de pai de Manuel Bandeira e por parte de mãe de Gilberto Freyre, Cabral vive até os dez anos nos engenhos de cana-de-açúcar da família, em Pernambuco. O poema “Descoberta da literatura”,3 de A escola das facas, apresenta uma crítica do poeta ao “lugar comum” do cordel, forma narrativa que, no entanto, serve-lhe de iniciação à arte literária. O assunto do texto é a leitura de romances populares que o poeta, ainda criança, fazia para os cassacos do eito da fazenda, no engenho. A “audição” senta-se numa roda de carro de boi como se essa, retirada de sua função diária, conduzisse-a a viagens de espanto e de imaginação. Ao empreender o discurso, “como puro alto-falante”, o menino 1 Roniere Menezes é professor do CEFET-MG. 2 MELO NETO. Obra completa, p. 439-440. 3 MELO NETO. Obra completa, p. 447. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 167‐184, jul./dez. 2010. prendia a atenção de todos com a tensão da história, mesmo quando essa variava pouco em relação às anteriores. A voz criava um mundo mágico, entretanto o poeta receava que confundissem o que lia com a coisa lida, “o de perto com o distante”, tomando-o como o próprio autor das façanhas ou imaginando-o a enfrentar “as brabezas do brigante”. Descobre o poder da ficção, o seu tênue limite com a realidade. Desconfia, porém, do efeito. O menino poeta marca a diferença em relação aos trabalhadores por impor uma fronteira invisível para os outros, entre a voz e a autoria, entre a platéia imantada pela fantasia e a leitura distanciada, de “alto-falante”. Essa fronteira esgarça-se, no entanto, mais tarde, no momento de escrever o poema, quando o espaço mágico confunde-se um pouco mais com a realidade. Em 1930, a família retorna ao Recife e o menino João é matriculado no Colégio de Ponte d’Uchoa, dos Irmãos Maristas. Ficará na escola até a conclusão do secundário, aos 15 anos. Em 1935, torna-se campeão juvenil de futebol pelo Santa Cruz Futebol Clube e em 1938 passa a frequentar o Café Lafayete, lugar onde se encontravam os intelectuais recifenses. Em “Porto dos cavalos”,4 poema do livro A escola das facas, o poeta retoma imagens do rio pernambucano presentes na memória infantil. Como um íntimo cão, o rio Capibaribe segue os passos do poeta. No lugar chamado Porto dos cavalos, existe um recanto onde o rio “se remansa” e conversa, em sesta, com seu amigo. Para o poeta, o rio pressentiu naquele menino um “amigo-inimigo”, imagem criada para explicar a questão da diferença e da repetição na representação poética. O artista, desde muito jovem, entende o que o outro diz, mas repete “noutro ritmo”. O rio, como objeto da escrita, não diz tudo, revela-se de forma incidental, e o poeta não imita o que apreende. Por esse motivo, a tradução, em forma de criação literária, detém uma potência criativa ímpar. No poema “The return of the native”, do livro Agrestes, de 1985, Cabral desconstrói os fulgores da lembrança almejados em “Porto de cavalos”. No novo poema, o pernambucano declara ser impossível reencontrar o espaço ligado à experiência da infância e da juventude. Em quase tudo o que escreve há um Pernambuco, mas “nenhum pernambucano reconhece”. As dissonâncias da “língua” cabralina não atingem os conterrâneos, mesmo que o poema discorra 4 MELO NETO. Obra completa, p. 460-461. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 167‐184, jul./dez. 2010. 168 sobre esse território. Há um estranhamento das próprias paisagens por parte dos moradores. O poeta menciona que “o Pernambuco de seu bolso”, articulado à sua “ ideia de céu”, distingue-se daquele que ele pode rever. E alinhava o poema: “Assim é impossível dar-se/ a volta a casa do nativo./ Não acha a casa nem a rua, e quem não morreu dos amigos,// amadureceu noutros sóis:/ não fala na mesma linguagem/ e estranha que ele estranhe a esquina/ em que construíram tal desastre.”5 Em 1940, Cabral viaja ao Rio de Janeiro com a família e conhece Murilo Mendes. O poeta mineiro apresenta-o a Drummond e ao grupo de intelectuais que se encontrava no consultório de Jorge de Lima. Muda-se para o Rio de Janeiro em 1942, ano em que lança seu primeiro livro, Pedra do sono. Na viagem, atravessa vários territórios e depara com a realidade de homens, mulheres e crianças vivendo à míngua, sob o forte sol sertanejo. Sai de Pernambuco e passa pelos estados de Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, levando 13 dias para completar a jornada. O percurso foi feito de trem, de barca e de ônibus. Devido aos bombardeios de submarinos alemães, o transporte marítimo entre o Nordeste e o Sudeste brasileiros estava impedido. Durante a viagem, conhece o lugarejo chamado Brejo das Almas, no norte de Minas, de onde envia telegrama a Drummond, que havia intitulado com esse nome o seu segundo livro: “De passagem Brejo das Almas. Abraço caro amigo. João Cabral.”6 Era a trombeta anunciando a chegada de mais um anjo torto à cidade das musas da literatura e dos funcionários de gabinete. Como não havia concurso em andamento para o Itamaraty na época em que chega ao Rio, Cabral presta concurso para o DASP (Departamento Administrativo do Serviço Público). É aprovado e nomeado, em 1943, para trabalhar como Assistente de Seleção do órgão. Ingressa no Itamaraty em 1945, mesmo ano em que publica O engenheiro, seu segundo livro. Em 1947, é transferido para a Espanha. Em Barcelona, publica Psicologia da composição, obra impressa por ele mesmo. Sobre a escolha da diplomacia como trabalho, afirma Cabral: Quando fiz o concurso eu só tinha publicado Pedra do sono. O engenheiro saiu em junho de 1945 e eu fui nomeado em dezembro. Nunca acreditei que pudesse viver de 5 MELO NETO. Obra completa, p. 532-533. 6 SÜSSEKIND (Org.). Correspondência de Cabral com Bandeira e Drummond, p. 183. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 167‐184, jul./dez. 2010. 169 literatura. Eu via o Lêdo Ivo e o Benedito Coutinho se matarem em jornal, e dizia: vou ser funcionário público, procurar uma carreira que me dê um certo bem-estar para que eu possa ler e escrever. Havia duas opções: uma, a carreira diplomática, e a outra, ser fiscal de consumo. Se eu fosse diplomata, o pior lugar a que poderiam me mandar seria Cádiz; se fosse fiscal de consumo, poderiam me mandar para Loeiras, no interior do Piauí.7 Vivendo na cidade de Barcelona e sofrendo de uma angústia que parece ser cada vez mais presente em sua vida, procura um médico. Este, acreditando encontrar uma explicação para os problemas descritos na tensão acumulada, ressalta a necessidade de o diplomata exercitar-se. Em lugar de praticar algum esporte com frequência, o obsessivo Cabral compra uma prensa mecânica para, com ela, realizar exercícios físicos. Monta, assim, uma “academia” insólita. Entre 1947 e 1950, produz 13 livros, com um refinamento ímpar, em um pequeno cômodo ao lado do seu quarto de casal. Na época, vivia com a mulher Stella e com Rodrigo, o primeiro filho. As edições tinham de 100 a 150 exemplares e eram distribuídas entre os pares. Segundo Castello, seu biógrafo, Usa papel de luxo da marca Guarro, que seleciona com pruridos de estilista. Imprime, ao longo de quatro anos, seu novo livro O cão sem plumas, de 1949, textos de amigos brasileiros como o poema Pátria Minha, de Vinicius de Moraes, e poemas de amigos espanhóis como Joan Brossa e Joan Edoardo Cirlot.8 O livro Mafuá do malungo, de Bandeira, é impresso por Cabral em sua pequena tipografia de Barcelona. Em carta a Vinicius, datada de 16 de setembro de 1947 e escrita em Barcelona, Cabral comenta sobre a fundição que havia comprado, uma das melhores que existiam. Objetivava iniciar uma coleção a que daria o nome de “O livro inconsútil”, dedicada a poetas de sua geração, brasileiros e espanhóis. Sua intenção é trazer maior consciência formal ao meio, pois desconfia de que o soneto camoniano brasileiro representa um automatismo com o ritmo decassílabo, e não uma consciência mais clara e “louvável” de produção poética. Torna-se evidente a persistência de Cabral em enxergar a própria arte como potencialidade crítica. O poeta diplomata que desejava ser crítico passa a atuar no campo da editoração. A inquietação com os lugares demarcados e enrigecidos e a 7 MELO NETO apud ATHAYDE. Ideias fixas de João Cabral, p. 27. 8 CASTELLO. João Cabral de Melo Neto: o homem sem alma & diário de tudo, p. 81. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 167‐184, jul./dez. 2010. 170 fuga constante da acomodação e da rotina são dados intrínsecos à personalidade e às obras dos três autores aqui estudados: Minha pergunta (pergunta mais do que convite; porque ninguém está obrigado a acreditar em minhas possibilidades artesanais), assunto desta carta, é a seguinte: gostaria você que eu publicasse “Cordélia e o peregrino” (...) Falo de “Cordélia e o peregrino” porque o sei pronto ou quase. Entretanto, o convite se refere a qualquer outra coisa que v. queira ver publicada antes, fora de comércio e em luxo (a peça “Orfeu”, os poemas para crianças, etc.) que me diz você?9 Em carta a Manuel Bandeira, datada de 11 de janeiro de 1948, Vinicius informa-lhe que enviará o texto de “Cordélia e o peregrino” para Cabral. Vinicius afirma que o manuscrito tem cerca de dez anos, mas apresenta dados interessantes a respeito do Brasil. E diz ainda: “Soube por ele que você também vai fazer uma edição na prensinha manual que ele comprou. Achei ótimo. Ele me mandou uma página de amostra, que é de se lamber os beiços de alinhada.”10 Em sua busca incessante por desvelar o cotidiano, o poeta carioca utiliza-se das tecnologias mais avançadas do momento. Enquanto Vinicius caminha em direção ao cinema e à música popular – mesmo enfatizando a delicadeza artística do cinema mudo e em preto e branco –, Cabral realiza travessia inversa, buscando o “artesanato” tipográfico. Em carta a Clarice Lispector, escrita entre 1947 e 1948, o pernambucano escreve sobre pequenos erros que, inicialmente, aparecem nas impressões que realiza em sua singular editora. Com tal atividade, passa a valorizar ainda mais a superioridade das boas edições: “É, inegavelmente, a mais difícil de todas as tarefas, lograr-se uma boa impressão.”11 A grande questão da “indústria cultural” é a distribuição, mais que a fabricação. Se Cabral pretendia encontrar uma expressão inovadora por meio de sua arte, esta, por outro lado, circularia de modo mais restrito. Perde-se em público, mas ganha-se em qualidade de leitura. A arte moderna torna-se produto de uma oficina operada manualmente por quem possui total domínio da “linha de 9 MELO NETO. Carta a Vinicius. Barcelona, 16 de setembro de 1947. Fundação Casa de Rui Barbosa. VM cp 417. 10 MORAES. Correspondência entre Manuel Bandeira e Vinicius de Moraes. Arquivo Vinicius de Moraes. Fundação Casa de Rui Barbosa. VMcp 063. 11 MELO NETO. Carta a Clarice Lispector, p. 180. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 167‐184, jul./dez. 2010. 171 produção”. Os livros encantam o “editor” como objeto. De acordo com Cabral, o livro que imprime, Psicologia da composição, apresenta uma portada que agrada pelo “ar antigo, de livro do século XVII e XVIII”.12 Cabral relata, na carta a Clarice citada acima, o interesse em publicar uma “revista minoritária, de 200 exemplares, distribuída a pessoas escolhidas pelos diretores.” A revista seria impressa por ele e configurar-se-ia “fora do tempo e do espaço – um pouco como nós vivemos.”13 O poeta assinala que deseja contar com a colaboração da escritora, por meio do envio de texto. Declara ter pensado numa revista que circulasse apenas entre escritores brasileiros residentes fora do Brasil; porém, desistiu do empreendimento, devido a comparações que poderiam surgir entre esse projeto e propostas culturais do Itamaraty. O projeto de edição da “revista minoritária” demonstra, mais que um ideal artístico elitista, o interesse por evidenciar um modo particular de tecer artefatos literários formalmente arrojados – “o que presta de todos nós”, como pensa o diplomata. O objeto seria bem cuidado desde a capa e compartilhado entre os pares. A revista funcionaria como espaço de intervenções, diálogos e reflexões voltadas para o experimento estético. A temporada londrina do poeta é interrompida em 1952, quando é obrigado a retornar ao Rio de Janeiro para depor em um inquérito administrativo e criminal em que foi acusado de subversivo. Cabral, como segundo-secretário da embaixada do Brasil em Londres, escrevera carta ao diplomata Paulo Cotrim Rodrigues, seu amigo, funcionário em Hamburgo, Alemanha, encomendando artigo a ser publicado em uma revista que tinha relações com o Partido Trabalhista Inglês. A carta é interceptada por outro colega de profissão, Mário Mussolini Calábria, e enviada, por este, ao estado-maior do Exército. Mussolini – cujo nome curiosamente assemelha-se ao do ditador – anexa à carta um bilhete em que chama a atenção do exército para um movimento de aspirações comunistas que estaria começando a infiltrar-se no Itamaraty. Como os militares não se interessam pelo assunto, o próprio Mussolini envia a carta a Carlos Lacerda, que, em sua oposição a Vargas, publica a notícia no jornal Tribuna da imprensa. Em 1953, Cabral – ao lado de outros quatro diplomatas, entre os quais Antônio Houaiss – é 12 MELO NETO. Carta a Clarice Lispector, p. 180. 13 MELO NETO. Carta a Clarice Lispector, p. 180-181. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 167‐184, jul./dez. 2010. 172 acusado de subversão. O poeta tem de responder a um inquérito administrativo e criminal. O Itamaraty coloca-o em disponibilidade, sem direito a vencimentos. No mesmo ano, entra com um processo no Supremo Tribunal Federal contra a sentença. O Itamaraty o inocenta, mas Getúlio ainda envia o processo para o Conselho de Segurança Nacional.14 Em 1953, vivendo no Rio de Janeiro, Cabral escreve o poema O rio – publicado no ano seguinte – e trabalha nos jornais Vanguarda e Última hora. Com o arquivamento do processo, o poeta retorna a Recife, onde vive às custas do pai, até ser novamente reintegrado à diplomacia, em 1954, quando, de volta ao Rio, inicia trabalho no Departamento Cultural do Itamaraty. Permanece na então capital do país até 1956, quando novamente segue para Barcelona. Nesse ano, publica, no livro Duas águas, os textos inéditos de Morte e vida severina, Paisagens com figuras e Uma faca só lâmina.15 Em Duas águas, o poeta reúne, na primeira água – mais voltada para o projeto de construção estética – , os livros Pedra do sono, O engenheiro, Psicologia da composição, O cão sem plumas, Uma faca só lâmina e Paisagens com figuras; na segunda água – mais preocupada com a tonalidade social –, agrupa os livros Os três mal-amados, O rio e Morte e vida severina. Em carta a Cabral, escrita de Washington, em 07 de maio de 1957, Clarice Lispector relata, ao amigo, as impressões de leitura do livro Duas águas: (...) Recebi, sim, “Duas águas”. Li duas vezes, em ocasiões diferentes. Das duas vezes, com admiração integral, com respeito, com alegria, com esse espanto-surpresa que tenho diante de quem milagrosamente acha a palavra certa. Acha não: de quem inventa a palavra certa, de quem nasceu com a possibilidade de descobrir a única palavra certa. Depois, a limpeza da construção. Não há um fio solto na sua poesia. (...) Saio de sua poesia com um sentimento de aprofundamento de vida, com o espanto de não ter podido 14 MELO NETO apud CASTELLO. João Cabral de Melo Neto: o homem sem alma & diário de tudo, p. 116. 15 Cabral iniciou sua produção poética recebendo influências do discurso surrealista. Em momento posterior, o poeta pernambucano, segundo o crítico Modesto Carone, “passa pelo ardor da construção e da lucidez, discute a pureza e a decantação da poesia antilírica e, descartando a desconfiança (então em moda) quanto à possibilidade de dizer o mundo e os seus conflitos, assume, de Morte e vida severina em diante, o lado sujo da miséria do Nordeste.” CARONE. Severinos e comendadores, p. 166. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 167‐184, jul./dez. 2010. 173 “ver” antes, de ter precisado que você dissesse para que eu pudesse ver. Ao mesmo tempo, “reconheço” o que você diz. (...).16 Clarice assinala que o “reconhecer” é a contribuição dela à poesia cabralina. Esse movimento, no entanto, surge da própria construção textual do autor. A escritora mostra-se grata pelo fato de poder ler “com tanta participação” o que o amigo escreve. A poesia do pernambucano, ao mesmo tempo, seduz, apura o olhar e traz inquietação. Tomada pela obra, Clarice declara: “você não enfeita nenhuma emoção”.17 De 56 a 62, durante o governo JK, Cabral está fora do país. Trabalha como diplomata na Espanha, vive em Barcelona, Madri e Sevilha. A respeito dessa última cidade, em depoimento, assinala: Sevilha foi para mim uma revelação. É a cidade, depois de Recife, em que gostei mais de viver. É uma cidade íntima. Você anda nas ruas de Sevilha como se estivesse andando no corredor de sua casa. Não é uma cidade dinâmica, barulhenta, cheia de automóveis.18 Ao mesmo tempo que a cidade irrompe como revelação exterior, configurase como espaço de intimidade. O poeta passeia por suas ruas com a naturalidade de um nativo. Os detalhes das calçadas, das casas, da vida cultural grudam em sua pele, penetram em seu corpo, a cada nova quadra percorrida. Depois da cidade de Recife, guardada na memória, Sevilha apresenta-lhe novas possibilidades de alumbramento. O prazer surge do alheamento em relação ao dinamismo da vida moderna, possibilitado pela calma da cidade. Esta reveste-se de sinais de sua própria poesia. O silêncio das esquinas convida ao caminhar solitário, forma melhor de o poeta viajante refletir sobre o estar no mundo; nas ruas, nas tabernas, Cabral pode recolher detalhes e matizes a serem trabalhados em sua arte. Quando Cabral vai viver em Marselha, sente-se bastante contrariado. Ao contrário de Sevilha, cidade solar e arejada, Marselha parece-lhe sombria, 16 LISPECTOR, Clarice. Carta a Cabral. Washington, 07 de maio de 1957. Arquivo de João Cabral de Melo Neto. Fundação Casa de Rui Barbosa. JCMNCp. 17 LISPECTOR, Clarice. Carta a Cabral. Washington, 07 de maio de 1957. Arquivo de João Cabral de Melo Neto. Fundação Casa de Rui Barbosa. JCMNCp. 18 SÜSSEKIND (Org.). Correspondência de Cabral com Bandeira e Drummond, p. 245. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 167‐184, jul./dez. 2010. 174 fechada, cheirando a antiquário.19 A solidão sentida pelo poeta em Marselha quebra-se com a visita de Antônio Abujamra. No período, o ator realizava estudos sobre teatro na Espanha e passa uma temporada com o poeta na França. A produção poética do diplomata sofre constantes interferências dos encontros ocorridos em diversas partes do mundo e com representantes de distintas expressões artísticas e intelectuais. A poesia parece construir-se à deriva, em territórios assumidos como instâncias de passagem. Antônio Abujamra comenta, em entrevista à Revista Caros Amigos, a importância do encontro com Cabral, em 1958. Após deixar Madri e viajar pela Espanha, passando por Granada, Sevilha, até Cádiz, percorre, de modo vagabundo, o norte da África: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito. No Cairo consegue dinheiro na embaixada brasileira para seguir de avião até a cidade de Marselha: Chego em Marselha doente, sem dinheiro, mochila rasgada. Procuro o consulado do Brasil, cônsul: João Cabral de Melo Neto. Fui lá, toquei a campainha: “Quero falar com o João Cabral, sou brasileiro”. “Pois não.” Ele vem me atender e eu digo: “Sou um diretor de teatro estudante, não sei o que fazer, estou doente, não sei onde morar, não tenho dinheiro pra nada”. João Cabral, com a generosidade que só os grandes poetas têm, abriu a porta e disse: “Entre, a casa é sua”. Fiquei 28 dias na casa de João Cabral de Melo Neto, aprendi mais poesia do que em cinquenta anos de universidade brasileira. E por João passavam todas as grandes cabeças do mundo, Ezra Pound, por exemplo. (...) E eu lá com João Cabral, aprendendo coisas. E aí minha cabeça começou a dar uma mudada, começou a estudar o concreto. (...) Ele me perguntou: “Você já leu Brecht?” “Já li Mãe Coragem.” “Você precisa conhecer mais o Brecht, precisa saber quem ele é, precisa ir lá, precisa ver como é o Berliner Ensemble.” Aí a minha vida foi melhorando, comi bem, maravilhoso, formidável (...). E aí o João conseguiu uma bolsa pra mim em Paris para estudar teatro.20 O diplomata acolhe o jovem estudante de arte, rebelde, sem dinheiro, sem moradia. Oferece-lhe casa, alimento e amizade. A convivência traz ao dramaturgo conhecimentos ainda não encontrados no Brasil nem no curso em Madri. Cabral 19 MELO NETO. Carta a Murilo Rubião. Marselha, 1.XII.958. Arquivo Murilo Rubião. Acervo de Escritores Mineiros da UFMG. 20 ABUJAMRA. Entrevista à Revista Caros Amigos. Disponível em: <http://carosamigos.terra.com.br/da_revista/ edicoes/ed94/valeapena.asp.>. Acesso em: 20 maio 2008. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 167‐184, jul./dez. 2010. 175 esquece a vida entediante de Marselha, propondo-se renovar a própria produção poética. O livro Dois parlamentos é planejado a partir da convivência com Abujamra. 21 Derrida, em Politiques de l’amitié 22, propõe uma forma de amizade em que um ser possa expressar-se melhor na interação com o outro. Não há eliminação de subjetividades e de posicionamentos, pois a relação pressupõe momentos de diálogo, de abertura para o outro, como também de singularidade, numa perspectiva diferencial. Essa relação discursiva, que aparece no corpo das obras analisadas, relaciona-se também ao conceito deleuziano de “agenciamento coletivo de enunciação”.23 Num agenciamento coletivo de enunciação cruzam-se vários elementos que, após a interação, saem transformados, cada um levando consigo a força positiva do outro. Deleuze demonstra que os agenciamentos funcionam sobre múltiplos fluxos. Por meio deles, busca-se fugir do “livro de ponto” da sociedade de controle, que inscreve o homem de forma objetiva, enquadrada, fixa, pois as sociedades necessitam produzir um rosto. Para deslocar-se desse espaço territorializado seria necessário criar e habitar cartografias desterritorializadas. O escritor-diplomata deixa a voz do desterrado pronunciar-se junto à sua, a partir de seus inventários e de suas invenções. O trabalho diplomático, as relações com o outro, a tentativa de criar acordos – que ao mesmo tempo aproximem os discursos e marquem suas diferentes intenções – refletem-se na criação artístico-intelectual dos escritores em estudo. O diplomata Cabral teve a oportunidade, em suas funções consulares, de oferecer um rosto humano e sensível à instância política. Os projetos governamentais pautam-se sempre mais por critérios burocráticos, sendo constantemente absorvidos por interesses privados. O escritor articula, pelas margens dos mecanismos oficiais de poder, às vezes em países distantes, encontros inusitados entre proposições artísticas e intelectuais. Dessa forma, contribui para a construção de novas modelagens culturais que se firmam no 21 MELO NETO apud ATHAYDE. Ideias fixas de João Cabral de Melo Neto, p. 113. 22 Cf. DERRIDA. Politiques de l’amitié. 23 Cf. DELEUZE; PARNET. Diálogos. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 167‐184, jul./dez. 2010. 176 espaço brasileiro, nos campos do teatro, da música e da literatura. A compreensão político-social do autor não abole a dimensão estética. Em 1961, Cabral é nomeado chefe de gabinete do ministro da Agricultura, Romero Cabral da Costa, seu parente, e volta ao Brasil, passando a residir em Brasília. Com a renúncia de Jânio Quadros, retorna a Madri. Em 1964-1965 atua em Genebra, Suíça, junto à ONU. O poeta diplomata trabalha em Londres (19511952) e Liverpool (1952), na Inglaterra; Berna, na Suíça (1965-1966); Assunção, no Paraguai (1970-1972); Dacar, em Senegal (1972-1979); Quito, no Equador (1979-1982); Tegucigalpa, em Honduras (1982-1983), e em Porto, Portugal (1984-1987). Em entrevista a José Castello, Cabral comenta a influência da diplomacia, dos diversos espaços em que viveu, no ofício poético. O acaso entremeia-se nas linhas do enredo. Para Cabral, se o seu roteiro como diplomata tivesse sido outro, suas influências também poderiam ser diferentes. À pergunta sobre a demarcação da rede de influências que formou sua poesia, responde: – É, posso dizer quais foram as leituras que me marcaram. Meu primeiro posto foi na Espanha. Eu, na Espanha, procurei ler minuciosamente os primeiros autores épicos espanhóis. Essa poesia primitiva espanhola me impressionou muito. Fui marcado por ela. Depois, eu me mudei para Londres. Aí descobri a poesia inglesa. Porque, quando eu estava aqui no Brasil a gente tinha – e tem – a tendência de abordar a poesia inglesa, em geral, pelos românticos. (...). Quando eu fui para Londres, então, eu pude ler a poesia metafísica inglesa que eu não conhecia e isso foi uma coisa que me marcou muito. John Donne, George Herbert, Andrew Marvell, poetas que aqui no Brasil são desconhecidos. (...).24 O pensamento é fruto de acasos, de encontros inesperados. Forças desconhecidas entram em cena, às vezes, demonstrando uma violência pragmática e conceitual que abala nossas certezas e amplia nossas percepções.25 No período em que morou em Barcelona, entre 1947 e 1950, seus primeiros anos na Espanha, Cabral estabeleceu amizade com alguns dos mais importantes nomes da arte e da intelectualidade espanhola, entre eles Joan Miró, Joan Brossa, Jorge Guillén, Carles Ribas e Antoni Tàpies. As relações, os “agenciamentos” estabelecidos com essas pessoas foram fundamentais não apenas para transformar a visão de arte e de 24 CASTELLO. João Cabral de Melo Neto: o homem sem alma & Diário de tudo, p. 259-260. 25 Cf. LEVY. A experiência do fora: Blanchot, Foucault, Deleuze. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 167‐184, jul./dez. 2010. 177 poesia de Cabral, como também para que fosse redimensionada a percepção dos amigos sobre o objeto artístico. Esse fato é demonstrado em cartas e entrevistas de alguns dos interlocutores espanhóis do poeta brasileiro. A ocorrência e a força dos possíveis encontros são fundamentais para o surgimento de um pensamento que se desloca da interioridade para os espaços da superfície, articulados por uma rede de entrelaçamentos não dicotômicos. O espaço de Cabral na poesia brasileira marca-se preponderantemente pela visualidade e pela plasticidade. As artes plásticas e a arquitetura recebem mais destaque em seus poemas do que a música, considerada irmã gêmea da arte poética. No entanto, ao contrário do que afirma, com frequência, parte da crítica, a música não está de todo ausente do texto cabralino. Mesmo com presença menor nas criações do poeta, a música aparece em sua obra por meio da incorporação de ritmos e de melodias populares do Nordeste do Brasil e da Espanha, considerados como propiciadores de estranhamento à audição. É possível também ler a obra cabralina em diálogo com a música dodecafônica. O dodecafonismo de Shoenberg, Webern e Alban Berg elabora uma arte aberta aos ruídos, às dissonâncias, ao jogo com as séries, aos intervalos e aos timbres inusitados. Predominam, nesse tipo de composição, elementos espaciais, em detrimento dos elementos temporais, mais comumente encontrados no ordenamento da música tonal.26 A poesia cabralina recebe influências musicais relacionadas ao frevo, ao flamenco, ao dodecafonismo. Os “acordes” do poeta desviam-se da música tonal europeia – portadora de uma visão linear da história –, sem, porém, renegá-la totalmente. Seus textos buscam abrir-se a múltiplas interações, às vezes, antimelódicas, não antimusicais, com uma rítmica que desperta a atenção, em vez de adormecê-la. Apesar de a poesia cabralina revelar diálogos, por exemplo, com a música dodecafônica, é preciso levar em conta a posição do poeta contra o 26 No Brasil, o maestro Hans-Joachim Koellreutter é nome forte do dodecafonismo. Tendo chegado ao país em 1937, fugindo do nazismo, Koellreutter foi professor de Tom Jobim e influenciou com suas dissonâncias e harmonias diferenciais os caminhos da música brasileira, da bossa nova ao Tropicalismo. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 167‐184, jul./dez. 2010. 178 abstracionismo. Em carta a Manuel Bandeira, datada de 11 de dezembro de 1951, Cabral assinala: Por que v. não toma a frente de um movimento contra essa arte abstrata? (...) você com sua autoridade podia muito bem tomar a frente de um movimento de denúncia do abstracionismo em pintura, de seu equivalente atonalismo na música e do neoparnasianismo-esteticismo da Geração de 45.27 O poeta assegura ter se interessado por esse tipo de manifestação artística, enquanto morava no Brasil, mas na Europa descobriu ser algo “trágico” e “ridículo” para os brasileiros entregarem-se a tal requinte: Porque da Europa é que pude descobrir como o Brasil é pobre e miserável. Isto é: depois de ver o que é a miséria europeia – enorme da Espanha, Portugal, dura na França, na Inglaterra – acho que é preciso inventar outra palavra para a nossa, cem vezes mais forte.28 Para Cabral, o fato de um artista brasileiro tentar ser “universal” ou “cosmopolita” significa, antes de tudo, empobrecimento. Inclusive porque os europeus valorizam bem mais os músicos, pintores e escritores que, sem ser exóticos, revelem, na produção, peculiaridades de modelagem estética distantes do padrão artístico da Europa. O poeta elabora sua arquitetura literária buscando o constante equilíbrio entre as expressões artísticas de vanguarda, as questões sociais e as boas soluções artísticas de tonalidade brasileira encontradas em obras como as de Villa Lobos, Portinari e José Lins do Rego, conforme endossa na carta a Bandeira. Por mais que Cabral trace, com competência, seu caminho estético particular, continua estabelecendo, por toda a vida, um diálogo subjacente com a poética do antigo mestre Carlos Drummond de Andrade. A crítica considera Cabral, prioritariamente, como um poeta afeito à racionalidade, ao pensamento lógico, à certeza matemática. Embora não discordemos dessa visão crítica, que parece realmente corresponder a um aspecto importante da poética cabralina, acreditamos que é possível abrir a perspectiva analítica a partir de alguns questionamentos. Não seria a busca da exatidão na poesia de Cabral a demonstração, pelo avesso, da dificuldade de viver o imponderável da existência e de lidar com as incertezas da realidade? A 27 SÜSSEKIND (Org.). Correspondência de Cabral com Bandeira e Drummond, p. 145. 28 SÜSSEKIND (Org.). Correspondência de Cabral com Bandeira e Drummond, p. 146. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 167‐184, jul./dez. 2010. 179 consideração exclusiva do aspecto “racionalizante” da estética cabralina não seria uma forma de tentar escamotear a dicção popular, o humor, aspectos da vida cotidiana com os quais, na verdade, Cabral dialoga em diversos momentos de sua criação?29 Cabral elimina qualquer ideia de “inspiração”, de “iluminação” ou de “êxtase” vinculada ao momento criativo. Destitui a emoção do fazer estético, erigindo, junto com o poema, a própria consciência ascética e severa. Enfatiza, na construção poética, a precisão metódica do cientista. No entanto, esse trabalho não existiria, não produziria força e beleza estéticas, se não tivesse sido moldado pelo enredamento entre as forças da sensibilidade e as da precisão. Revela-se, assim, uma outra forma de sensibilidade, pouco afeita à languidez amorosa e ao narcisismo romântico. Por meio do relacionamento objetivo com o mundo exterior, o poeta demonstra extrema sensibilidade, retirando beleza dos minúsculos e secos minerais ou da ressequida vida sertaneja. O recorte efetivado no plano real revela-o de modo particular na configuração estética. O empreendimento temático, visando a afastar a subjetividade lírica, conduz-se pela imaginação criadora. Esta não se manifesta sem a diluição das fronteiras fixas da realidade, até mesmo para torná-las mais visíveis. Como todo grande poeta, Cabral é um fingidor; a imagem que ele constrói de si é a de um “homem sem alma”, cuja razão é apenas a do frio matemático. A firmeza, a constância, a precisão e a frieza demonstram, no conjunto da produção cabralina, uma postura distante do sentimentalismo, da verborragia, da languidez. A partir de uma escritura cristalina, áspera e afiada, por meio da concretude de seu objeto, Cabral enfrenta os elementos vagos e incertos que habitam o mundo.30 O seu raciocínio agudo revela, ao mesmo tempo, a mente atenta à composição dos versos e ao caminho dos párias pelo território sertanejo. 29 No poema dedicado ao poeta pernambucano, “Retrato à sua maneira”, publicado em Antologia poética, em 1954, Vinicius realiza um questionamento amigável da dureza fria de Cabral. Vinicius considera-a uma dureza valiosa, como a do diamante. Cf. MORAES. Poesia completa e prosa, p. 421. Em “Resposta a Vinicius de Moraes”, do livro Museu de tudo, de 1988, Cabral dá seu retorno ao poeta carioca, revelando seu lado fluido, ilógico e imaterial. Seria justamente pelo fato de não conseguir viver e criar na presença do vago e do indefinido que “quer de toda forma evitá-lo”. Cf. MELO NETO. Obra completa, p. 390. 30 CASTELLO. João Cabral de Melo Neto: o homem sem alma & diário de tudo, p. 25. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 167‐184, jul./dez. 2010. 180 Como sabemos, a poética cabralina coloca-se de modo contrário à transmissão de sentimento do poeta ao leitor, por intermédio do poema. No entanto, o poeta não pretende controlar a emoção desenvolvida pelo leitor no instante em que este entra em contato com o objeto artístico. A experiência estética, o sentimento do belo devem surgir da materialidade, da disposição das palavras e dos versos no texto, elidindo a perspectiva segundo a qual o artefato poético constitui-se em instância de mediação lírica. Cabral declara ser o arquiteto e pintor cubista Lincoln Pizzie a sua grande influência. As leituras dos livros de Pizzie foram fundamentais para sua formação intelectual. O trânsito entre as artes encontra no diplomata um incansável articulador de discursos: “o livro decisivo para minha carreira de escritor foi escrito por um arquiteto”.31 Em Cabral, a poesia desliza de seu terreno habitual, delimitado pela linha melódico-temporal, e envereda-se por outras paragens, pouco convencionais em relação ao intertexto com as formas artísticas. O poeta caminha com um esteta matemático, deslumbra-se com o cálculo preciso e com o equilíbrio da arquitetura moderna, encanta-se com a pintura cubista. A musicalidade convencional, provocadora de sentimentos fortuitos e evanescentes, possui pouco espaço em seus textos, conforme comentamos. A sonoridade de sua poesia não é aquela a que nossos ouvidos estão acostumados, esperando o próximo acorde acontecer. A poética cabralina, marcada pela quebra do ordenamento rítmico-melódico e pela desconstrução dos lugares habituais da arte e do pensamento, revela-se uma poética da ruptura, contra o sono, contra o acomodamento. Já ao final da vida, Cabral fica cego devido a um erro médico durante uma cirurgia na qual recebe luz em excesso nos olhos. O fato de não poder mais ler, ver pinturas e imagens arquitetônicas de traços estranhos, construídas com rigor e com invenção, foi certamente a causa da angústia maior de seus últimos dias. O poeta morre em 12 de outubro de 1999, no Rio de Janeiro. O excesso de luz produz a cegueira. Durante a vida, as luzes vinham pouco a pouco, medidas, controladas. Surgiam das lâminas das facas, das manhãs de praia, dos vidros de Brasília. O brilho do sol brotava na cruz do cemitério, na 31 MELO NETO. Entrevista: considerações do poeta em vigília, p. 28. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 167‐184, jul./dez. 2010. 181 ossada do agreste, na espada do toureiro, da pele suada do griot32 africano – imagens que atiçavam o pensamento e a criação e abriam margens para outras visões, reais e imaginárias. A luz do equipamento cirúrgico, entretanto, parece trazer todas as cores do mundo de uma só vez, no peso imponderável da escuridão. Destrói a possibilidade de leitura combinada das paisagens que o poeta habitou ou que sonhou existir. Cabral buscou, a vida inteira, a clareza, a técnica apurada, escondendo continuamente o mundo nublado, indeciso, irrefletido, mas perdeu o controle do mundo exterior pelo excesso de luz ácida. Na mesa de trabalho demonstrava saúde – mesmo com as dores de cabeça – para enfrentar as luzes dos ambientes com os quais trabalhava, transformando-os em arte. Na mesa de cirurgia estava impossibilitado, fraco para domesticar o brilho forte construído pela ciência e que lhe roubou as formas da vida. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ABUJAMRA, Antônio. Carta a Cabral. Madrid, 29 de maio de 1959. Arquivo João Cabral de Melo Neto. Fundação Casa de Rui Barbosa. Rio de Janeiro. ABUJAMRA, Antônio. Entrevista à Revista Caros Amigos. Disponível em: <http://carosamigos.terra.com.br/da_revista/edicoes/ed94/valeapena.asp>. Acesso em: 20 maio 2008. ATHAYDE, Félix de. Ideias fixas de João Cabral. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; FBN; Mogi das Cruzes, SP: Universidade de Mogi das Cruzes, 1998. CARONE, Modesto. Severinos e comendadores. In: SCHWARZ, Roberto (Org.). Os pobres da literatura brasileira. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1983. CASTELLO, José. João Cabral de Melo Neto: o homem sem alma & diário de tudo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. DELEUZE, Gilles; PARNET, Claire. Diálogos. São Paulo: Ed. Escuta, 1998. DERRIDA, Jacques. Politiques de l’amitié. Paris: E. Galilée, 1994. 32 Na tradição oral de vários povos africanos, os griots são um misto de poeta, contador de história e criado. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 167‐184, jul./dez. 2010. 182 LEVY, Tatiana Salem. A experiência do fora: Blanchot, Foucault, Deleuze. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003. LISPECTOR, Clarice. Carta a Cabral. Washington, 7 de maio de 1957. Arquivo de João Cabral de Melo Neto. Fundação Casa de Rui Barbosa. JCMNCp. MELO NETO, João Cabral de. Carta a Clarice Lispector. In: LISPECTOR, Clarice. Correspondências. MONTEIRO, Tereza (Org.). Rio de Janeiro: Rocco, 2002. MELO NETO, João Cabral de. Carta a Murilo Rubião. Marselha, 1. XII.958. Arquivo Murilo Rubião. Acervo de escritores mineiros da UFMG. MELO NETO, João Cabral de. Carta a Murilo Rubião. Marselha, 6. XII.958. Arquivo Murilo Rubião. Acervo de escritores mineiros da UFMG. MELO NETO, João Cabral de. Carta a Vinicius. Barcelona, 16 de setembro de 1947. Arquivo Vinicius de Moraes. Fundação Casa de Rui Barbosa. VM cp 417. MELO NETO, João Cabral de. Entrevista: considerações do poeta em vigília. In: INSTITUTO MOREIRA SALLES. Cadernos de Literatura Brasileira: João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: Instituto Moreira Salles, n° 1, p. 62-105, mar. 1997. MELO NETO, João Cabral de. Obra completa. Rio de Janeiro: Ed. Nova Aguilar, 1999. MORAES, Vinicius de. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Ed. Nova Aguilar, 2004. MORAES, Vinicius de. Correspondência entre Manuel Bandeira e Vinicius de Moraes. Arquivo Vinicius de Moraes. Fundação Casa de Rui Barbosa. Rio de Janeiro, VMcp 063. SÜSSEKIND, Flora (Org.). Correspondência de Cabral com Bandeira e Drummond. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; Fundação Casa de Rui Barbosa, 2001. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 167‐184, jul./dez. 2010. 183 184 Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 167‐184, jul./dez. 2010. RETRATOS EM MOVIMENTO NA OBRA contínua de Herberto Helder Sabrina Sedlmayer1 “A biografia é uma hipótese cuja contradição não esgoto.” Herberto Helder Gallimard, editor da obra de Proust, relatou um dia que os hábitos de revisão do memorialista francês perante os originais levavam os tipógrafos à loucura. As margens das folhas eram sempre devolvidas preenchidas por um novo material, e os erros e lapsos gráficos passavam despercebidos uma vez que o que era imperativo para o autor eram as lembranças, e estas, como agudamente demonstrou Walter Benjamin num ensaio seminal, de 1929, eram regidas pela lei do esquecimento. Idealizava a sua obra em um único volume, sem parágrafos, com colunas duplas, posto que “a unidade do texto está apenas no actus purus da própria recordação, e não na pessoa do autor, e muito menos na ação” (Benjamin, 1994, p. 37). O que Proust escrevia no momento da revisão não estava, assim, vinculado ao que criara anteriormente quando enviara os manuscritos, nem muito menos à esfera do vivido e do biografável. Tratava-se de construir um tecido movido por um método rigoroso em que não se buscava reencontrar o passado, mas, sim, abrir a experiência da escrita às lembranças involuntárias. No que tange às experiências sempre moventes de escrita, Proust e o escritor português Herberto Helder se encontram em preciosos pontos: no desvio da linearidade narrativa ou cronológica; nos gestos de deambulação e deriva nos textos já escritos; nos acréscimos, sejam através de correções, emendas, 1 Sabrina Sedlmayer é professora da UFMG. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 185‐192, jul./dez. 2010. supressões ou rasuras; na severa exigência de solidão e, particularmente, na fidelidade à noção do texto como algo vivo e mutável. Mas, se ambos os autores trabalham a memória como se fossem colmeias articuladas, Helder leva ao extremo a noção de continuidade e circularidade da escrita biográfica e talvez seja um dos casos mais exemplares na literatura de língua portuguesa de recusa diante da noção moderna de autoria como instância individual e da obra como extensão da figura tutelar do autor. Proponho, assim, neste texto, uma reflexão sobre a relação vigilante entre vida e obra empreendida por esse poeta português que trabalha com gestos reiterados de alteração da memória editorial e de suas leis de comércio e consumo, e coloca, de forma oblíqua, pertinentes e incômodas questões para a crítica biográfica. Lido por muitos críticos como autor de uma poesia “obscura”, “incompreensível”, “indecifrável”, tomamos aqui, como espécie de uma ética de leitura, a lúcida advertência dada pela ensaísta Silvina Rodrigues Lopes (2009, p. 171): Sendo a poesia incompreensível, as duas piores coisas que se podem fazer com ela são: lamentar a sua incompreensibilidade ou enaltecê-la como valor em si. No primeiro caso, pretende-se reduzir a poesia à lógica gramatical, no segundo, sacralizá-la em função de uma verdade reservadas aos iniciados. Isto não vale apenas para a poesia de Herberto Helder, que não se pode caracterizar por ser mais ou menos compreensível, por trazer mais ou menos problemas à leitura. A compreensibilidade, legibilidade ou ilegibilidade são construções da leitura, como construções dela são os problemas que apresenta, cuja apresentação é da responsabilidade dela, que não pode ser iludida pela sua pretensão a ser comentário. No artigo intitulado “Investigações poéticas sobre o terror”, Lopes insiste em como a noção de experimentação encontra-se atrelada à poesia de Helder e como o imperativo de se tornar poeta, “tornar-se desconhecido, de si-mesmo e dos outros”, “perturbar a estabilidade dos nomes”, tornar-se resistente ao “ser isto” são linhas de fuga que levam à criação de um estilo em que não existe poeta fora do poema, não há voz que se deseja pessoalizar-se. Há uma insistência, poderíamos acrescentar ao pensamento de Lopes, em não se estancar nem cristalizar uma identidade biográfica una. Exemplo contundente é a imensa quantidade de súmulas que esse autor opera em sua produção bibliográfica como forma de interferência no que possa ser considerado como dado e acabado. Cria limiares tênues marcados pelo uso reiterado da ironia. A esse propósito, em Photomaton & vox, há um fragmento em que o poeta responde ao epíteto de “difícil” que esclarece alguns dos pontos aqui abordados: Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 185‐192, jul./dez. 2010. 186 Desejei então ser eu mesmo o mais obscuro dos enigmas vivos, e aplicar as mãos na matéria primária da terra. Gostaria de ser um entrelaçador de tabaco. Não sou vítima de nada; não sou vítima da ilusão do conhecimento. Escrever é literalmente um jogo de espelhos, e no meio desse jogo representa-se a cena multiplicada de uma carnificina metafisicamente irrisória. (Helder, 1995, p. 12) O jogo de espelhos relacionado ao ato de escrita é amplificado por inúmeros gestos de intervenção. Para melhor situar a abrangência dos gestos que efetivamente demonstram a “dissipação da vida e afirmação da experiência poética”, segundo feliz expressão de António Guerreiro (1994), vale recuperar, mesmo que de forma exaustiva (e repetitiva para alguns leitores), certos movimentos desse processo que mescla crítica, antologização e criação. As inumeráveis súmulas talvez representem mais fortemente a perturbação e instabilidade referidas anteriormente. Poesia toda (1973), volume que oferece a maior amostra de sua produção, vem recebendo cortes, e poemas inteiros não são reeditados ou simplesmente amputados das edições subsequentes. Após 14 anos sem lançar nenhum inédito, Helder publicou, em 2008, A faca não corta o fogo, súmula & inédita, numa reduzida tiragem de três mil exemplares, que se esgotaram do mercado em menos de uma semana. No livro Cobra, de 1977, cada exemplar possui correções únicas, manuscritas, que fazem com que todas as versões sejam diferentes entre si e cada livro seja um único livro. Entre a segunda e terceira edição dos contos (ou poemas em prosa, como preferem outros ensaístas) intitulados Os passos em volta, Helder lança Retratos em movimento (1967) e Apresentação do rosto (1968), que são lidos, na altura, como “autobiografia” e “autobiografia romanceada”. Posteriormente, no entanto, o autor retira ambos os livros de circulação, não os reedita, e mescla trechos de um no outro, descarta dezenas de fragmentos, agrega prefácios de livros anteriores e intitula essa nova obra de Photomaton & vox (1979), que se encontra até a data presente à venda. Em Do mundo (1994) também há trechos inteiros dessas duas obras “autobiográficas” que há anos deixaram de existir. Contrário à noção de tradução como transposição de sentido e som de um idioma para outro, Helder afirma desconhecer línguas estrangeiras e muda poemas para o português das línguas asteca, quíchua, francesa, inglesa, egípcia, árabe, hebraica e outras, como se pode observar nas edições Doze nós na corda (1997) ou em Poemas ameríndios (1997). A propósito desse seu singular método, esclarece: Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 185‐192, jul./dez. 2010. 187 Quanto a mim, não sei línguas. Trata-se da minha vantagem. Permite-me verter poesia do Antigo Egipto desconhecendo o idioma, para o português. Pego no Cântico dos cânticos, em inglês e francês, e, ousando, ouso não só um poema português como também, e sobretudo, um poema meu. Versão indirecta, diz alguém. Diletantismo ocioso, diz alguém. Não digo nada, eu. Se dissesse, diria: prazer. O meu prazer é assim: deambulatório, ao acaso, por súbito amor, projectivo. Não tenho o direito de garantir que esses textos são traduções. Diria: são explosões velozmente laboriosas. O meu labor consiste em fazer com que eu próprio ajuste cada vez mais ao meu gosto pessoal o clima geral do poema já português: a temperatura da imagem, a velocidade do ritmo, a saturação atmosférica do vocábulo, a pressão do adjectivo sobre o substantivo. (Helder, 1995, p. 72) Se a regra de ouro para Helder é a liberdade, em 1985, lançou uma singular antologia, Edoi Lelia Doura: antologia das vozes comunicantes da poesia moderna portuguesa, em que ressalta a ausência de critérios críticos como seleção e parcialidade: “Fica indiscutível que é uma antologia de teor e amor, unívoca na multiplicidade vocal e ferozmente parcialíssima” (Helder, 1985, p. 8). Sem conceder entrevista desde 1968, ele também não aceitou, em 1984, o Prêmio Pessoa, o que demonstra a severa vigilância diante da exposição pessoal e o cuidado rigoroso em relação à solidão. Segundo o autor, foi 1968 o ano da descoberta do silêncio “e também um ano que me custou quase a respiração” (Helder, 1995, p. 43). Isolamento, sigilo e solidão, características do laboratório do escritor que seguem a tradição shakespeariana, conforme Ricardo Piglia, são somados à recusa diante da fala em espaços canonizados como celebração da cultura livresca – lançamentos, feiras, premiações, entrevistas, palestras, aulas magnas. Sem apresentação do rosto, Helder reenvia o leitor à face poética. Desloca-o das conhecidas e seguras estratégias de leitura ao demonstrar de que modo a experiência é um tipo de invenção. E questiona os limites do gênero autobiográfico, como veremos a seguir. E alerta: “O autobiógrafo é a vítima do seu crime. Mas a única graça concedida ao criminoso é o seu próprio crime” (Helder, 1995, p. 33). ANTIautobiografias Na literatura contemporânea encontramos uma imensa quantidade de textos que se assumem como autobiografias ficcionais e antiautobiografias, como também metaficções e outras modalidades híbridas que se posicionam contra o tradicional gênero autobiográfico. O conhecido pacto de Philippe Lejeune – Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 185‐192, jul./dez. 2010. 188 narração em prosa, vida individual, semelhança entre identidade do autor e do narrador e visão retrospectiva –, os requisitos que supostamente asseguravam a definição do gênero e de um “contrato de leitura” foram e estão sendo explorados por autores que criam novas tipologias de escrita justamente como formas fronteiriças com a da autobiografia moderna. São autores que trabalham com os paradoxos que a visão pragmática evita, muitas vezes, abordar, tais como: o que é identidade? O que é contrato de leitura? O que é verdade? O que é ficção? O que é referencialidade? O que é subjetividade? Como é impossível delinear, neste momento, a abrangência de questões que esse tema suscita, circunscrevemo-nos no caso específico de Photomaton & vox, de Helder. Antes, porém, deve-se salientar que a vitalidade da prosa literária portuguesa, evidenciada na obstinada produção de autores como Irene Lisboa, Ruben A., Agustina Bessa-Luís, Maria Gabriela Llansol e António Lobo Antunes, entre outros, não parece ter sido enredada pelo convite da vanguarda no que se refere ao fenômeno heteronímico, nem contaminado pela recepção de inúmeras leituras essencialistas e substancialistas que dominaram parcela considerável dos estudos pessoanos no século XX. Percebe-se, na escrita dos autores mencionados, um vínculo estreito, um diálogo fecundo com a obra pessoana e com o gênero memorialístico no que tange à noção de fragmento, de insignificância e interrogação à Modernidade. Constata-se, ao examinar essas vozes autorais, uma heterogeneidade de formas e de modelos narrativos, além de uma pluralidade estilística que merece ser estudada, problematizada e analisada. De Bailado, de Teixeira de Pascoaes, autor contemporâneo de Fernando Pessoa, que não só escreveu um livro de memórias como também fragmentos em que o reflexivo se conjuga com a memória, até a “falsa autobiografia” de Al Berto – projeto inacabado que será publicado proximamente –, uma série de questões que envolvem a primeira pessoa, o corpo e a voz de quem enuncia deve ser investigada. Não basta vincular os autores a concepções teóricas, grupos e correntes ou afirmar genericamente que a geração de 90 no romance português do século XX é antissubjetivista, realista e descritivista.2 Gesto desnecessário opor desconstrutivismo de linguagem, experimentalismo de novos processos narrativos passados com recusa de 2 Ver a propósito o livro de Miguel Real Geração de 90: romance e sociedade no Portugal contemporâneo, como também o ensaio de João Barrento em Umbrais. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 185‐192, jul./dez. 2010. 189 investimento estético no presente. Ou, em outra direção, tomar o hedonismo, o consumo e a eudemonia como os principais elementos constitutivos dos enredos contemporâneos. Diferentemente das posições mencionadas, seria interessante realizar uma cartografia de obras em que se perceba a configuração de certo atrito na prosa portuguesa pós-Pessoa – como bem define a ensaísta Silvina Rodrigues Lopes,3 escritos em que se demonstre certa resistência à categorização do sujeito como sinônimo de individualidade, perspectivas artísticas que apontem para a configuração de uma subjetividade não mais totalizadora, mas ainda aliada à possibilidade de se criar um relato de uma experiência pessoal calcado na interrogação da fidedignidade da memória, da restituição do passado e na desconfiança da autoridade de quem narra. A importância da subjetivação no romance, maduramente explicitada por Bakhtin, demonstrou que o eu é muito mais que um objeto temático. É sabido que o que chamamos hoje de “autobiografia”, por exemplo, não se deu sempre dessa forma. No Iluminismo, o limite entre ficção e não ficção já se torna fronteiriço: quem é Jean-Jacques e quem é Rousseau? Encontramos, atualmente, uma considerável quantidade de diários, cadernos de apontamentos, confissões, memórias, souvenirs e ensaios com afinidades temáticas e estilísticas com o Livro do desassossego, de Fernando Pessoa. Essa obra, uma autobiografia sem fatos, atribuída a Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros da cidade de Lisboa, pode ser tomada como ponto de partida e ao mesmo tempo referência para a delimitação de uma linhagem literária que insiste em apresentar certa “potência do não” como cerne da experiência literária. Escritos que veementemente colocam em questão a dificuldade de se realizar a 3 Em Literatura, defesa do atrito, há um instigante ensaio sobre a necessidade de se ter uma consciência da importância da crítica da cultura como compreensão distanciada, como adverte Bourdieu. A autora alerta que o termo “cultura” tem sido, muitas vezes equivocadamente, utilizado como sinônimo de “produção literária”. Em uma ampla análise, pondera sobre o uso insistente dos pastiches na contemporaneidade, sobre a proliferação de escritos íntimos e de memórias que cultuam a personalidade envoltos nos mais estéreis jogos narcísicos. Nessa homogeneização, entretanto, esquecem que “enquanto experiência, que nada tem de pessoal nem impessoal, a literatura ignora os limites estreitos da unicidade do sujeito e dá a experiência a natureza de uma multiplicidade incontrolável, em devir” (LOPES, 2003, p. 31). Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 185‐192, jul./dez. 2010. 190 obra e de se criar uma imagem identitária, que estabelecem uma estreita relação entre negatividade, linguagem e construção subjetiva. Seria interessante, assim, investigar mais detalhadamente o que vem a ser a noção aristotélica de que toda possibilidade é também potência do não. Toda potência de ser ou de fazer qualquer coisa é, para Aristóteles lido por Giorgio Agamben, também potência de não ser ou de não fazer, porque senão a potência sempre se transformaria em ato e sempre se confundiria com ele. O pensador italiano negrita, então, como a “potência do não” é o segredo cardeal da doutrina aristotélica.4 Daí se entende todo o volteio do pensamento: é nessa constelação filosófica (que inclui também os leitores árabes de Aristóteles, Abulafia, Avicenna, Ibn-Arabi) que se encontra a literatura de Melville, que se encontra Bartleby, o copista, e, segundo a hipótese que gostaria de levantar, é que se encontraria o ajudante de guarda-livros da cidade de Lisboa, Bernardo Soares. Sabemos que Helder estabelece com Pessoa um diálogo estreito. Na antologia Eloi Lelia Doura, de sua autoria, Pessoa é uma das “vozes comunicantes”. O caráter de inacabamento das obras, de interrupção e cesura, a disposição ensaística, a recusa na exibição de uma voz em primeira pessoa como um retrato definido de um personagem, a heterogeneidade genológica, todos esses elementos presentes tanto em Pessoa quanto em Helder, em diferentes graus e tonalidades, servem para demonstrar como ambos se interessam pela experimentação diante da escrita do eu. Como pontua Diana Pimentel (2007, p. 122), é fulcral na leitura da obra helderiana “alargar o conceito de ‘biografia’ ao de ‘vida’”. Há marcas biográficas, no entanto a primeira pessoa não se propõe a testemunhar referencialmente nada. Para concluir, necessário marcar como opera-se um desvio de temporalidade nessa escrita contínua e nos retratos fugazes que, cinematograficamente, se colocam em movimento numa “incontrolável gramática sonhadora”, como diz Helder (1995, p. 23), no fragmento intitulado “(apostila insular)”: 4 O crítico italiano admite a dificuldade que é pensar a potência, e completa: “uma experiência da potência enquanto tal só é possível se a potência for sempre também potência do não (fazer ou pensar alguma coisa)”. E mais para frente acrescenta: “Se Bartleby renuncia ao condicional, é só porque lhe interessa eliminar todo o vestígio do verbo querer, mesmo até no seu uso modal” (Agamben, 2008, p. 19-25). Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 185‐192, jul./dez. 2010. 191 O passado, a memória, a experiência constituem esse fundo de irrealidade que, semelhante a um feixe luminoso, aclara este momento de agora, revela como ele é cheio de surpresa, como já se destina à memória e é já essa incontrolável gramática sonhadora. Porque: Le volonté pourrait délirer, mais l’incontrôlable rétablit toujours le cours de l’irrealité poétique (Ribemont-Desaignes). È como este sistema de imagens fundamentais, onde se vão enxertando novas constelações de outros lucros de experiência, que se enfrentam as hipóteses do mundo. O imaginário, sempre aberto e crescente, apodera-se de todas essas hipóteses reais e converte-as na muito astuta e operante realidade do imaginário. O mundo acaba por ser uma matéria residual inactiva, aquilo que não pôde ser integrado na coerência energética do espírito. É quando o mundo já não consegue propor hipóteses que inquietem, movam, comovam. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AGAMBEN, Giorgio. Bartleby: escrita da potência. “Bartleby, ou Da Contingência” seguido de Bartleby, O Escrivão de Herman Melville. Edição de Giorgio Agamben e Pedro A.H. Paixão. Lisboa: Assírio&Alvim, 2007 a. BENJAMIN, Walter. “A imagem de Proust”. Obras escolhidas. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura.Tradução de Sérgio Paulo Rouanet; prefácio de Jeanne Marie Gagnebin. 7 ed. São Paulo: Brasiliense: 1994. HELDER, Herberto. Photomaton & vox. 3 ed. Lisboa: Assírio & Alvim, 1995. LOPES, Silvina Rodrigues. Literatura, defesa do atrito. Lisboa: Vendaval, 2003. LOPES, Silvina Rodrigues. “Investigações poéticas do terror”. Diacrítica- Revista do Centro de Estudos Humanos. Série Ciências da Literatura. Número 23/3. Universidade do Minho, 2009. http:// ceh.ilch.uminho.pt. Acesso em 27 de setembro de 2010. PIMENTEL, Diana. Ver a voz, ler o rosto. Uma polaróide de Herberto Helder. Autores da Madeira. Ensaios. 2007. Campo das Letras –Editores, S.A., 2007. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 185‐192, jul./dez. 2010. 192 ESPAÇOS DAS SUBJETIVIDADES CONTEMPORÂNEAS: o novo território das biografias – Resenha do livro O espaço biográfico, de Leonor Arfuch Marta Francisco de Oliveira1 A memória é costureira, e costureira caprichosa. A memória faz a sua agulha correr para dentro e para fora, para cima e para baixo, para cá e para lá. Não sabemos o que vem em seguida, o que virá depois. Assim, o ato mais vulgar do mundo, como o de sentar-se a uma mesa e aproximar o tinteiro, pode agitar mil fragmentos díspares, ora iluminados, ora em sombra, pendentes, oscilantes, e revirando-se como a roupa branca de uma família de quatorze pessoas, numa corda ao vento. WOOLF. Orlando, p. 44. Para os atuais estudos de Literatura, os Estudos Culturais tornaram-se uma referência para análises que encaram o texto como sendo, também, um produto cultural. A crítica biográfica, inserida que está nos Estudos Culturais, privilegia o não-ficcional da mesma forma que o ficcional, unindo-os para se obter uma visão mais completa da obra literária, visto que pode criar pontes entre obra e fatos, incluídos fatos culturais. Seus desdobramentos são múltiplos, visto que o interesse por seu objeto de estudo, os relatos de vida, individuais e sociais, tornou-se mais intenso, ultrapassando os limites do mero interesse pelo privado, para chegar até a mídia e à ampla exposição da intimidade como temos visto na atualidade. Tema vigoroso nos estudos mais recentes que abarcam várias áreas do conhecimento, a subjetividade expressa através das biografias – relatos de vida, baseados na memória, memória caprichosa, conforme a epígrafe - que se tornou foco das 1 Marta Francisco de Oliveira é professora da UFMS/CPCX. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 193‐202, jul./dez. 2010. pesquisas da professora Leonor Arfuch, compartilhadas com o público leitor através da publicação de O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea (EdUERJ, 2010, 368 páginas). Embora a primeira edição, argentina, seja de 2002, a tradução brasileira apenas foi publicada em 2010. Apesar do atraso, é oportuna a publicação em língua portuguesa para uma leitura mais atenta, visto a obra ser considerada referência bibliográfica para uma ampla variedade de estudiosos, nas áreas de Letras e Linguística, Comunicação, Estudos Culturais, Artes, Ciências Sociais, História e Educação. Além disso, é relevante o fato de que a obra, nestes oito anos, recebeu ampla divulgação em todo o continente latino-americano. Podemos considerar, portanto, que esta continuará sendo uma obra de referência para pesquisadores no campo dos estudos que abarcam a cultura, e mais especificamente a biografia, relacionados à literatura e às linguagens. No campo literário, os postulados da crítica biográfica consideram que muito da ficção está pautada no social, em elementos de vivência, o que permite dizer que as personagens ficcionais são na realidade desdobramentos da própria persona social e culturalmente modelada que se torna escritora. De acordo com o que postula Eneida Maria de Souza, a crítica biográfica permite que se expandam as formas de interpretação da literatura, visto que ao analisar a complexa relação entre obra e autor, e ao deixar de concentrar-se apenas na produção ficcional para também englobar a produção documental, a crítica biográfica constrói “pontes metafóricas entre o fato e a ficção”, o que resulta no deslocamento do “lugar exclusivo da literatura como corpus de análise e expande o feixe das relações culturais”.2 A crítica biográfica recompõe o cenário literário e cultural do escritor, principalmente através dos “biografemas”, ou fragmentos de biografia, no conceito de Roland Barthes. Fatos de experiência tornam-se uma representação do vivido ao se integrarem ao texto ficcional, deixando de serem considerados como um registro fidedigno de um relato de vida. Dessa forma de representação do vivido resultaram, segundo Souza, os grandes temas existenciais da literatura, como suicídio, morte, amor, entre outros; temas estes que “guardam 2 SOUZA. Crítica cult, p. 111. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 193‐202, jul./dez. 2010. 194 sua natureza ficcional e se espraiam na página aberta do espaço textual e nos interstícios criados pelo jogo ambivalente da arte e do referente biográfico”.3 Por se considerar a vida como texto e cenário representativo no qual as personagens aparecem como figurantes, “o exercício da crítica biográfica irá certamente responder pela necessidade de diálogo entre a teoria literária, a crítica cultural e a literatura comparada, ressaltando o poder ficcional da teoria e a força teórica inserida em toda ficção”.4 Seguindo esta linha, convém observar que o escritor pode muitas vezes adotar um certo bovarismo, (conforme aprendemos com Gustave Flaubert, para projetar-se no outro, mesclando a sinceridade e a artificialidade da criação) e, através da literatura, unir experiências pessoais a experiências criadas ficcionalmente na construção de uma rede imaginária em seu texto. O trabalho da crítica, ou mais precisamente do crítico biográfico, é o de apropriação não só da vida como também da ficção, utilizando-se das margens do texto ficcional, que são também um texto, buscando as relações estabelecidas entre eles e recontextualizando a obra, de modo que esta seja tomada como aberta, móvel, uma citação que pode retornar sempre a si mesma, para reler-se, rever-se. Vai além do texto e além da vida, entrelaçando-os para interpretar o texto biográfico. A obra O espaço biográfico – Dilemas da subjetividade contemporânea, portanto, preocupa-se com os elementos que compõem a vida e a própria experiência tomados como tematização para a cultura contemporânea da subjetividade, cultura esta que extrapola as formas mais antigas de relatos ‘do que aconteceu’, para abarcar o horizonte midiático e interativo da atualidade. Como um convite à leitura, nossa proposta é fazer uma pequena síntese de alguns elementos abarcados nesta extensa obra que reflete o trabalho minucioso de investigação da autora. Já na apresentação do livro, a autora fala dos infinitos matizes da narrativa vivencial, que captam a atenção das ciências sociais, cada vez mais voltados para o sujeito como ator social, e também a atenção do mercado, ávido por novidades lucrativas, atento ao interesse de um crescente público pela intimidade e subjetividade do outro. Como resultado, o antes tido como particular pode 3 SOUZA. Crítica cult, p. 119. 4 SOUZA. Crítica cult, p. 119-120. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 193‐202, jul./dez. 2010. 195 converter-se em um “relato de todos”, em um espaço amplo, heterogêneo e híbrido, com seus inúmeros desdobramentos. O espaço biográfico, visto como ponto de partida para uma possível compreensão de todo o vasto território do bios (vida) e seus relatos, expandidos às novas tecnologias, envereda-se por entre gêneros literários diversos e múltiplos, colocando em cena o “eu” e o “outro”. Para traçar os caminhos do tema, Leonor Arfuch procura situar a conformação do espaço da interioridade, do privado, numa dimensão histórica, recuando no tempo em busca de práticas de escrita de si e do outro, e sua relação com as questões sociais relevantes para o chamado processo de civilização, conforme o compreendemos atualmente, em O espaço biográfico: mapa do território. Uma vez iniciado, o exercício da escrita do privado ampliou seu espaço de atuação e desdobrou-se em uma grande variedade de relatos e registros que vão desde as formas clássicas às mais modernas formas de exposição e visibilidade da esfera do íntimo, para compor a moderna narrativa vivencial. As considerações sobre os trabalhos de Barthes, Lejeune e Gadamer são essenciais para a compreensão da ideia de totalidade da vida em tais relatos; embora autobiográficos, dão-nos conta do além de si de cada vida particular. Essa característica, portanto, pode ajudar a elucidar o interesse que o tema da biografia, da violação do privado, tem despertado ao longo dos anos, renovando-se na contemporaneidade. Biografia, autobiografia e outras formas de expor a memória ou a vivência conformam-se como uma construção imaginária de si mesmo como outro, na expressão de Ricoeur. Biógrafo, biografado, leitores, todos se aproximam mais pela narração da vida em si do que pela ordenação de fatos sobre a vida de outro; pautada em Bakhtin, essa ideia remete ao valor biográfico de compreensão, visão e expressão da própria vida, para outorgar sentido à experiência, à vivência fragmentária e caótica da identidade. Aparentemente, o espaço biográfico é infinitamente amplo; é, portanto, o lugar onde congregam diversas memórias individuais e coletivas, relatadas de formas tão diversas que extrapolam todos os limites do que pode abarcar a literatura, bem como outros campos do saber. São narrativas de vida em circulação nos mais variados gêneros, nas quais se percebem tanto a intertextualidade como a interdiscursividade, em praticamente todas as formas de registro, que ajudam a caracterizar o (amplo) cenário cultural do qual são oriundas. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 193‐202, jul./dez. 2010. 196 Hoje, este espaço rompeu os limites da escrita e da narrativa tradicionais; até mesmo um simples objeto ou outras marcas da vida do autor ou do biografado agregam em si tais relatos, que vão além de sua materialidade. Indo mais além, engloba toda a heterogeneidade dos gêneros discursivos e todas as formas de uso da linguagem, visto que, segundo Lacan, o sujeito tanto advém quanto se constitui nela; ao usá-la para narrar a ou sua subjetividade, em sua construção narrativa, importam as estratégias ficcionais de autorrepresentação empregadas. O interesse por relatos de vida de si ou do outro constitui um desejo que se relaciona à noção de sujeito e identidade; um sujeito não essencial, aberto a múltiplas identificações, constrói a narrativa de sua identidade sobre a caótica flutuação da memória e sobre o arquivamento da mesma, ao mesmo tempo produzindo e registrando a vivência. O segundo capítulo, Entre o público e o privado: contornos da interioridade, a autora se baseia nos estudos de Hannah. Arendt, Jürgen Habermas e Norbert Elias para fazer um exame crítico da esfera do público e do privado, com suas origens no social e no político, traçando a articulação que se estabelece entre o ‘eu’ e o ‘nós’, o interesse pela subjetividade que se expande a todas as esferas do social, tornando-se múltipla. Estabelecem-se modelos de conduta e valores coletivos que conformam a identidade de um indivíduo social, marcado pela interação dialógica e interdependente entre si, como indivíduo, e a sociedade com suas redes de interação e urdiduras marcadas por sua historicidade que preexistem ao sujeito ao mesmo tempo em que se tornam produto de sua relação com outros, tais como a língua, a linguagem. No horizonte contemporâneo, o espaço público e o espaço privado rendemse ao mercado, às novas tecnologias, às transformações políticas e ao novo desenho geográfico mundial, sendo por eles modificados. Como resultado, ocorre a invasão do público no privado e do privado no público, em mútuas interferências e influências. É bastante relevante o ponto de vista da autora sobre como a visibilidade dos meios de comunicação que expõem o público e o privado serve para pensar seu alcance e seus efeitos, no sentido da diferença, da falta, do desejo (individual ou social?) e na resultante ampliação do espaço biográfico. As narrativas do eu concorrem para a constituição de um nós, para a afirmação da subjetividade na intersubjetividade. As narrativas biográficas geram o reconhecimento de uma pluralidade de vozes (para além do individual de cada uma delas, para além da tradição e das novas memórias) que dão conta dos vários espaços públicos e privados coexistentes. A exposição da vida do outro, de sua Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 193‐202, jul./dez. 2010. 197 conduta e comportamento, deu espaço para a criação de um novo gênero/fora do gênero, nem testemunho nem ficção e ambos ao mesmo tempo. E, do ponto de vista político-filosófico, é válido refletir sobre as considerações, talvez infinitas, a partir da ideia de constituição de narrativas plurais que ao passo que falam de um eu, da criação de si, ao mesmo tempo falam de solidariedade e informam sobre outros, sobre a comunidade. Para pensar sobre as narrativas como forma de estruturação da vida e da identidade, e não como simples forma de contar histórias ou experiências de vida, o terceiro capítulo, A vida como narração, é iniciado com a citação de Paul Ricouer: “as vidas humanas precisam e merecem ser contadas”. Vida e linguagem, narração e experiência se influenciam mutuamente, mas a inquietação da temporalidade é uma constante: tempo físico, tempo psíquico, tempo do relato, tempo linguístico. Para o espaço autobiográfico, a presença de vozes na instância atual do relato e nas instâncias de tempos passados (tempo da memória) busca a identidade narrativa, relacionada à história e à experiência no espaço biográfico, e o relato da experiência se torna possível através da temporalidade mediada pela trama. Não se pode, porém, ignorar o jogo duplo que se instaura nas narrativas ao se colocar, lado a lado, fatos de vida e fatos históricos , ou a memória e a ficção. Parece essencial, para mapear o espaço biográfico, identificar, reconhecer, perceber a voz narrativa, que se inscreve através das vozes do relato. Como narração de uma experiência, há um ‘eu’ presente, mas também há um ‘você’, remetendo à instância da leitura, da recepção. A nosso ver, entender a vida como narração talvez exija estabelecer algumas distinções entre formas genéricas do espaço biográfico. Pensar sobre a autobiografia faz refletir sobre como esta propõe um espaço figurativo para um ‘eu’ sempre ambíguo, incerto porque pautado na oscilação entre memória e mímesis, num exercício de autoficção. Quanto à biografia, este é um gênero que apesar da atenção que desperta, também se move sobre o território incerto entre testemunho, romance e relato histórico. Quanto à forma de narrativa, parece impossível fazer a distinção entre um ‘eu’ e o ‘outro’, sujeito e coletividade, sem que ambos exerçam certa medida de influência entre si. Justapostos às formas clássicas de exposição do biográfico, tais como diários íntimos e correspondências de vários tipos e formatos, de caráter mais reservado e de maior profundidade no que se refere ao mergulho na intimidade do ‘eu’, surgem, nos últimos tempos, os meios que permitem que essa troca de correspondências sem regras rígidas, abertas ao improviso, seja tornada pública através da internet. Campo de estudo recente, sem dúvida gera bastante interesse Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 193‐202, jul./dez. 2010. 198 entre estudiosos que se preocupam com a expressão contemporânea da subjetividade e o chão movediço do autêntico e do ficcional nas narrativas da vida. Nestas novas perspectivas quanto ao espaço biográfico, a mídia popularizou novas facetas das práticas autobiográficas e biográficas. O capítulo intitulado Devires biográficos: a entrevista midiática mostra como a entrevista pode agregar em si diversas formas de narrativas da vida, aliando as ideias de voz, de presença, de autenticidade por estar ancorada na palavra dita. Implica, sem dúvida, conceder a voz ao entrevistado para dar rosto e forma às suas histórias de vida. Fruto das indústrias e do mercado cultural, a entrevista permite que a vida seja narrada a várias vozes, no jogo que se estabelece entre entrevistador e entrevistado e no jogo implícito entre o que se diz e o que se quer dizer, ou até mesmo, que não se quer dizer, do qual faz parte o destinatário final da interação. Processo com múltiplos desdobramentos, na entrevista estão incluídas intenções que podem ir dando pistas das marcas da trama discursiva. Atribuir a palavra diretamente a alguém cria o efeito de vida real, de presença, nos espaços abertos pelos turnos de intervenção, nem sempre respeitados nos sistemas conversacionais. A voz que se instaura e que narra estabelece uma estranha relação com a temporalidade, nem sempre linear, e com as outras vozes que se mostram na construção do discurso, no espaço sempre compartilhado das histórias (possíveis) de vida. Os relatos dão conta do ser comum, da infância, das afetividades, de uma verdade hipotética e esquiva, que atrai e impregna a cultura contemporânea. No contexto literário, as narrativas da vida dos escritores seduzem os leitores tanto quanto as obras. Em Vidas de Escritores, o foco torna-se a relação entre imaginação e vida a serviço da ficção, ou da própria literatura. Para Leonor Arfuch, o território biográfico privilegiado que a entrevista conquistou foi o dos escritores, teóricos, críticos, intelectuais que, atuando com a palavra, podem inventar vidas e obras. No entanto, o exercício da escrita exige a presença de outra voz como suplemento. As entrevistas apresentadas neste capítulo mostram a estreita relação vida/obra que tanto interessa à crítica biográfica, conforme destacado no início deste trabalho. Porém relativas ao espaço e ao momento da entrevista, em que um autor se assume como objeto de conhecimento e constrói uma imagem de si mesmo através de sua própria voz e com base em seu trabalho de autoria, ao assumir um texto com seu nome. Muitas vezes o diálogo estabelecido na entrevista tenta ir além do dito para buscar o que está oculto sob o Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 193‐202, jul./dez. 2010. 199 material da imaginação, na trama entre vida e literatura e também no movimento oposto, quando a literatura de certa forma molda a vivência. A entrevista se tece, portanto, como autobiografia. O escritor, como figura central ao emitir sua voz, permite a espiadela sobre sua dupla identidade de autor/leitor, sobre a ‘cena da escrita’, ou o trabalho de composição, e sobre a ‘cena da leitura’, que revela não só as bases (explícitas ou escamoteadas) de suas leituras como também do leitor que (nem) sempre projeta durante a criação de seu texto. No entanto, assim como um leitor mais atento pode perceber os ardis empregados pelo escritor ao tecer ao seu texto ficcional com base em sua vivência, também o destinatário da entrevista pode perceber os mistérios da criação ao ver personificada a voz que fala de suas memórias, de gestos cotidianos, da gênese de sua escrita, enfim, do relato ou da narração do ‘eu’, e percebê-los como uma ‘vida artificial’, como a criação de outro texto ficcional que lhe fala de outros registros do conhecer, de outras buscas, outras formas de saber. Os dois últimos capítulos conversam mais diretamente com as ciências sociais, interessadas que estão nos questionamentos sobre esse vasto território e sobre o trabalho obstinado da pergunta. Em O espaço biográfico nas ciências sociais, a entrevista aparece como indagação sobre a voz do outro, num diálogo que se converte em pesquisa. O ato de perguntar ganha relevância. Como afirma o crítico e escritor Silviano Santiago, a pergunta traduz o desejo de intelectualizar a problemática que ela levanta, para perceber de modo conceitual o objeto questionado. E, na resposta, quem perguntou pretende fazer do objeto analisado um objeto de conhecimento, um objeto cultural. No espaço biográfico, isso implica fazer da vida um objeto cultural. O interesse pelas formas tradicionais de deixar que outra voz se pronuncie agora divide espaço com os relatos midiáticos, de homens e mulheres comuns ao lado de celebridades, políticos, escritores, expondo o privado aos olhos do público, ou expondo a misteriosa relação entre vida e obra em usos de âmbito científico. O percurso crítico feito pela autora mostra como o dar voz ao outro implica a questão quanto ao que fazer com essa voz, num trabalho que visa colocar em foco o caráter narrativo e construído da experiência. Oralidade e escrita, nos relatos de vida e no registro da experiência, convertem-se em um trabalho amplo com a própria linguagem, em toda sua complexidade dialógica e existencial, Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 193‐202, jul./dez. 2010. 200 necessários para o exercício da interpretação. São relatos polifônicos e multiculturais, marcados por um eu ao mesmo tempo em que dão conta do discurso alheio, no jogo da linguagem e na trama da narrativa. A enunciação, portanto, também é produzida de acordo com certos interesses e intenções, desejos e faltas, num discurso que se constrói no devir atual do diálogo; é nesse momento de montagem através da narração que a vida ganhará forma e sentido, e a identidade ganhará seus contornos. Nessa trajetória pelo espaço biográfico através de relatos da experiência, o último capítulo apresenta uma série de entrevistas biográficas sobre emigração de argentinos, a maioria com dupla cidadania, à Itália, entre 1991 e 1993. As vozes que narram suas histórias falam de deslocamento, de identidade em conflito quando há a dúvida quanto ao lugar de pertencimento. O registro de uma memória biográfica foi montado através da voz do outro, ou seja, não dos emigrantes, mas dos familiares, o que resultou numa construção discursiva bastante interessante a respeito do ausente e, mais além, a respeito da identidade. Nos relatos, assim como nas entrevistas de escritores, a narrativa se faz aqui e agora, e o destinatário está inserido e é levado em conta através da presença do entrevistador, sugerindo a participação imaginária do público na construção biográfica. O valor da narrativa da experiência, como constituinte do espaço biográfico, está, portanto, na exaltação do ter vivido, ou na exaltação da própria vida. Discurso uno que se torna múltiplo, por permitir a ilusória inclusão do nós nos relatos de vida, o espaço biográfico se expande e redesenha os dilemas da subjetividade contemporânea, no movediço território que separa/aproxima vida e vida contada/criada/desejada. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ARFUCH, Leonor. O espaço biográfico: contemporânea. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010. dilemas da subjetividade CEVASCO, Maria Elisa. Dez lições sobre Estudos Culturais. Boitempo Editorial: São Paulo, 2003. NOLASCO, Edgar Cézar. Restos de ficção. São Paulo: Annablume, 2004. SANTIAGO, Silviano. Nas malhas da letra. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 193‐202, jul./dez. 2010. 201 SARLO, Beatriz. Cenas da vida pós-moderna: intelectuais, arte e vídeo-política na Argentina. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997. SOUZA, Eneida Maria de. Crítica cult. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. WOOLF, Virginia. Orlando. Trad. Cecília Meireles. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 10 ed., 1978. 202 Cadernos de estudos culturais, Campo Grande, MS, v. 1, p. 193‐202, jul./dez. 2010. SOBRE A PRÓXIMA EDIÇÃO Editor, Editores Assistentes & Comissão Organizadora Informamos que o n. 5 dos Cadernos de Estudos Culturais, a sair no primeiro semestre de 2011, cuja temática é Subalternidade, já se encontra em fase de preparação. Para tanto, intelectuais nacionais e internacionais, principalmente aqueles que têm suas pesquisas voltadas para a crítica subalternista ou crítica cultural, foram convidados para contribuir com a temática em pauta. Subalternidade procurará pontuar o papel e lugar da guinada crítica que privilegia a questão atinente aos subalternos e sua inserção na cultura hegemônica que impera no Brasil, na América Latina, no pensamento ocidental e fora dele. Além do Grupo Subalternista Asiático, o Grupo Latino-Americano de Subalternistas vem acentuando a importância de tais estudos dentro e fora da Academia. 204