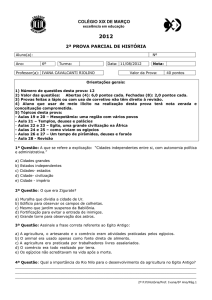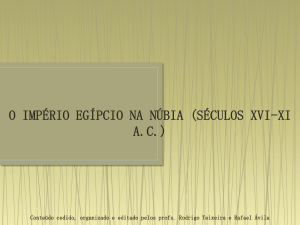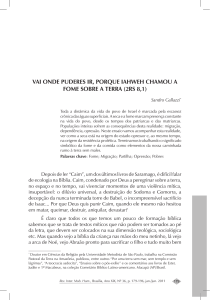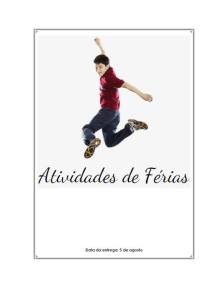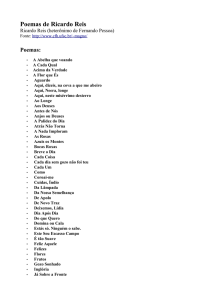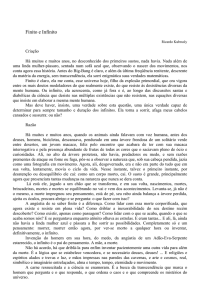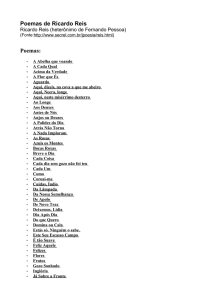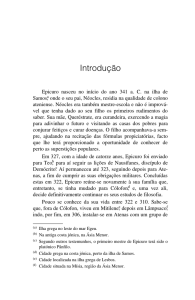O faraó Akhenaton e nossos contemporâneos Ciro Flamarion Cardoso (Universidade Federal Fluminense) 1. Prolegômenos Esta palestra tratará de mostrar, por um lado, as diferenças entre o Akhenaton da Egiptologia e aquele da egiptomania − ou melhor, das diferentes modalidades de egiptomania, conducentes a diferentes apropriações do faraó que podem ser até mesmo opostas umas às outras, como se nota, por exemplo, ao se comparar o Akhenaton negro dos Black Studies estadunidenses a um Akhenaton branco, cuja doutrina teria raízes “arianas” derivadas do Mitanni por via materna (e, em última análise, da Atlântida), teoria egiptológica adotada com matizes racistas pelos descendentes espirituais de Helena Blavatsky (alguns dos quais abertamente nazistas). Mas também que, no caso deste faraó ainda mais do que no tocante a outras personalidades do antigo Egito, mesmo no interior dos escritos propriamente egiptológicos com freqüência não está ausente boa dose de egiptomania, caso esta seja definida como apropriação e reinterpretação de elementos da cultura egípcia, ressignificados e aos quais novos usos são destinados no mundo contemporâneo. 2. O Akhenaton da Egiptologia: estará a egiptomania de todo ausente? Ao preparar recentemente um artigo para livro coletivo organizado pela professora Margaret Bakos, reli dois romances de uma autora inglesa, Norma Lorimer: A wife out of Egypt (Uma esposa oriunda do Egito), publicado em 1913, e There was a king in Egypt (Houve um rei no Egito), publicado em 1918. A ação tinha lugar no Egito do início do século passado. Mas o espectro do faraó Akhenaton (1352-1336 a.C.) aparecia com grande proeminência, influindo positivamente na vida dos protagonistas e até mesmo encarregando um deles de uma missão espiritual num mundo que atravessava, naquela ocasião, as agruras da Primeira Guerra Mundial. No primeiro livro, Stella, uma egípcia descendente de sírios e armênios e educada na Inglaterra, refere-se àquele antigo rei do Egito como uma pessoa muito além das outras de sua época, alguém “que tentou derrubar os deuses dos sacerdotes de Amon e ensinar àqueles nascidos no Egito, mais de mil anos antes da vinda de Cristo, quase as mesmas crenças religiosas e a moral que as pessoas de mente ampla e intelectualizadas estão aceitando hoje em dia no mundo” (p. 70). Em ambos os romances, ao falar, Akhenaton mistura 2 frases dos hinos ao Sol cuja autoria lhe é verossimilmente atribuída com expressões muçulmanas e outras do Antigo Testamento. Esses romances (que, aliás, são bastante interessantes e avançados para a época, já que criticam a fundo o colonialismo e o racismo), como tantos outros dedicados ao faraó herege, sem dúvida o soberano do antigo Egito que mais aparece em obras modernas de ficção − mas também como muitas obras saídas da pluma de especialistas, isto é, de egiptólogos consagrados por seus pares −, adotam uma visão decididamente modernizada do faraó Akhenaton. Esse é um dos problemas maiores que dificultam uma apreciação adequada do que foi empreendido pelo rei. Empreendido, entendamo-nos, num contexto especificamente egípcio, o da segunda metade do século XIV a.C., que nada tinha de hebraico, cristão ou muçulmano. Não ajuda em absoluto a interpretação considerar Akhenaton como um proto-Moisés, proto-Cristo ou proto-Maomé. O outro problema maior foi que, uma vez abandonada a reforma de que foi protagonista, empreendeu-se, com auge no início da XIXa dinastia (começo do século XIII a.C.), algumas décadas após o fim do reinado do faraó herético, uma sistemática destruição dos textos e monumentos da época conhecida como período de Amarna (do nome moderno do lugar onde o rei construiu uma nova cidade régia, Akhetaton), o que resultou em lacunas insanáveis na documentação de que possamos dispor. Uma documentação muito lacunar, coisa comum em História Antiga, costuma favorecer grande diversidade de interpretações, sobretudo em se tratando de uma figura como Akhenaton. Já que vamos discutir, nesta parte inicial, o que é com freqüência descrito como um embate entre monoteísmo e politeísmo no antigo Egito, convém que esclareçamos os próprios termos. À primeira vista, nada poderia ser mais claro: o politeísmo consiste na crença em muitos deuses, objetos de culto; e o monoteísmo é a crença exclusiva num único ser divino, concentrando-se o culto exclusivamente em tal divindade. Vendo as coisas mais de perto, entretanto, a situação se torna bem mais complicada do que parece. Em primeiro lugar porque, nos ambientes culturais marcados pelas grandes religiões monoteístas da atualidade, como o cristianismo e o islamismo, “politeísmo” é muitas vezes termo pejorativo, carregado de preconceitos derivados de acreditar-se numa superioridade inerente, intrínseca, do monoteísmo. Preconceitos a que muitos egiptólogos não eram imunes. Alguns chegam a explicitar abertamente sua convicção de haver grandes semelhanças da religião egípcia − por trás de uma fachada 3 politeísta enganosa − com o cristianismo. É o caso de Christiane Desroches-Noblecourt e de François Daumas (Amour de la vie et sens du divin dans l’Égypte ancienne. Cognac: Fata Morgana, 1998. Col. “Hermès”): este último faz, por exemplo, um paralelo absolutamente anacrônico entre o texto egípcio Reflexões de um desesperado com a segunda epístola aos coríntios do apóstolo cristão Paulo. Existem, também, numerosos autores esotéricos que, no entanto, se disfarçam por trás de um aparato de erudição aparentemente egiptológico, mas o fazem para dizer coisas absurdas, segundo eles presentes em textos e imagens egípcios, na verdade produto unicamente de suas próprias elucubrações, levando-os a distorcer sua leitura dos dados antigos. É o caso de Isha Schwaller de Lubicz e seus discípulos. Assim, no tocante ao já referido texto egípcio, também conhecido como Diálogo de um desesperado com seu ba, Bika Reed (Rebel in the soul: A dialogue between doubt and mystical knowledge. Rochester [Vermont]: Inner Tradition International, 1987), “traduzindo” o referido documento, pretende estar corrigindo “inconsistências” segundo ela presentes nas traduções anteriores, feitas por egiptólogos, a partir de sua convicção − não demonstrada − de tratar-se de um “texto iniciático”. Outro exemplo de escrito que mescla elementos autênticos de Egiptologia com especulações esotéricas que os egípcios antigos não reconheceriam deve-se também a uma discípula de Schwaller de Lubicz, Lucie Lamy (Egyptian mysteries: New light on ancient knowledge. London: Thames and Hudson, 1981. A respeito do Livro de Amduat e outras composições funerárias do Reino Novo (segunda metade do segundo milênio a.C.), lemos no escrito de Lamy (p. 63) que “a regeneração do Sol ocorre devido ao fluxo de correntes espirais que precipitam e coagulam incessantemente a substância cósmica impalpável”. Voltando à pretensa superioridade do monoteísmo, para dar um exemplo do mundo atual, uma religião de alta espiritualidade, o hinduísmo, a mais antiga dentre as ainda vigentes, é, no entanto, politeísta. Aliás, é inexato pensar que, entre o politeísmo e o monoteísmo, inexistam situações intermediárias, quando houve, no que nos interessa, no próprio Egito antigo, tanto a monolatria (concentração de um fiel ou de uma tendência religiosa num único deus, sem negar que existam outros) quanto o henoteísmo (assimilação ou síntese de diversos deuses em favor de um deles: assim, hinos do culto do deus Amon-Ra de Tebas declaravam ser o deus Ra, de Heliópolis, a face de Amon, e o deus Ptah, de Mênfis, o seu corpo − sem que, por isso, Ra e Ptah deixassem de ver-se também como deuses distintos, cada um com seu culto). Por último, considerar uma 4 religião como monoteísta pode ser questão de opinião. Muitos judeus e muçulmanos, já que suas religiões centram-se num Deus único absolutamente indivisível, não aceitam que o cristianismo seja de fato monoteísta, pois vêem um politeísmo disfarçado na doutrina cristã da Trindade de Deus (o Pai, o Filho e o Espírito Santo). No Egito antigo, outrossim, num texto sobre a criação do mundo contido no Papiro Bremner-Rhind, em que o deus solar criador toma a palavra, ao relatar ele como criou o primeiro casal de deuses, Shu e Tefnut, por si mesmo, sem participação de uma deusa consorte (pois não existiam, então, outras divindades que não o criador), lemos o seguinte: “Depois que vim a ser como um só deus, havia três deuses no tocante a mim”. Isto é, embora Shu e Tefnut − deuses andróginos em suas atribuições como eram todas as divindades primordiais egípcias − fossem por um lado divindades diferentes do Sol (que era seu pai e sua mãe ao mesmo tempo), o conjunto formado pelo criador solar Atum-Ra, Shu e Tefnut podia também considerar-se, por outro lado, como uma divindade única, posto que Shu e Tefnut não passavam de uma projeção ou extensão da substância do deus criador solar que os gerou por si mesmo, como é implicado pela passagem que citamos. O último ponto mencionado é, sobretudo, de interesse central para nosso tema, pois, em especial durante os primeiros oito anos do reinado de Akhenaton, ele e sua esposa Nefertíti, nas representações religiosas, foram sistematicamente assimilados ao casal divino Shu e Tefnut, dos quais o deus Aton (colocado no lugar de Atum-Ra) era o pai e a mãe. Decidir se, neste caso, temos três deuses ou um único deus contendo três pessoas consubstanciais − o que permitiria falar em monoteísmo, já que Akhenaton considerava serem os demais deuses do Egito “somente estátuas criadas pelos humanos e, como elas, efêmeros, ao contrário daquele deus que criou a si mesmo”, como cosnta de uma inscrição infelizmente incompleta − é, no fundo, questão de interpretação. Incidentalmente, esta iniciativa religiosa de Amarna explica a ausência de imagens divinas para o culto nos templos e capelas dedicados ao Aton e à família real: o rei e a rainha, vivos ou representados nos relevos, eram objeto de culto juntamente com o deus Aton (simbolizado, bem abstratamente, por um disco solar cujos raios terminam em mãos que abençoam e concedem a vida ao casal monárquico e à sua família − e só a eles); e, em forma literal, funcionavam como se fossem eles mesmos imagens a serem cultuadas; além disto, o próprio Sol penetrava nos templos amarnianos sem teto, apropriando-se, mediante seus raios, das oferendas do culto em forma imediata, direta. 5 Quando o faraó Kamés, da XVIIa dinastia (século XVI a.C.), decidiu formar o primeiro exército e frota de guerra profissionais que o Egito conhecera para atacar os hicsos, asiáticos que haviam invadido o país e governavam ao norte, no Delta do Nilo, cobrando tributo às terras egípcias mais meriodionais, declarou ter recebido pessoalmente do deus Amon-Ra de Tebas, seu pai, o símbolo da guerra (uma cimitarra). Assim, ao regressar, vitorioso, à sua capital tebana, consagrou oferendas a Amon em ação de graças. Até o reinado de Akhenaton, ao longo da dinastia seguinte, com a qual começa em meados do século XVI a.C. o período imperial egípcio, mediante conquistas militares que permitiram estabelecer um domínio direto dos egípcios sobre a Núbia, ao sul do Egito, e seu protetorado sobre a Síria-Palestina, era invariavelmente a Amon-Ra, o deus patrono da dinastia imperial, que se atribuíam em última análise as vitórias militares egípcias, que ele garantia ao faraó, seu filho. Este último, em troca, o cobria de bens e riquezas e lhe concedia, para trabalhar em seus domínios, multidões de prisioneiros de guerra. Ao mesmo tempo, porém, que crescia a riqueza e o prestígio do deus dinástico, Amon-Ra de Tebas, chamado por exemplo, em alguns casos, a legitimar mediante oráculos certos reinados (por exemplo quando a rainha regente Hatshepsut, no século XV a.C., tomou o poder como faraó, declarando ser filha carnal do deus tebano), também aumentava o grau em que o próprio faraó era considerado, ainda em vida, uma grande divindade: durante a XVIIIa dinastia era freqüente representar-se o rei prestando culto à sua própria estátua. O pai de Akhenaton, Amenhotep III (1391-1353 a.C.), multiplicou imagens gigantescas de si mesmo e da sua rainha, Tiy, ao que se crê, para tratar de incentivar a adoração de sua pessoa e de sua consorte pelos súditos. Como seu pai, Thotmés IV, também tomou iniciativas a favor do culto solar da cidade de Heliópolis, perto de Mênfis, e em especial do Aton, uma forma do deus solar de que começamos a ver representações desde o século anterior (século XV a.C.). Este modo de agir, que também foi posteriormente o de Ramsés II (1279-1213 a.C.), da XIXa dinastia − isto é, multiplicar iniciativas religiosas régias ao lado do prestigioso AmonRa sem, no entanto, voltar-se contra ele e seus privilégios −, teve bastante sucesso. A reforma de Akhenaton, bem mais radical em seu caráter, sobretudo na sua fase final, foi efêmera. Tratava-se, não de uma nova religião, mas da simplificação radical da religião egípcia, há muito fortemente solarizada. De início construindo para seu deus, o Aton, em Tebas, a cidade de Amon, depois, no sexto ano de seu reinado, deu início à construção em ritmo acelerado de uma nova cidade régia, Akhetaton, a meio caminho entre Tebas e Mênfis, num território não consagrado, até então, a outra divindade. Isto 6 parece indicar de parte de Akhenaton, de início, uma monolatria, não um verdadeiro monoteísmo. Lá, o rei construiu templos à modalidade de divindade solar que viera a adotar em caráter exclusivo e considerava seu pai, o Aton, que se manifesta como a luz do disco do Sol. Note-se que nem por isso o monarca renunciou ao seu próprio caráter divino: vimos que ele e sua rainha, Nefertíti, apareciam como Shu e Tefnut, filhos consubstanciais do Aton, portanto, dificilmente diferenciáveis deste e certamente divinos. A criação da nova cidade régia, da nova Residência, como os egípcios antigos chamavam cidades assim, bem como, mais tarde, o seu abandono, têm sido tradicionalmente descritos como episódios vinculados a uma reação liderada pelos sacerdotes de Amon. Não há, porém, documentação convincente a favor dessa interpretação. É, aliás, um flagrante anacronismo transportar para o antigo Egito algo parecido com as lutas típicas da Idade Média ocidental entre papas e imperadores, entre poder espiritual e poder temporal − dicotomias nada egípcias. Nas estelas inscritas com que marcou os limites físicos de sua nova cidade ao instalar-se nela, Akhenaton só menciona terem ocorrido palavras a seu ver ofensivas, mas não, qualquer ação rebelde. No antigo Egito, só o rei podia construir templos e era sacerdote por direito próprio. Assim, quando Akhenaton por fim se voltou contra o culto de Amon-Ra de Tebas e − limitadamente − contra outros cultos divinos tradicionais, martelando os nomes das divindades e mesmo a palavra plural “deuses”, numa atitude que, agora sim, a partir do seu nono ano de reinado, parecia mais próxima do monoteísmo, não há qualquer sinal de ter ocorrido uma rebelião. Ele tinha pleno direito de fechar santuários se quisesse, confiscando seus domínios, já que dele dependiam. E o fato de fazê-lo não significava de modo algum que o “desemprego” atingisse o corpo sacerdotal e outros servidores dos deuses, os quais se veriam simplesmente atribuir novas funções no culto conjunto ao Aton e ao próprio rei e sua família, ou, alternativamente, outros cargos estatais. Akhenaton e sua família, na religião de Amarna, aparecem como a única via de acesso ao Aton e à vida eterna: é por este caráter de mediadores entre homens e deuses que o Aton só estende ao rei e aos seus familiares o signo da vida: cabia ao faraó comunicar a dádiva aos egípcios em geral. Isto não era de fato novo: em resposta ao culto diário, em teoria sempre exercido pelo faraó em cada templo, é às narinas reais que os deuses tradicionais estendiam signos de vida, poder e estabilidade: dando-os ao rei em caráter direto, os estavam dando indieretamente, por mediação sua, ao Egito 7 como um todo. Na época de Amarna, desaparecem oficialmente Osíris e os outros deuses ligados à existência depois da morte: tudo agora depende do Aton, por mediação faraônica, destinando-se os numerosíssimos altares ao ar livre dos templos de Amarna a aprovisionar não somente o Sol quanto os mortos; e só o rei “conhece” cabalmente o seu pai Aton e seus desígnios, podendo, portanto, comunicá-los e explicá-los aos súditos tanto egípcios quanto estrangeiros. Não há sinais de verdadeira resistência, resistência ativa, contra a reforma. Parece ter ocorrido, porém, que as novas concepções religiosas, apesar da beleza poética dos hinos atribuídos a Akhenaton e à graciosidade da arte amarniana, não tiveram verdadeira difusão fora de Akhetaton. O reinado de Akhenaton durou menos de duas décadas e só alguns santuários dedicados ao Aton foram de fato construídos, em poucas cidades do Egito e da Núbia. A reforma concentrara excessivamente as coisas no rei, na família real e em Akhetaton, a nova cidade régia, eliminara a forma mítica habitual de referir-se ao mundo divino, substituindo-a por uma linguagem poética de fundo naturalista que insistia na bondade do Aton que renovava, a cada nascer do Sol, a criação do mundo e do próprio rei, seu filho; e talvez a nova vida eterna, desprovida dos mitos tradicionais, parecesse muito abstrata e pouco convincente a muitos egípcios. A volta à ortodoxia religiosa, tendo ao centro Amon-Ra e seu santuário tebano de Karnak, fez-se, ela também, sem qualquer reação, pouco após a morte do rei, sob seu genro (provavelmente também seu filho) Tutankhamon (1336-1327 a.C.). O centro do poder e da administração situou-se por algum tempo em Mênfis. Akhetaton foi aos poucos desertada e depredada. O culto ao Aton se manteve ainda por algumas décadas, mal provido da possibilidade de tomar novas iniciativas, bem como de recursos, até o início do século XIII a.C., quando foi de todo erradicado sob Séty I. Foi quando se começou a falar retrospectivamente de Akhenaton como “o criminoso de Akhetaton”. Em suma, a reforma foi uma experiência radical mas fugaz, cedo abandonada. O que acabamos de resumir não parece remeter em forma alguma aos futuros judaísmo, cristianismo e islamismo, o que não impediu que muitos egiptólogos assim inclinados fizessem tais correlações, como afirmei. 3. A egiptomania disfarçada de estudo acadêmico autêntico: o exemplo da apropriação do faraó Akhenaton pelos Black Studies dos Estados Unidos Vimos que a egiptomania consiste na apropriação e reinterpretação de elementos da cultura egípcia, ressignificados e aos quais novos usos são destinados no mundo 8 contemporâneo. Ela tem sempre laços, visíveis ou menos visíveis, com a Egiptologia. Mas, às vezes, ela se disfarça de Egiptologia. Quero dizer que uma atitude ou enfoque de fato vinculada à egiptomania como a defini pode caracterizar escritos que assumem uma aparência acadêmica, por exemplo usando na superfície as normas habitualmente empregadas em obras de especialistas autênticos para notas e citações. O exemplo que escolhi será abordado a partir sobretudo do exame de um livro e um capítulo em livro coletivo. O livro é: DRAKE, St.Clair. Black folk here and there: An essay in history and anthropology. Los Angeles: Center for Afro-American Studies, University of California, 1987. Para começar, note-se o título que dá a impressão de que o livro se situe no âmbito das ciências humanas e sociais, bem como a caução dada ao texto do autor por uma universidade conceituada. E, no entanto, trata-se de texto situado a léguas de distância do que se possa considerar um escrito seriamente acadêmico, como se verá. Dado o tema da palestra, concentrar-nos-emos nas considerações de Drake sobre o período de Amarna (pp. 206-217: “The Akhenaten interlude”). Esta parte do livro começa com opiniões de diversos autores sobre o faraó herege, no sentido de mostrar que quase sempre lhe atribuem enorme importância como personagem da História. E já aí começamos a perceber coisas estranhas no que, à primeira vista, poderia parecer um livro acadêmico. Ao lado de egiptólogos autênticos − James Henry Breasted, Cyril Aldred, Christiane Desroches-Noblecourt e vários outros − aparecem citados, em pé de igualdade: um charlatão como Immanuel Velikovsky (chamado de “psicanalista e estudioso de folclore”); Chancellor Williams, da Howard University, que nunca foi egiptólogo, cujo livro mencionado chama-se The destruction of black civilization, e para o qual “Akhenaton foi a maior figura espiritual individual a aparecer na História dos negros”; um grande admirador de Akhenaton, Joel A. Rogers, apresentado pelo próprio Drake como “um mulato das Antilhas” e “um historiador autodidata da Jamaica”, e, para citar só mais um, o Dr. Yosef ben-Jochannan, autor de Black man’s religion, o qual era conferencista muito popular nos programas do que nos Estados Unidos se chama de Black Studies, nas quais apresentava Alhenaton como um precursor de Jesus Cristo. Ou seja, a forma pode parecer acadêmica à primeira vista, mas a parte do livro relativa a Akhenaton (como o resto do longo capítulo sobre o antigo Egito) mistura alhos com bugalhos ao escolher o que cita − e, no caso dos egiptólogos, como os cita. Pois o que é interessa a Drake é “provar” que os antigos egípcios eram 9 negros e, em função disso, classifica os egiptólogos de acordo com suas posições a respeito, além de usar argumentos curiosos, por exemplo o de que a rainha Tiy seria facilmente reconhecida como possível parente por negros estadunidenses atuais. Por que, nessa ordem de idéias, reivindicar com tanta energia Akhenaton como integrante da História dos Negros? Trata-se do que se conhece como “vontade de descender” ou “aquisição de poder mediante genealogia” − “descendência” (entendida como uma apropriação pseudohistórica de personagens ilustres e feitos a eles atribuídos) e “genealogia”, no mesmo sentido metafórico, hagiográficas e míticas, claro está.1 O Prof. Dominic Montserrat conta que, após uma conferência em que expôs a falta de bases sólidas da teoria relativa ao homossexualismo de Akhenaton e Smenkhkara, foi interpelado por pessoa do público que o acusou de “preconceito heterossexual”.2 Neste caso, a vontade de descender tinha a ver com o Gay pride. Em circunstâncias assim, para pessoas com tal tipo de engajamento (mesmo se forem professores universitários), que se danem as fontes! Quem quer saber de fontes e outras coisas igualmente irrelevantes, se está em jogo um elemento apropriado, seja pelo Black pride, seja pelo Gay pride?! Tratava-se, na época, nada mais, nada menos do que um programa, delineado pelo intelectual africano Cheikh Anta Diop. Na capa traseira do volume que contém o outro item (capítulo em livro coletivo) que vou examinar, consta um texto seu em que afirma: Para nós, a volta ao Egito em todos os domínios é a condição necessária para reconciliar a civilização africana com a História, para reconstruir as ciências humanas modernas e ser capaz de renovar a cultura africana. (...) O Egito desempenhará o mesmo papel no repensamento e na renovação da cultura africana que as antigas Grécia e Roma desempenham na cultura ocidental. Num contexto destes, o estudo do antigo Egito é um meio para um fim, importando muito pouco por si mesmo. Pela mesma razão, os critérios acadêmicos vão para o espaço e nos encontramos plenamente no interior da egiptomania, não da Egiptologia. Assim, no livro coletivo onde está incluído o capítulo a que nos referiremos a seguir − proveniente, com os escritos da antologia, das comunicações apresentadas a um seminário sobre “As civilizações do vale do Nilo” reunido em setembro de 1984, em Atlanta −, numa carta aos leitores inserida no início do volume, Leroy Keith Jr., Presidente do Morehouse College de Atlanta, que sediara o evento, tem 10 a dizer que este havia demonstrado, concentrando-se no antigo Egito, que a contribuição negro-africana foi a mais original e a mais decisiva em: aeronáutica, agricultura, arquitetura, astronomia, calendários, pedagogia, engenharia, ética, linguagem, Direito, literatura, Física, religião, tecnologia e escrita. Não à toa, um dos primeiros capítulos do livro, redigido pelo organizador, Ivan van Sertima, intitula-se “African civilizations as cornerstone for the Oikoumene”. Do livro ora examinado consta a comunicação apresentada ao simpósio de Atlanta por Legrand A. Clegg Jr. (“The black rulers of the Golden Age”. In: Ivan van Sertima [org.]. Nile Valley civilizations. Atlanta: Morehouse College Edition, 1985, pp. 47-68). O que achamos aqui sobre Akhenaton e seus familiares? A mesma atitude “metodológica” diante dos egiptólogos, as mesmas citações, lado ao lado e no mesmo pé que tais egiptólogos, de autores vinculados aos Black Studies estadunidenses, muitos deles professores universitários, mas desprovidos de credenciais egiptológicas autênticas, a mesma tortura a que os testemunhos textuais e iconográficos são sistematicamente submetidos, o mesmo farisaísmo do enfoque (por exemplo: no tocante às representações, aquelas que apresentam os egípcios com pele escura são consideradas realistas, enquanto, ao aparecerem nelas com peles claras, trata-se de pura convenção...), os mesmíssimos argumentos, incluindo a afirmação de que, na atualidade, cada domingo pela manhã, é possível ver equivalentes modernas da rainha Tiy entrando orgulhosamente nas igrejas negras dos Estados Unidos... Note-se que o problema não tem a ver propriamente com a hipótese de Tiy, Akhenaton e outros famosos egípcios da Antiguidade terem sido negros. É bem possível que o tenham sido, ainda mais sendo Tiy filha de um casal proveniente do extremo sul do Egito, embora eu ache isso irrelevante. Trata-se da atitude, inaceitável academicamente, diante dos dados disponíveis ao querer comprovar a hipótese mencionada. E também de serem muito mais relevantes, para o Egito eminentemente africano pelo qual anseiam autores como os que estamos citando, os vínculos indubitáveis das culturas pré-históricas e a seguir proto-históricas do Sul egípcio, que deram origem à História do Egito unificado, com as culturas do que eram para os egípcios Wawat e Kush, para os cristãos muito posteriores, a Núbia. Isto me parece bem mais relevante do que a cor da pele, num país norte-africano situado na encruzilhada da Ásia com a África e amplamente aberto ao Mediterrâneo, no qual, na Antiguidade como hoje em dia, tínhamos muito provavelmente, a julgar pelos dados disponíveis, pessoas de pele mais clara e também mais baixas ao norte, pessoas de alta estatura e pele negra 11 ao sul, bem semelhantes aos nilóticos atuais do Sudão, além disto, imigrantes recentes tanto da Núbia quanto da Ásia em grande quantidade em certas épocas − e, em geral, uma grande heterogeneidade de aparências físicas e cores de pele. Esta heterogeneidade, aliás, interessava aos artistas egípcios do Reino Novo, mas sem que manifestassem qualquer preconceito racial. Um núbio integrado à sociedade egípcia, por exemplo como guerreiro ou funcionário, receberia exatamente o mesmo tratamento dado a um egípcio de mesma situação social; e, se dipusesse dos recursos necessários, teria uma tumba equipada à maneira do Egito para a vida eterna. Entretanto, seus traços físicos característicos seriam de grande interesse, pela variedade e o pitoresco que trariam às representações, para pintores e escultores egípcios: estes estariam apreciando, e não, depreciando a diferença assim introduzida nas figuras. Do mesmo modo, a ideologia oficial separava estritamente os estrangeiros não-submetidos, rebeldes ao faraó cósmico do Egito, e aqueles integrados ao Império. Os primeiros são agentes do caos, do mesmo modo que o seriam egípcios do norte e do sul quando rebeldes (as representações dos inimigos do rei do Egito, os “Nove arcos”, podiam incluir egípcios), ou seja, não se percebia a coisa de um ângulo racial; quanto aos estrangeiros governados pelo Egito e que não se rebelassem, os textos e imagens do Reino Novo mostram que podiam contar com a benevolência dos deuses egípcios e que, coletivamente, apareciam nas tumbas dos faraós como tendo direito à vida eterna. Vamos voltar, porém, a Akhenaton. Por que, entre os negros estadunidenses, uma tal insistência em transformar tal faraó, especificamente, num ancestral, num investimento que data dos últimos anos do século XIX e que assumiu uma força muito maior no século XX? As razões para tal têm a ver com determinadas noções sobre esse faraó, em especial na versão cristalizada por Arthur Weigall em 1910 e 1936. Akhenaton nela aparecia como um internacionalista anti-racista, um idealista religioso para o qual o Aton seria igualmente benfazejo para todos os povos e raças, e − o que já tinha sido afirmado anteriormente por outros autores − um precursor do monoteísmo. Weigall e outros autores sublinharam, igualmente, a grande importância das mulheres da família real: Tiy (a mãe de Akhenaton), a esposa real, Nefertiti, e as filhas do casal. Na apropriação afrocêntrica deste rei, várias coisas pareciam relevantes ao movimento negro norte-americano. Em primeiro lugar, a proeminência entre eles dos ensinamentos 12 de Elijah Muhammad, nascido Elijah Poole (e não tinha o próprio Akhenaton mudado Vê-se, à esquerda, o rosto do faraó Akhenaton representado como um negro, à direita, Maomé, igualmennte negro. Acima e abaixo de uma diminuta Nefertiti (negra igualmente), no extremo esquerdo da figura, uma inscrição em egípcio duvidoso traduzse, aproximadamente, como: “O ódio é o que Deus gosta de ouvir, e deverias viver plenamente em Seu nome.” Excusado dizer que tal frase nada tem a ver com o pensamento religioso de Amarna. Referência: MONTSERRAT, Dominic. Akhenaten: History, fantasy and ancient Egypt. London-New York: Routledge, 2000, p. 117. Associação Nacional para a Promoção das Pessoas de Cor e sua revista da década de 1920, the Crisis. Na visão de Du Bois, que seguia as idéias de James Henry Breasted acerca de Akhenaton como “o primeiro indivíduo da História”, o faraó e seu reinado foram o apogeu do antigo Egito, devido ao seu universalismo humanitário, seu pacifismo, suas virtudes domésticas, suas inovações artísticas. Naturalmente, Du Bois separava-se de Breasted quanto ao fato deste último considerar Akhenaton como tendo sido branco. Note-se que, para os numerosos membros do movimento negro que permaneciam cristãos, o faraó multiuso poderia ser objeto de outra apropriação ainda. Na coletânea organizada por van Sertima, já mencionada, temos o artigo de Charles S. Finch (“The Kemetic concept of christianity”, pp. 179-200), o cristianismo teria derivado diretamente dos essênios do Mar Morto; e estes, do ensino de Jeshu van Pandera, que vivera longamente no Egito. Naturalmente, as bases documentais 13 invocadas por Finch são absolutamente incríveis. É verdade que ele prefere uma origem egípcia vinculada ao mito de Osíris para o cristianismo via essênios. Mas também é possível manter a vinculação Egito/essênios/cristianismo propondo o faraó Akhenaton como ancestral, em sua qualidade de “fundador do monoteísmo”. 4. Akhenaton e algumas das correntes esotéricas contemporâneas No relativo às correntes esotéricas do final do século XIX e do século XX, a atitude para como Akhenaton foi bastante variável. Existem posturas esotéricas que o adotam, ou mais exatamente se apropriam dele à sua maneira; e as que o ignoram de todo, ou quase de todo. A primeira posição pode ser ilustrada tomando como exemplo a linhagem espiritual de uma das criadoras da teosofia, Helena Petrovna Blavatsky (18311891). A segunda aparece na linha que foi iniciada por René Adolphe Schwaller de Lubicz (1887-1961). Blavatsky tinha a dizer coisas como a seguinte, em passagem de 1888 (apud Dominic Montserrat. Akhenaten: History, fantasy and ancient Egypt. London-New York: Routledge, 2000, p. 124): Enquanto os materialistas tudo negam no universo salvo a matéria, os arqueólogos estão tentando diminuir a estatura da Antiguidade, buscando destruir todas as pretensões a uma sabedoria antiga mediante uma falsificação da cronologia. Nossos orientalistas e escritores de História atuais estão para a História antiga como os cupins para os edifícios da Índia. Ainda mais perigosos do que estes térmitas, os arqueólogos modernos − as “autoridades” do futuro no tocante à História universal − preparam para a História das nações passadas o destino de certas edificações em países tropicais. (...) Os fatos históricos permanecerão como que ocultados pelas inextricáveis florestas das hipóteses modernas, das negativas e do ceticismo. Assim, contradizendo os arqueólogos de sua época, ela atribuía às pirâmides do Egito uma antigüidade de 73 mil anos e acreditava que haviam sido construídas por seres excepcionais, mais que humanos, do continente perdido da Atlântida. Os antigos egípcios seriam descendentes dos atlantes, fazendo a ponte entre a sabedoria de tal continente desaparecido e as épocas posteriores. Os centros espirituais do mundo − Egito, Índia, Tibete, México antigo, etc. − participariam todos do mesmo saber ancestral derivado da Atlântida. Como diz Montserrat, o ponto de partida já é, em si, racista: teria existido uma raça de seres superiores, verdadeiros e únicos criadores de toda a civilização. A humanidade posterior, quando não permaneceu fiel a essa criação 14 ancestral, levou à degeneração. Neste contexto, não faltaram autores para considerar Akhenaton como um remanescente da Atlântida (ou, às vezes, como um extraterrestre). Alguns dos continuadores de Blavatsky no século XX eram abertamente racistas, como por exemplo Mona Rolfe, que escreveu na década de 1920, para a qual o Egito de Akhenaton estava povoado por três raças diferentes: os Filhos do Alento, os Filhos da Centelha Vital e os Povos do Sul. Os Filhos do Alento, uma raça superior, eram brancos e de olhos azuis, e Akhenaton era um deles. Os Filhos da Centelha Vital eram servidores dos primeiros, de pele mais escura, nitidamente inferiores. E os Povos do Sul − habitantes da Núbia − eram negros, de cérebros pequenos, primitivos, com uma fala subdesenvolvida. Só o primeiro grupo teria sido responsável pelos aspectos positivos e espirituais da civilização egípcia. Outro exemplo é uma escritora nazista, a francesa de origem anglo-grega Maximiani Portas, que assinava Savitri Devi (1905-1982), a qual, no limiar do que se conhece como New Age, escreveu (em 1948) uma peça de teatro cujo protagonista, o faraó Akhenaton, aparece como um super-homem nietzscheano cujo reinado ideal e feliz foi destruído por homens inferiores. Outro dos livros da autora sobre Akhenaton, de 1958, é dedicado à memória de Adolf Hitler, para ela “o Indivíduo semelhante a um deus de nossos tempos, o homem que se contrapôs ao Tempo, o maior europeu de todos os tempos, Sol e Raio simultaneamente”. E Devi foi uma das primeiras pessoas a apresentar o Holocausto como pura invenção. Numa espécie de neopaganismo, via Akhenaton como uma alternativa ao cristianismo por seu culto solar segundo ela “ariano” − como teria sido o próprio faraó, para ela pelo menos três quartos ariano. Pelo contrário, a linha esotérica derivada de Schwaller de Lubicz ignora Akhenaton, já que sua versão da sabedoria deriva de uma interpretação tortuosa dos mitos de Osíris e daqueles da trajetória do Sol, durante a noite, no mundo subterrâneo daquele deus. De Lubicz, após ter residido no Egito durante oito anos, baseou muitas de suas noções numa interpretação esotérica dos templos da região tebana, dos quais propôs uma leitura mística e simbólica que valorizava o politeísmo dos antigos egípcios. Ora, Akhenaton fechou tais templos e deixou de lado as concepções osirianas do outro mundo: como, então, apreciar um faraó que se opôs às próprias bases do que, para aquele esotérico e seus discípulos, seria uma iniciação e metamorfose pessoal? 15 Conclusão O Akhenaton dos esotéricos é como o albergue espanhol de que falam os franceses, no qual cada um come o que trouxer consigo. Há versões do rei para todos os recortes e variantes de esoterismo que se desejar. E os que continuem afirmando um misticismo judaico-crsitão “renovado” sempre poderão achar que Moisés foi criado e instruído na corte amarniana; ou que, como vimos, o cristianismo de algum modo veio do Egito e, portanto, teve algo a ver, em suas origens, com Akhenaton ... Quanto ao Akhenaton dos Black Studies radicais, é um precursor das causas mais apreciadas do movimento de afirmação negra, da assim chamada atitude “afrocêntrica” em oposição à “eurocêntrica”. Em todos estes casos, a Egiptologia é quando muito usada como pretexto, em empresas claramente situadas no campo da egiptomania − como uma coleção de informações de que se tomam, isolando-os, alguns elementos (fortemente deformados, às vezes muito defasados se vistos contra o pano de fundo dos avanços egiptológicos), enquanto outros são decididamente esquecidos ou negados. Notas: 1 HOLLINGER, D. A. Postethnic America: Beyond multiculturalism. New York: Basic Books, 1995, p. 126. O primeiro autor a claramente postular um Akhenaton homossexual foi Percy Newberry, um dos escavadores de Amarna com Petrie: NEWBERRY, Percy E. “Akhenaten’s eldest son-in-law ‘Ankhkheprure’ ”. The Journal of Egyptian Archaeology (London). 14, 1928, pp. 3-9 (ver a p. 7). 2 Para este episódio e, mais em geral, para considerações extremamente divertidas sobre as “sexualidades” atribuídas em diferentes épocas e veículos culturais aos personagens de Amarna, ver MONTSERRAT, Dominic. Akhenaten: History, fantasy and ancient Egypt. London-New York: Routledge, 2000, pp. 168-82.